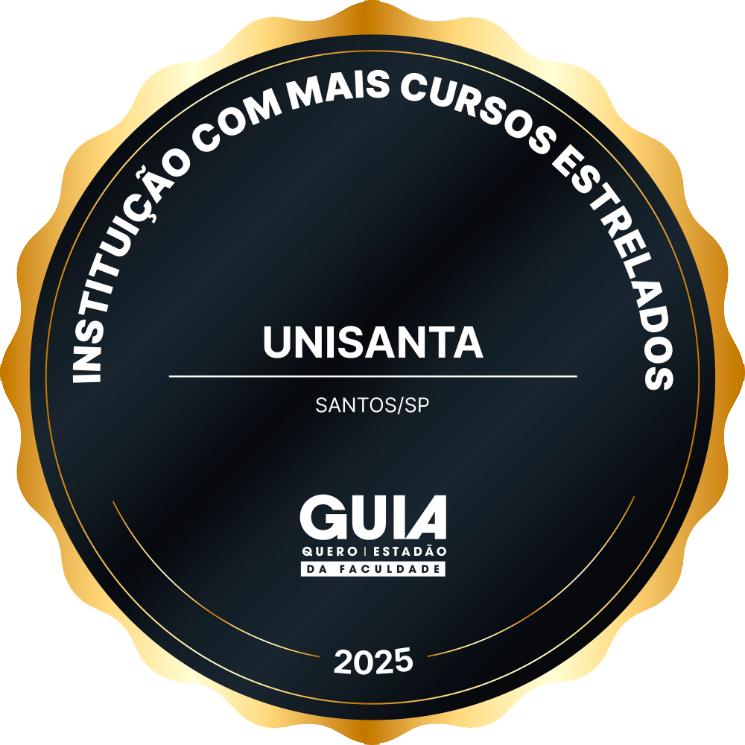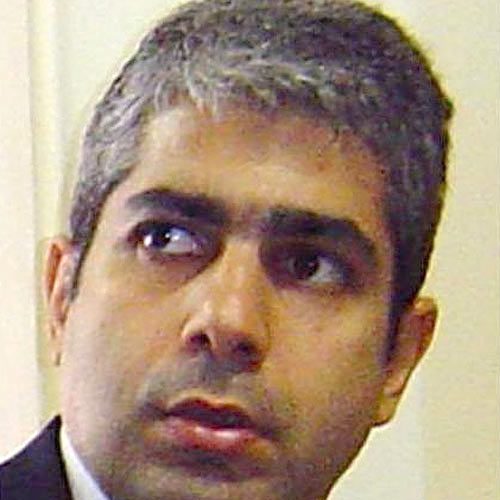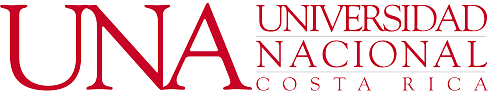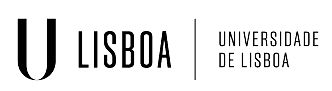Direito da Saúde
Sobre o Programa
Pós-Graduação em Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas - área de concentração Direito da Saúde
O Programa de Pós-Graduação em Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas, com a área de concentração “Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas”, será responsável pela retomada da discussão e reflexão crítica do planejamento da saúde. Historicamente, existem duas posições sobre a saúde. De um lado, os que defendem o planejamento da saúde pelo Estado, com alta capacidade de intervenção no domínio social para a consecução deste fim. De outro lado, a corrente que entende a saúde como um serviço (privado) que atende a um direito individual. É nesse contexto que a proposta da área de concentração em Direito da Saúde se insere, propondo a reflexão e a avaliação crítica dos dois grandes modelos da atualidade: a saúde como um serviço público, prestado de forma universal a todos, sem qualquer natureza securitária; a saúde como um serviço autorregulável segundo as leis de mercado, cabendo ao Estado não fornecer, mas sim regular a saúde no Brasil.
Formato presencial/ híbrido – Todas as aulas e atividades são realizadas de forma presencial, mas podem ser assistidas on-line (ao vivo), o que proporciona aos estudantes flexibilidade e interatividade. Essa modalidade permite que os alunos acessem conteúdo de alta qualidade de qualquer lugar e participem de debates e troca de ideias em tempo real, com orientação e feedback imediatos dos professores.
Conheça o Observatório dos Direitos do Migrante
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em “Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas”
O Regimento do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em “Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas” estabelece as regras básicas dos possíveis cursos que podem ser oferecidos dentro do Programa, isto é: Mestrado e Doutorado em Direito.
Objetivos
A missão ou objetivo geral do programa de pós-graduação stricto sensu em Direito da Saúde é o de “realizar o desenvolvimento teórico, metodológico e operacional necessário para esse novo ramo do saber, o Direito da saúde”.
Os objetivos específicos (desdobramento lógicos e necessários do objetivo geral) do programa são os seguintes:
– O objetivo PEDAGÓGICO – possibilitar ao graduado, em nível superior, condições de desenvolver estudos aprofundados e de natureza científica que possibilitem os discentes adquirirem o domínio crítico dos instrumentos conceituais, metodológicos e operacionais essenciais do direito da saúde, qualificando-o para atuar na docência, na pesquisa e como profissional especializado na área;
– O objetivo SOCIAL – contribuir para as soluções dos problemas públicos e sociais da saúde no Brasil, para o planejamento da transformação da saúde em sua dimensão ampliada (incluindo os determinantes sociais e ambientais), mediante a formação de professores, pesquisadores e profissionais capazes de compreender o fenômeno social da saúde e de intervir na realidade;
– O objetivo JURÍDICO – construir alternativas para incrementar a efetividade do Direito da Saúde, o sistema de garantias desse direito instituído em nosso arcabouço jurídico, seja sob o aspecto material, seja sob o aspecto processual.
Os objetivos do programa alinham-se, por outro lado, com o projeto internacional desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Esse alinhamento, notadamente do objetivo específico social, fez o programa de Mestrado em Direito da Saúde ser reconhecido internacionalmente como um projeto de impacto acadêmico. Razão pela qual produtos do Mestrado em Direito da Saúde conta com o SELO UNAI (United Nations Academic Impact).
Público-Alvo
Podem cursar o mestrado em “Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas” os portadores de diplomas de nível superior.
Volta-se especialmente aos graduados em Direito vinculados profissionalmente à saúde humana, ambiental ou do trabalho ou que queiram aperfeiçoar-se na área, sejam eles advogados públicos ou privados, analistas ou assessores, delegados, magistrados, procuradores municipais, estaduais ou da República, procuradores ou promotores de justiça, serventuários da justiça.
O programa, que tem em seu bojo a interdisciplinaridade (refletida em sua matriz curricular e na sua equipe docente), volta-se também a todos os profissionais de nível superior vinculados que pretendam aperfeiçoar-se na área, especialmente na gestão pública ou social de serviços de saúde humana, ambiental e do trabalho, sejam administradores, arquitetos, cientistas políticos, economistas, sociólogos, urbanistas, ou profissionais da saúde (assistentes sociais, biólogos, biomédicos, educadores físicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais).
PERFIL DO EGRESSO
O egresso desse programa adquire condições técnico-jurídicas de, como PROFISSIONAIS do Direito – assessores, advogados, consultores, delegados, gestores, magistrados, procuradores, promotores etc. – e de carreiras da saúde – médicos, fisioterapeutas, odontólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, educadores físicos etc. –, como PESQUISADORES (acadêmicos e profissionais) ou como PROFESSORES (atuantes, notadamente, no ensino superior), colaborar e conduzir a efetivação ou a concretização do direito individual e social da saúde, corrigindo a baixa densidade de realidade a que esse direito está afetado.
Essa baixa densidade do direito da saúde advém, de um lado, da falta de conhecimento ou de compreensão de suas variadas dimensões conceituais (que pode ser suprida pelo saber teórico) e de suas variadas dimensões operacionais (que pode ser suprida pelo saber interdisciplinar e transdisciplinar); de outro, pela falta de políticas ou de instrumentais jurídicos eficazes e coercitivos de implementação (que pode ser suprida pelo saber prático); de outro, do não enfrentamento dos problemas específicos que afligem grupamentos sociais vulneráveis e indivíduos singulares (que pode ser suprido pelo engajamento com as pessoas vulnerabilizadas).
O egresso do programa é uma pessoa dotada de um saber teórico, transdisciplinar e prático relacionado ao direito da saúde e engajado com os ideários da transformação democrática da sociedade e da construção da igualdade material (sem deixar ninguém para trás).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
MATRÍCULAS ANTECIPADAS: 25% de desconto na 1ª. parcela (matrícula). Promoção por tempo limitado, sujeita a encerramento sem aviso prévio.
5% de DESCONTO ATÉ O DIA 5 DE CADA MÊS PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES.
DESCONTOS ESPECIAIS
– 20% nas mensalidades para ex-alunos formados de graduação e pós-graduação da Unisanta.
-13% de desconto para antecipação do pagamento total das mensalidades, cumulativos com desconto de pontualidade e outro desconto, caso o aluno possua.
-Descontos para empresas conveniadas, grupo de amigos e outros descontos.
– 50% de desconto para o corpo docente da Unisanta.
*Obs.: Os descontos especiais não são cumulativos, caso o aluno já possua outro benefício.
Direito da Saúde
Presencial
Mensalidades por
Avise-me!
Este curso está com as matrículas encerradas no momento. Preencha seus dados que entraremos em contato quando as matrículas estiverem abertas.
Condições de Pagamento
MATRÍCULAS ANTECIPADAS: 25% de desconto na 1ª. parcela (matrícula). Promoção por tempo limitado, sujeita a encerramento sem aviso prévio.
5% de DESCONTO ATÉ O DIA 5 DE CADA MÊS PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES.
DESCONTOS ESPECIAIS
- 20% nas mensalidades para ex-alunos formados de graduação e pós-graduação da Unisanta.
- 13% de desconto para antecipação do pagamento total das mensalidades, cumulativos com desconto de pontualidade e outro desconto, caso o aluno possua.
- Descontos para empresas conveniadas, grupo de amigos e outros descontos.
- 50% de desconto para o corpo docente da Unisanta.
*Obs.: Os descontos especiais não são cumulativos, caso o aluno já possua outro benefício.
Conheça o nosso corpo docente
Áreas de Concentração
Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas
A área de concentração “DIREITO DA SAÚDE” visa consolidar a autonomia e propiciar o desenvolvimento desse novo ramo do saber jurídico, moldado por um conjunto articulado e complexo de princípios, normas, instituições e métodos que visam:
(1) garantir, promover e proteger o DIREITO humano e fundamental à saúde, tanto nas dimensões individuais, quanto coletivas;
(2) estabelecer os contornos dos DEVERES individuais e coletivos, estatais e privados relacionados à saúde;
(3) regular o acesso, a operacionalização e a efetividade das AÇÕES e dos SERVIÇOS de saúde (assistências individuais ou coletivas, bem como políticas públicas relacionadas à promoção, à proteção, à recuperação ou à reabilitação da saúde e com os cuidados humanitários e paliativos) e dos PRODUTOS de saúde (medicamentos, equipamentos e tecnologias);
(4) regular a busca de condições essenciais e de fatores DETERMINANTES da saúde (políticos, legais, sociais, econômicos e ambientais), correlacionados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
A ação sanitária do Estado (campo enfatizado pelo DIREITO SANITÁRIO, abrangido pelo Direito da saúde) desdobra-se em deveres:
(a) nas obrigações positivas de assistência pública individual e coletiva à saúde;
(b) nas obrigações positivas de regular e fiscalizar o sistema público e privado de assistência à saúde;
(c) nas obrigações positivas de regular e fiscalizar a circulação de serviços e produtos que tem o potencial de prejudicar a saúde;
(d) na obrigação positiva de monitorar os fenômenos de saúde (vigilância sanitária, epidemiológica e do trabalho);
(e) na obrigação positiva de instituir políticas públicas para transformar as condições políticas, legais, sociais, econômicas e ambientais;
(f) na obrigação positiva de integrar a saúde em todas as demais políticas estatais (intersetorialidade).
A proteção do gozo do direito à saúde, tanto em sua dimensão individual quanto coletiva, diante da ação ou omissão do Estado ou da ação ou omissão dos particulares, depende do estabelecimento de REGIMES DE RESPONSABILIDADE pública e privada para a violação de qualquer uma das facetas obrigacionais da saúde.
A proteção do direito à saúde depende também da fixação dos contornos dos deveres de conduta relacionados com a saúde, ou seja, da regulação e fiscalização dos limites e da ética das competências e responsabilidades dos profissionais e das instituições de saúde (campo específico do DIREITO MÉDICO, abrangido pelo Direito da saúde).
De outro lado, os deveres públicos e privados têm de corresponder à realização das dimensões individuais e coletivas do Direito da saúde. Precisam, portanto, respeitar às notas características do direito humano e fundamental à saúde. Em especial, às seguintes: indisponibilidade, precedência, progressividade, universalidade, igualdade (com ênfase para os vulnerabilizados) e interdependência.
Matriz Curricular
A disciplina fornece as informações e os instrumentos metodológicos necessários para a elaboração e adequação dos projetos de mestrado, por meio da discussão e da abordagem das diversas etapas de sua realização. Consiste na realização de tarefas didático-científicas visando à discussão das pesquisas em andamento e ao aprimoramento dos projetos, preparando-os para não só para a qualificação e defesa mas sim, para todas as etapas da vida acadêmica. Busca ainda, ampliar a densidade conceitual e metodológica dos projetos contribuindo para que o aluno domine todas as etapas da produção científica.
BACHELARD, Gaston. Conhecimento Comum e Conhecimento Científico. In: Tempo Brasileiro, nº 28, jan./mar. 1972.
BITTAR, Eduardo C. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática da monografia para os cursos de Direito. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
CUNHA, Luiz Antonio. Estado, Educação e Democracia no Brasil. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 1995.
DEMO, Pedro. Metodologia do Conhecimento Científico. São Paulo: Atlas, 2000.
DEMO, Pedro. Pesquisa e Construção do Conhecimento. São Paulo: Atlas, 2002.
DEMO, Pedro. Pesquisa: Princípio Científico e Educativo. São Paulo: Cortez, 1990.
ECO, Umberto. Como se Faz uma Tese. 18ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2002.
FOUREZ, Gerard. A Construção das Ciências: introdução à filosofia e à ética das ciências. São Paulo: UNESP, 1995.
HABERMAS, Jürgen. Conhecimento e Interesse. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.
JAPIASSU, Hilton. A Revolução Científica Moderna: de Galileu a Newton. São Paulo: Letras e Letras, 1997.
KUHN, Thomas S. A Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo: Perspectiva, 1982.
LOWY, Michael. Ideologia e Ciências Sociais. São Paulo: Cortez, 1986.
MORIN, Edgar. O Problema Epistemológico da Complexidade. Lisboa: Publicações Europa-América, 1996.
WEBER, Max. Metodologia das Ciências Sociais. 1ª e 2ª parte. São Paulo: Cortez e Editora UNICAMP, 1999.
Complementar
ANDRADE, Maria Margarida. Como Preparar Trabalhos para Cursos de Pós-Graduação: noções práticas. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1999.
CALAZANS, Maria Julieta Costa (Org.). Iniciação Científica: construindo o pensamento crítico. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2002.
CARRAHER, David. Senso Crítico. São Paulo: Pioneira, 1999.
CERVO, Arnaldo L.; BERVIAN, Pedro A. Metodologia Científica. 4ª ed. São Paulo: Makron Books, 2002.
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2000.
LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do Trabalho Científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projetos e relatórios, publicações e trabalhos científicos. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.
MATTAR NETO, João Augusto. Metodologia Científica na Era da Informática. São Paulo: Saraiva, 2002.
RANIERI, Nina. Autonomia Universitária. São Paulo: Edusp, 1994.
RANIERI, Nina. Educação Superior, Direito e Estado. São Paulo: Edusp/FAPESP, 2000.
SANTOS, Boaventura de Souza. Um Discurso sobre as Ciências. 8ª ed. Porto/Portugal: Edições Afrontamento, 1996.
Procede a uma reflexão crítica a respeito do Direito, buscando compreender suas bases e seu sentido prático que permita percebê-lo como manifestação social humana, histórica, cultural, vinculada às formas da relação social, produtiva e econômica. Esta reflexão desenvolve-se por meio do estudo da História da Filosofia, fundamentalmente, no mundo contemporâneo, a partir dos seus principais referenciais filosóficos que fazem do Direito um fenômeno transcendente à moral e à ética.
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
ABBAGNANO, Nicola. História da Filosofia. Lisboa: Editorial Presença, 1998.
ALVES, Alaôr Caffé. Estado e Ideologia. São Paulo: Brasiliense, 2002.
BOBBIO, Norberto; BOVERO, M. Sociedade e Estado na Filosofia Política Moderna. São Paulo: Brasiliense, 2003.
BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Brasília: EdUnB, 2003.
CARNOY, Martin. Estado e Teoria Política. Campinas: Papirus, 1998.
FARIA, José Eduardo. Direito e Globalização Econômica. São Paulo: Malheiros, 2001.
FERRAZ JR., Tercio Sampaio. A Ciência do Direito. São Paulo: Atlas, 2002.
FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 2003.
FOUCAULT, Michel. A Verdade e as Formas Jurídicas. Rio de Janeiro: NAU/PUC-RJ, 2003.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 2003.
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Coimbra: Armênio Amado, 2002.
MAMAN, Jeannette Antonios. Fenomenologia Existencial do Direito. São Paulo: Quartier Latin, 2001.
MASCARO, Alysson Leandro. Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2003.
MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do Direito e Filosofia Política – A Justiça é Possível. São Paulo: Atlas, 2004.
NUNES, Benedito. A Filosofia Contemporânea: trajetos iniciais. São Paulo: Ática, 2000.
PEREIRA, Aloysio Ferraz. História da Filosofia do Direito – das origens a Aristóteles. São Paulo: Editora RT, 1995.
PEREIRA, Aloysio. Estado e Direito na Perspectiva da Libertação. São Paulo: RT, 1995.
PEREIRA, Aloysio. O Direito Como Ciência. São Paulo: RT, 1990.
STRECK, Lênio L. Verdade e Consenso. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
VILLEY, Michel. Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 2006.
1. Direito da Saúde Animal
1.1. Histórico do Direitos Animais
1.2. Ética Animal
1.3. Capacidade Processual e Jurídica dos Animais - caso Rambo e Spike
1.4. Leis de Proteção
2. Animal Law
2.1. Argentina
2.2. Portugal
2.3. Itália
2.4. Chile
3. WASH, Alimentação, Nutrição, Vacinação, Documentação, Condições do Corpo do animal não-humano
4. Maus tratos
5. Negligência passiva
6. Necropsia forense e exames toxicológicos
7. Custódia protetiva e perdimento
8. Teoria do link
9. Atuação da imprensa nos casos de maus tratos
10. CASOS DE ESTUDO
10.1.1.1. Búfalas de Brotas - Profa. Esp. Antília Reis
10.1.1.2. Caso Brigitty
10.1.1.3. Caso dos Beagles
10.1.1.4. Caso Mia
10.1.1.5. Caso Schroeder
10.1.1.6. Caso Gol Linhas Aéreas
10.1.1.7. Caso Petshop Quatro Patas
10.1.1.8. Caso gata Themis
10.1.1.9. Caso ferrovia de Lorena
10.1.1.10. Caso Tender
10.1.1.11. Vaquejada
10.1.1.12. Zoológicos, Circos, Aquários, Filmes, Televisão
10.1.1.13. Animais na Guerra da Ucrânia
10.1.1.14. Animais tracionados
10.1.1.15. Zoológicos
10.1.1.16. Farra do Boi
10.1.1.17. Contrabando de animais
Ementa Direito Médico Veterinário
1. História da Medicina Veterinária
2. Medicina Veterinária: conceitos jurídicos
3. Responsabilidade civil do médico veterinário
1. erro de diagnóstico
2. negligência
3. imprudência
4. imperícia
5. toxicologia - Profa.Me.Paula Carpes Victório
6. segredo médico
7. omissão de socorro
8. atestado falso
9. falsificação, adulteração, corrupção de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
10. crimes ambientais
11. Propaganda enganosa
12. Orçamento prévio
4. Contrato médico veterinário
1. Clínico
2. Cirurgião
3. Anestesista
4. Laboratório
5. Petshop
6. Hotel
7. Fazenda de Criação
8. Código de Processo Ético - Profissional
9. Comércio de animais e garantia
10. Medicina paliativa
1. eutanásia
2. ortotanásia
3. perícia médico-veterinária
Peça Prática - Ação Civil Pública em Direito da Saúde dos Animais
A disciplina tem por objetivo proporcionar conhecimento sobre o Direito da Saúde no Direito
Animal e no Direito Médico Veterinário, onde verificaremos estas duas novas áreas do direito da saúde. O Direito
Animal, conhecido na Europa e nos Estados Unidos como Animal Health Law, estuda a relação da saúde dos
animais com as pessoas nas mais diversas áreas e vem ganhando importância, principalmente com a
possibilidade dos animais não humanos serem autores em ações judiciais. Analisaremos ainda o conhecimento
das relações provenientes do Direito Médico Veterinário nos grandes casos de repercussão nacional, como nas
Búfalas de Brotas, Caso dos Beagles, Vaquejada, dentre outros
AGUIAR, Lúcia Frota Pestana de. A Questão Animal e seu Acesso à Justiça: um paradoxo no direito - visão pós humana entre o sagrado e o justo. G Z Editora, 2021.
ALMEIDA SILVA, Tagore Trajano de. Direito Animal e ensino jurídico: formação e autonomia de um saber pós-humanista. Tese de Doutorado em Direito Público. UFBA, 2013.
ATAÍDE JUNIOR, Vicente. Introdução ao Direito Animal Brasileiro. In: Revista Brasileira de Direito Animal, v. 13, n. 3 (2018).
______________________ (coord). Comentários ao Código de Direito e Bem-Estar Animal do Estado da Paraíba. Juruá Editora, 2019.
_______________________. Capacidade Processual dos Animais: a judicialização do direito animal no Brasil. Revista dos Tribunais, 2022.
_______________________. Direito Animal: interlocuções com outros campos do saber jurídico. Editora UFPR, 2022.
AZEVEDO, Maria Cândida Simon. Democracia Animal: os direitos animais - do conflito à reivindicação. Appris Editora, 2020.
BEAUCHAMP, Tom L.; FREY, R.G. The Oxford Handbook of Animal Ethics. Oxford University Press, 2013.
COCHRANE, Alasdair. Should Animals Have Political Rights? Polity, 2020.
COETZEE, J. M. A Vida dos Animais. Companhia das Letras, 1999.
COLTRI, Marcos Vinicius. Comentários ao Código de Ética Médico. 3ª ed. Salvador, Editora Jus Podium, 2020.
CUNHA, Luciano Carlos. Uma Breve Introdução à Ética Animal: desde questões clássicas até o que vem sendo discutido atualmente. Appris Editora, 2021.
DALLARI Jr, José Alfredo. Direito Médico Veterinário. Recanto das Letras, 2021.
DEL-CAMPO, Eduardo Roberto Alcântara. 2ª ed. São Paulo, Saraiva, 2006.
DONALDSON, Sue; KYMLICKA, Will. Zoopolis: a political theory of animal rights. Oxford University Press, 2014.
FAVRE, David S. Animal Law: welfare, interests, and rights. Wolters Kluwer, 2020.
FERREIRA, Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães. A Proteção aos Animais e o Direito: o status jurídico dos animais como sujeitos de direito. Juruá Editora, 2014.
FRANÇA, Genival Veloso de. Direito Médico. 15ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2019.
FRANCIONE, Gary. Introdução aos Direitos dos Animais. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2013.
GAGLIANO, Pablo Stolze. Manual de Direito Civil, Volume único. 6ª ed. Editora Saraiva, 2022.
GALVÃO, Pedro (coord). Os Animais têm Direitos? Dinalivro, 2010.
GIL, Ariana. O Direito do Consumidor na Prestação de Serviço do Médico-Veterinário. Editora Independente, 2020.
JESUS, Carlos Frederico Ramos de. Direitos Animais Entre Pessoas e Coisas: o status moral-jurídico dos animais. Juruá Editora, 2022.
JHONSON, Steven. O mapa fantasma: uma epidemia letal e a epopeia científica que transformou nossas cidades. 1ª ed. Rio de Janeiro, Zhar, 2021.
KARP, Adam P. Understanding Animal Law. Carolina Academic Press, 2016.
MARTINS, Monique Mosca Gonçalves. Dano Animal. Lumen Juris, 2020.
MARTINS, Flávio. Curso de Direito Constitucional. 1ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2017.
MCELDOWNEY, John; GRANT, Wyn; MEDLEY, Graham. The Regulation of Animal Health and Welfare: science, law and policy. Routledge, 2013.
MEDEIROS, Carla de Abreu. Direitos dos Animais: o valor da vida animal à luz do princípio da senciência. Juruá Editora, 2019.
MÓL, Samylla; VENÂNCIO, Renato. A Proteção Jurídica aos Animais no Brasil. FGV Editora, 2019.
NACONECY, Carlos. Ética & Animais: um guia de argumentação filosófica. EdiPUCRS, 2014.
NOGUEIRA, Vânia Marcia Damasceno. Direitos Fundamentais dos Animais: a construção jurídica de uma titularidade para além dos seres humanos. Arraes Editores, 2012.
OTTEMAN, Kris; FIELDER, Linda; LEWIS, Emily. Animal Cruelty Investigations: a collaborative approach from victim to verdict. Wiley Blackwell, 2022.
REGAN, Tom. Jaulas vazias. Porto Alegre, Lugano, 2006.
REGIS, Arthur H. P.; SANTOS, Camila Prado dos (coord.). Direito Animal em Movimento: comentários à jurisprudência do STJ e STF. Juruá Editora, 2021.
RODRIGUES, Danielle Tetu. O Direito & os Animais: uma abordagem ética, filosófica e normativa. Juruá Editora, 2012.
SANTANA, Luciano Rocha; OLIVEIRA, Thiago Pires. Direito da Saúde Animal. Juruá, 2019.
SANTOS, Andreia de Oliveira Bonifácio. A Família Contemporânea Brasileira à Luz do Direito Animal. Lumen Juris, 2019.
SINGER, Peter. Libertação Animal. Editora WMF Martins Fontes, 2010.
SILVA, Juliana Maria Rocha Pinheiro Bezerra. Curso de Direito Animal. Edição da Autora, Natal, 2020.
_________________________. Responsabilidade Civil do Médico Veterinário. Edição da Autora, 2019.
_________________________. Código de Ética do Médico Veterinário Comentado. Clube dos Autores, 2022.
SILVA, Maria Alice. Direitos Animais: fundamentos éticos, políticos e jurídicos. Ed. Ape´Ku, 2020.
SÉGUIN, Elida; BELTRÃO, Sandra (coord.). Direito dos Animais ou o Multiculturalismo e o Direito do Animal Não Humano. G Z Editora, 2018.
STEFANELLI, Lúcia Cristiane Juliato. O Direito em Defesa dos Animais. Lumen Juris, 2021.
RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 4ª ed. São Paulo, Saraiva, 2017.
WAGMAN, Bruce A.; WAISMAN, Sonia S.; FRASCH, Pamela D. Animal Law: cases and materials. Carolina Academic Press, 2019.
WEDY, Gabriel. O princípio constitucional da precaução como instrumento de tutela do meio ambiente.
WISE, Steven M. Rattling the Cage: toward legal rights for animals. Da Capo Press, 2000.
WOLF, Karen Emilia Antoniazzi. Proteção Jurídica do Animal Não Humano: entre cosmopolitismo e cosmopolíticas. Lumen Juris, 2019.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La Pachamama y el Humano. Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 2017.
Bens jurídicos sociais e sua proteção. Crimes contra à saúde pública. Responsabilidade penal e administrativa nas infrações sanitárias. Responsabilização dos Agentes Públicos. Poluição e tutela ambiental penal. Tutela penal dos novos direitos.
BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral da Bioética e do Biodireito. Biomédica. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Direito e medicina: aspectos jurídicos da medicina. Belo Horizonte: Del Rey, 2000.
GOMES, Luiz Flávio; MACIEL, Silvio; Mazzuoli, Valério de Oliveira et al. Crimes ambientais. Comentários à Lei 9.605/98. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
PRADO, Luiz Régis (Coord.). Direito penal contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor José Cerezo Mir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
________. Direito penal do ambiente. 2. ed. São Paulo: RT, 2009.
________. Direito Penal Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
________; TASE, Adel El; ESQUIVEL, Carla Liliane Waldow. Crimes contra a saúde pública: fraude alimentar. Juruá.
________; CARVALHO, Érika Mendes de. Teorias da Imputação Objetiva do Resultado. 2ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.
ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico-penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.
________. A proteção de bens jurídicos como função do direito penal. Tradução de André Luís Callegari e Nereu José Giacomolli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.
SÁ, Maria de Fátima Freire de. (Coord.). Biodireito. Belo Horizonte: Del Rey, 2002.
________.; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. Bioética, biodireito e o código civil de 2002. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.
SMANIO, Gianpaolo Poggio; FABRETTI, Humberto Barrionuevo. Introdução ao direito penal: criminologia, princípios e cidadania. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
SANT’ANNA, Aline Albuquerque. A nova genética e a tutela penal da integridade física. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2001.
A disciplina aborda os instrumentos processuais e extraprocessuais de tutela coletiva, com vistas a solucionar conflitos de interesses difusos e coletivos em relação à saúde. São esmiuçados o Inquérito Civil, o Compromisso de Ajustamento de Conduta, a Ação Civil Pública, a Ação Popular, o Mandado de Segurança Coletivo, o Mandado de Injunção, a Ação Direta de Constitucionalidade (inclusive por Omissão), a Ação Direta de Constitucionalidade e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal Akaoui. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal Akaoui. Jurisdição constitucional e a tutela dos direitos metaindividuais. São Paulo: Verbatim, 2009.
MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
FUX, Luiz. Mandado de segurança. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública. 15. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.
MAZZILLI, Hugo Nigro. O inquérito civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.
Metodologia:
A metodologia utilizada na disciplina consistirá em seminários que serão realizados pelos alunos na primeira parte da aula, seguidos de discussão e exposição do professor acerca do tema da aula objeto do seminário.
Será indicada aos alunos a bibliografia de cada aula, a qual deverá ser lida por todos e apresentada no seminário pelo aluno indicado, sem prejuízo do material suplementar que deverá ser incorporado aos seminários pelos respectivos apresentantes.
Além disso, com vistas ao caráter multidisciplinar do curso, será indicada uma bibliografia complementar, a fim de permitir uma melhor compreensão do tema para aqueles que encontrarem alguma dificuldade.
Critério de avaliação:
A avaliação consistirá na média das notas atribuídas: (1) aos seminários, que terão peso 4 (quatro); (2) à aferição de leitura de textos, que terá peso 2 (dois); (3) ao artigo entregue ao final do curso, que terá peso 4 (quatro).
Para aprovação o aluno deverá alcançar no mínimo a média final 7 (sete).
Além da média final exigida, o aluno deverá ter no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de assiduidade às aulas.
Cronograma de aulas:
Aula 1. Apresentação do curso e introdução à Teoria Geral do Direito
Aula 2. Reflexões sobre a ciência e a prudência jurídica
Aula 3. Direito subjetivo no positivismo jurídico
Aula 4. Direito subjetivo na teoria quântica do direito
Aula 5. As posições jurídicas fundamentais (direito à algo)
Aula 6. Programa normativo, âmbito normativo e concretização prática
Aula 7. Postulados: as normas de segundo grau
Aula 8. Hierarquia de princípios e interpretação especificamente constitucional
Oferecer aos alunos sólido arcabouço técnico-científico a respeito das princiais teorias do direito contemporaneamente difundidas no Brasil, de forma a permitir a identificação do impacto de cada uma delas no Direito à Saúde.
Será disponibilizada em sala de aula.
GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. (pp. 17-42)
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. (pp. 140-162)
TELLES JR., Goffredo. Direito quântico. 8ª ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006. (pp. 327-347)
ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. (pp. 193-217)
MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. (pp. 244-268)
ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008. (pp. 121-141)
GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria da ciência jurídica. São Paulo: Saraiva, 2009. (pp. 148-180)
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito: introdução à teoria geral do direito, à filosofia do direito, à sociologia jurídica e à lógica jurídica. Norma jurídica e aplicação do direito. 20ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1994.
TELLES JR., Goffredo. Iniciação na ciência do direito. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
Seguridade Social: A política social do Estado de Bem-estar denominação, divisão, natureza jurídica. As normas operacionais das políticas de seguridade. A Previdência Social, Assistência Social e Saúde no Brasil. A gestão da seguridade social. Prestações da Previdência Social e Benefícios. Fontes de Custeio: a relação de contributividade e usufruto das políticas. Segurados e Contribuintes da Seguridade Social. Regime Complementar de Previdência.
AFONSO, Luís Eduardo. Um Estudo dos Aspectos Distributivos da Previdência Social no Brasil. Tese (Doutorado em Economia). São Paulo: FEA/USP, 2003.
AITH, Fernando Mussa Abujamra. Teoria Geral do Direito Sanitário Brasileiro – vol. I. Tese (Doutorado em Saúde Pública). USP – Faculdade de Saúde Pública, São Paulo, 2006.
AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez e Escolha – Em Busca de Critérios Jurídicos para Lidar com a Escassez de Recursos e as Decisões Estratégicas. Rio: Renovar, 2000.
ASSIS, Armando de Oliveira. Em Busca de Uma Concepção Moderna de Risco Social. Revista de Direito Social nº 14. São Paulo: Ed. Notadez, 2005.
BEVERIDGE, Lord William. O Plano Beveridge – Relatório sobre o Seguro Social e Serviços Afins (Tradução de Almir de Andrade). Rio de Janeiro: Ed. José Olympio, 1943.
BLASCO LAHOZ, José Francisco, LÓPEZ GANDÍA, Juan e MOMPARLER CARRASCO, Maria Angeles. Curso de Seguridad Social. 13ª Ed. Valencia: Tirant, 2006.
BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004.
BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. Seminário Internacional Sistemas de Seguro Contra Acidentes do Trabalho nas Américas. Brasília, MPAS / SPS 2000.
___________. A Economia Política da Reforma da Previdência. Brasília, MPAS / SPS 2001.
CABRAL, Nazaré da Costa. O Financiamento da Segurança Social e suas Implicações Redistributivas. Lisboa: Associação Portuguesa de Segurança Social, 2001.
CAETANO, Marcelo Abi-Ramia. Determinantes da Sustentabilidade e do Custo Previdenciário: Aspectos Conceituais e Comparações Internacionais (texto para discussão n° 1226). Brasília: IPEA, 2006.
COELHO, Vera Schattan P. (org.). A Reforma da Previdência Social na América Latina. Rio: FGV, 2003.
FERREIRA, Carlos Roberto. Participação das Aposentadorias e Pensões na Desigualdade da Distribuição de Renda no Brasil. Tese (Doutorado em Economia). Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 2003.
FRANÇA, Álvaro Sólon de. A Previdência Social e a Economia dos Municípios. Brasília, DF: ANFIP, 1999.
GARCÍA, Bonilla e GRUAT, J.V. Social Protection: a Life Cycle Continuum Investment for Social Justice, Poverty Reduction and Development. Genebra: OIT, 2003.
GIAMBIAGI, Fábio. Reforma da Previdência. Rio: Campus, 2007.
GOLDANI, Ana Maria. Relações Intergeracionais e Reconstrução do Estado de Bem-Estar. Por Que se Deve Repensar Essa Relação para o Brasil? Disponível em http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/livros/idososalem60/Arq_14_Cap_07.pdf
LINDELL, Christina. Analysis of the Suggested Introduction of Lower Retirement Ages as a Measure Against Unemployment. Finland: The Central Pension Security Institute, FIN-00065 Eläketurvakeskus, 1998.
LÜBKER, Malte. Assessing the Impact of Past Distributional Shifts on Global Poverty Levels. Geneva: OIT, 2002.
NETTO, Juliana Presotto Pereira. A Previdência Social em Reforma – O Desafio da Inclusão de um Maior Número de Trabalhadores. São Paulo: LTr, 2002.
NEVES, Ilídio das. Direito da Segurança Social. Coimbra: Coimbra Editora, 1996.
ROCHA, Daniel Machado da. O Direito Fundamental à Previdência Social – Na Perspectiva dos Princípios Constitucionais Diretivos do Sistema Previdenciário Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.
ROSANVALLON, Pierre. A Crise do Estado-Providência, Goiânia: UNB, 1997.
STEPHANES, Reinhold. Reforma da Previdência. Rio de Janeiro: Record, 1998.
TAVARES, Marcelo Leonardo. Previdência e Assistência Social – Legitimação e Fundamentação Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003.
O direito à saúde - compreendendo a proteção contra toda e qualquer disfunção ou alteração indesejada no plano fisiológico, mental e social, enquanto direito fundamental da personalidade - pode adotar entre outros modos de satisfação o modelo de prestação universal a cargo do Estado ou o modelo de prestação individual mediante contratação.
A disciplina saúde suplementar, contratos e relação e consumo interessase por esta última forma de promoção do direito à saúde, que se qualifica no plano normativo, como relação contratual entre operadores de saúde (Lei 9.656/98) e consumidores, submetidos a um regime jurídico sobre o qual a disciplina pretende refletir.
Tipificada em contratos nominados seguro-saúde e plano de saúde, essa relação jurídica negocial entre particulares subordina-se às normas constitucionais, por efeito direto da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, corolário do reconhecimento da dignidade da pessoa enquanto valor supremo na Constituição Federal.
Subordina-se também aos princípios gerais dos contratos (autonomia da vontade; consensualismo; obrigatoriedade e revisibilidade; supremacia da ordem pública; relatividade dos efeitos) e normas infraconstitucionais como Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso, ECA, notadamente a Lei 9.656/98, além de normas regulatórias.
Este complexo normativo que incide sobre a relação contratual de assistência à saúde será estudado segundo perspectivas metodológicas distintas, com destaque para o diálogo das fontes. Os princípios e cláusulas gerais da transparência, boa fé, equidade (equilíbrio) contratual e confiança legítima, erigidos a partir da visão e fins sociais do contrato nortearão a análise dos elementos, disposições e práticas contratuais no segmento da saúde suplementar, a par dos princípios gerais dos contratos.
A disciplina saúde suplementar, contratos e relação de consumo compõe com a disciplina responsabilidade civil na área da saúde importante núcleo de conhecimentos relacionados aos institutos do direito privado (contratos e responsabilidade civil) que regulam o Direito da Saúde, em sua dimensão individual.
- Conhecer os principais elementos e características dos contratos de seguro-saúde e plano de saúde, suas aproximações e distinção;
- Revisitar os princípios gerais dos contratos e do direito do consumidor e estudar a aplicação desses princípios nos contratos de saúde à luz da sua função social;
- Refletir sobre a cláusula geral da boa-fé, os deveres derivados, os conceitos parcelares e reconhecer os seus reflexos nos contratos de saúde; distinguir boa-fé subjetiva e objetiva;
- Distinguir obrigações de meio e resultado na prestação dos serviços pelos profissionais da saúde e sua relação com o ônus da prova da execução defeituosa dos contratos em direito da saúde;
- Conhecer as principais cláusulas consideradas abusivas nos contratos de saúde.
- Examinar a Lei 9656/98, os dispositivos pertinentes do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e as principais regulações dos contratos de saúde;
- Conhecer a jurisprudência sumulada, com repercussão geral e repetitiva, relativa aos contratos de saúde.
BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor. 6.ed., São Paulo: RT, 2014.
CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2015.
DIAS, Jose de Aguiar. Cláusula de não-indenizar: chamada cláusula de irresponsabilidade. 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1980.
FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Curso de Direito de Saúde Suplementar - Manual Jurídico de Planos e Seguros de Saúde. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense-GEN, 2012.
MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor – o novo regime das relações contratuais. 8. ed., São Paulo: RT, 2016.
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Tomos III, IV, XXII, XXXVIII. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958.
PRATA, Ana. Cláusulas de exclusão e limitação da responsabilidade. Coimbra: Almedina, 1985.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Lesão nos contratos. 6.ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001.
RODRIGUES, Silvio. Dos vícios do consentimento. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1989.
ROPPO, Enzo. O Contrato. São Paulo: Almedina Brasil, 2009.
SCHMITT, Cristiano Heineck. Cláusulas abusivas em contratos de planos e de seguros de assistência privada à saúde. In: Revista de Direito do Consumidor, vol. 75, p. 214–246, jul./set. 2010.
SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório: tutela de confiança e venire contra factum proprium. 4. ed., São Paulo: Atlas, 2016.
SKAFF, Fernando Campos. Direito à saúde no âmbito privado – contratos de adesão, planos de saúde e seguro-saúde. São Paulo: Saraiva, 2010.
A disciplina tem por objetivo proporcionar conhecimento sobre a Saúde em Emergências Humanitárias. Para tanto, abordaremos via PBL (problem based learning), com estudo dos desastres que ocorreram, além de acompanhamento de casos que estão ocorrendo no mundo. Abordaremos os conceitos internacionais de Direito Humanitário da Saúde Pública no âmbito das emergências humanitárias, com aulas problematizadas com cases do MSF (Médicos sem Fronteiras) e da Cruz Vermelha.
TOWNES, D. Health in Humanitarian Emergencies: principles and practice for public health and healthcare practitioners. Cambridge, 2018.
LEANING, J.; BRIGGS, S.; CHEN, L. Humanitarian Crises: the medical and public health response. Harvard, 1999.
VANROOYEN, M. The World´s Emergency Room: the growing threat to doctors, nurses and humanitarian workers. St. Martin’s Press, NY, 2016.
BORTOLOTTI, D. Hope in Hell: inside the world of doctors without borders. Firefly Books, 2010.
CHAN, E. Y. Public Health Humanitarian Responses to Natural Disasters. Routledge, 2017.
ACCIOLY, Hildebrando. Manual de direito internacional público. Saraiva, 2018.
https://www.spherestandards.org/handbook/read-download-order/
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO2019_0.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/WHDT2018_web_final_spread.pdf
A disciplina tem por objetivo proporcionar conhecimento sobre a Saúde dos Refugiados e Imigrantes. Em 2018, havia 68,5 milhões de pessoas deslocadas a força. Destas, 25,4 milhões são refugiadas, 40 milhões estão deslocadas internamente em seus países e 3,1 milhões são solicitantes de asilo. O número de refugiados cresceu mais de 50% nos últimos 10 anos: já são 25,4 milhões em todo o mundo. A Convenção de 1951 da ONU define o termo “refugiado” como qualquer pessoa que “seja incapaz ou não queira retornar ao seu país de origem devido a um medo bem fundamentado de ser perseguido por razões de raça, religião, nacionalidade, associação a um determinado grupo social ou opinião política”. Havia 21,3 milhões de refugiados em 2015 e mais da metade de todos os refugiados vieram de apenas três países: Síria, Afeganistão e Somália. Esses refugiados registrados enfrentam três opções: repatriamento, integração local ou reassentamento. 86% dos refugiados do mundo estão sendo hospedados por regiões em desenvolvimento. Em 2015, os países que receberam o maior número de refugiados foram Turquia, Paquistão e Líbano. As crianças compunham metade da população total de refugiados e 98.400 dessas crianças estavam desacompanhadas ou separadas de seus pais. A prestação de cuidados de saúde aos refugiados traz seus próprios desafios, devido à extrema pobreza, recursos limitados, excesso de pessoas e ambientes remotos. Embora existam barreiras significativas que precisam ser superadas para fornecer assistência médica eficaz às populações de refugiados, várias técnicas inovadoras têm trabalhado para melhorar a saúde dos refugiados e imigrantes.
ACNUR. Global Trends 2019.
ACNUR. Convenção de 1951 e Protocolo de 1967.
ACNUR. Global Trends: Forced Displacement in 2015. UNHCR.
ADLER, D., MGALULA, K., PRICE, D., and TAYLOR, O. Introduction of a portable ultrasound unit into the health services of the Lugufu refugee camp, Kigoma District, Tanzania. Int J Emerg Med 1 (2008): 261-266.
ALLOTELY, P., REIDPATH, D. D. The Health of Refugees: public health perspectives from crisis to settlement. Oxford, 2019.
CARRILLO, J., Green, A., BETANCOURT, J. Cross-Cultural Primary Care: A Patient-Based Approach. Annals of Internal Medicine. 130 (1999): 829-834.
CHEN, M., et al. Reproductive health for refugees by refugees in Guinea II: sexually transmitted infections. Conflict and Health. 2.14 (2008).
NAIR, S. Refugiados Frente a la Catástrofe Humanitária, una Solución Real. Critica, 2016.
TOOLE, M.J., and WALDMAN, R.J. The Public Health Aspects of Complex Emergencies and Refugee Situations. Annual Review of Public Health 18 (1997); 283-312.
RIJKEN, M., et al. Obstetric ultrasound scanning by local health workers in a refugee camp on the Thai-Burmese border. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 34.4 (2009); 395-403. Accessed on 3 August 2010.
RUTTA, E., et al. Prevention of mother-to-child transmission of HIV in a refugee camp setting in Tanzania. Global Public Health. 3.1. (2008): 62-76. Accessed on 4 August 2010.
UNHCR Establishment of Multi-purpose Youth-Friendly Centres for Young Refugees in Nepal.
UNHCR - Zambia.
A responsabilidade civil é a obrigação secundária que emana de atos jurídicos lícitos e ilícitos (atos jurídicos em sentido estrito) e negócios jurídicos, em razão do descumprimento de um dever legal (responsabilidade aquiliana ou extracontratual) ou contratual. Urge aprofundarmos o estudo das consequências decorrentes do sistema de responsabilidade civil implementado no ordenamento jurídico brasileiro com reflexos na área da saúde, dadas as peculiaridades dos ramos de atividades a ela conectados (médico, odontológico, farmacêutico, fisioterápico, psicológico, clínico, hospitalar, diagnóstico, saúde pública e privada etc).
ARANTES, Artur Cristiano. Responsabilidade civil do cirurgião dentista. 2. ed. Leme: JHMizuno, 2016.
AZEVEDO, Álvaro Villaça de. Teoria geral das obrigações. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.
BONFIM, Silvano Andrade do. Responsabilidade civil dos prestadores de serviços no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Método, 2013.
CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.
_________. Responsabilidade civil do Estado. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
_________ (coord.). Responsabilidade civil – doutrina e jurisprudência. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988.
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12. Ed. São Paulo: GEN/Atlas, 2015.
CRETELLA JÚNIOR, José. O Estado e a obrigação de indenizar. Rio de Janeiro: Forense, 1998.
CROCE, Delton. Erro médico e o direito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
DIAS, José de Aguiar. Cláusulas de não indenizar. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980.
_____. Da responsabilidade civil. Vol. I e II. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
DONNINI, Rogerio Ferraz. Responsabilidade civil pós-contratual. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
ENCINAS, Emilio Eiranova. Código civil alemán comentado – BGB. Barcelona: Marcial Pons, 1998.
GOMES, Orlando. Obrigações. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
________. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: GEN/Forense, 2011.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
JORGE, Fernando Pessoa. Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 1995.
KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil dos hospitais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
LIMA, Alvino. Culpa e risco. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.
LOBO, Abelardo Saraiva da Cunha. Curso de Direito Romano. Brasília: Senado Federal, 2006.
LOPEZ, Teresa Ancona. O dano estético – responsabilidade civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.
LORENZETTI, Ricardo Luis. La empresa médica. 2. ed. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2011.
MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Léon. Traité théorique et pratique de la responsabilté civile délictuelle e contratuelle. 2. ed. Paris.
MELO, Nehemias Domingos de. Responsabilidade civil por erro médico. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico – plano de validade.
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 11. ed. Rio de Janeiro: GEN/Forense, 2016.
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado – Parte Geral. T. 1. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954.
POTHIER, Robert Joseph. Tratado de las obligaciones. 2. ed. Buenos Aires: Rústica, 2007.
RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. O dever de informar dos médicos e o consentimento informado. Curitiba: Juruá, 2009.
RUGGIERO, Roberto de. Instituições de Direito Civil. V. 1. Campinas: Bookseller, 1999.
SCHAEFER, Fernanda. Responsabilidade civil do médico & erro de diagnóstico. 11. reimp. Curitiba: Juruá, 2012.
SERPA LOPES, Miguel Maria de. Exceções substanciais: exceção do contrato não cumprido (exceptio non adinpleti contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 8. ed. Rio de Janeiro: GEN/Forense, 2016.
A implementação do direito à saúde a partir da dimensão de proteção ambiental. Desenvolvimento econômico, direito à saúde e proteção do meio ambiente na Constituição Federal de 1988. Externalidades negativas do processo produtivo e os riscos à saúde e meio ambiente. Políticas públicas de proteção à saúde e meio ambiente e os riscos do espaço urbano. Meio ambiente do trabalho e saúde do trabalhador. Fiscalização da Proteção à Saúde.
AITH, F. Curso de Direito Sanitário: A proteção da saúde no Brasil. São Paulo: Ed. Quartier Latin, 2007.
_______; Saturnino, LTM; Diniz, MG; Monteiro, TC. Saúde e Direito: Um diálogo possível. Belo Horizonte: Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, 2010.
BENJAMIN, A. H. V. E.; FIGUEIREDO, G. J. P. Direito ambiental e as funções essenciais à justiça: o papel da advocacia de estado e da defensoria pública na proteção do meio ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
BERCOVICCI, G. Planejamento e políticas públicas: por uma nova compreensão do papel do Estado. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org). Políticas Públicas – Reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006.
BUCCI, M. P. D. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2013.
CANOTILHO, J.J.G; LEITE, J.R.M.L. Direito constitucional ambiental brasileiro. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
DERANI, C. Direito ambiental econômico. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
JARDIM, Arnaldo; YOSHIDA, Consuelo; FILHO, Jose Valverde Machado Filho. (org.). Politica Nacional, gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. BARUERI, SP: Manole, 2012.
LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
_______; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.
MELO, R. S. de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador. 5.ed. São Paulo: LTr, 2013.
PADILHA, N. S. Fundamentos constitucionais do direito ambiental brasileiro. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2010.
SILVA, J.A. da S. Direito ambiental constitucional. 10.ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.
SMANIO, Gianpaolo Poggio Smanio; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. O direito e as políticas públicas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio-Ambiente: paralelo dos sistemas de proteção internacional. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1993.
Oferecer aos alunos sólido arcabouço técnico-científico a respeito de questões atinentes ao principais problemas de ordem constitucional-sanitária. Isto será feito a partir da análise de casos e da leitura da bibliografia previamente indicada. Metodologia: A metodologia utilizada na disciplina consistirá em seminários que serão realizados pelos alunos na primeira parte da aula, seguidos de discussão de casos e exposição do professor acerca do tema da aula objeto do seminário. Será indicada aos alunos a bibliografia de cada aula, a qual deverá ser lida por todos e apresentada no seminário, sem prejuízo do material suplementar que deverá ser incorporado aos seminários pelos respectivos apresentantes. Além disso, com vistas ao caráter multidisciplinar do curso, poderá ser indicada uma bibliografia complementar, a fim de permitir uma melhor compreensão do tema para aqueles que encontrarem alguma dificuldade.
LYNCH, Christian Edward Cyril; MENDONÇA, José Vicente Santos. Por uma história constitucional brasileira: uma crítica pontual a doutrina da efetividade. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, Vol. 08, N. 2, 2017, pp. 974-1007.
SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação constitucional e sincretismo metodológico. In. SILVA, Virgílio Afonso da. (Org.) Interpretação Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 115-143.
VALLE, Vanice Lírio do. Estado de Coisas Inconstitucional e Bloqueios Institucionais: Desafios para a Construção da Resposta Adequada. In: BOLONHA, Carlos; BONIZZATO, Luigi; e MAIA, Fabiana. (Org.) Teoria Institucional e Constitucionalismo Contemporâneo. Curitiba: Juruá, 2016.
TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial e os direitos fundamentais. Revista de Direito Administrativo, n. 177 jul./set., 1989, pp. 29-49.
GALDINO, Flávio. O custo dos direitos. In. TORRES, Ricardo Lobo. Legitimação dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. pp. 182-222.
SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtner. Reserva do possível, mínimo existencial e direito à saúde: algumas aproximações. Revista de Doutrina da 4a Região, n. 24, jul., 2008, pp. 01-60.
SCHULZE, Clenio Jair; NETO, João Pedro Gerbran. Direito à saúde: análise à luz da judicialização. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016. (pp. 121-159)
Bibliografia complementar:
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
É certo que a garantia do direito à saúde deveria ser assegurada por meio da criação de políticas sociais e econômicas, e não através do fenômeno da judicialização excessiva, com a demasiada propositura de decisões judiciais. Contudo, é perfeitamente admissível, com base no juízo de ponderação dos bens envolvidos, valores e interesses, que o Poder Judiciário determine que o Poder Executivo crie políticas públicas, ofereça atendimento, tratamento médico-hospitalar e forneça medicamentos necessários para que todos os cidadãos tenham condições dignas de viver com saúde. O controle judicial e o estado de direito democrático e social face da litigiosidade em torno do direito à saúde. O Poder Judiciário como guardião dos direitos fundamentais. O Poder Judiciário e a definição de políticas públicas. Importância das regras de definição das prestações na área da saúde. Consequências do caráter antidemocrático das decisões concessivas de medicamentos. Ponderação como método alegadamente usado nas decisões concessivas. Impropriedade da invocação da inovação do método ponderativo ou da proporcionalidade. A impessoalidade com um dos objetivos do Estado de Direito. Prejuízos ao Poder Judiciário.
Políticas de governo e políticas de Estado. Conceituação jurídica das políticas públicas. Política Pública e articulação governamental. O papel político do Poder Executivo e a dimensão jurídica dos programas de ação governamental. O papel do Legislativo na produção de políticas públicas. A importância das garantias orçamentárias para a efetivação do direito à saúde. Cidadania, políticas públicas e participação popular. O papel da sociedade civil e dos movimentos sociais na propositura, execução e no controle de políticas públicas.
• ABRASCO. Ciência e Saúde Coletiva – 30 anos do Sistema Único de Saúde. Vol 23, n. 6. 2018.
• ABRASCO. Contribuição da Abrasco para a 16a Conferência Nacional de Saúde. Julho de 2019. www.abrasco.org.br/site/publicações.
• CEPEDISA/FSP/USP – Boletins Direitos na Pandemia. 10 volumes. 2020.
• Cohn, A. (org.). Saúde, cidadania e desenvolvimento. Coleção Pensamento Crítico. 2013. Rio de Janeiro. Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento. Em especial artigos referentes às mesas 2,3 e 4.
• Cohn, A. Caminhos da Reforma Sanitária, revisitado. Revista Estudos Avançados, v. 32, n. 93. 2018.
• Cohn, A. As políticas de abate social no Brasil contemporâneo. Lua Nova. São Paulo. N. 109. https://doi.org/10.1590/0102-129160/109
• Lima, N. T., Gerschman, S., Edler, F. C.; Suárez, J. M. (orgs). Saúde e Democracia – História e Perspectivas do SUS. 2005. Rio de Janeiro. Fiocruz, OPAS, OMS. Especialmente os capítulos:
• Escorel, S. e Bloch, R. A. As Conferências Nacionais de Saúde na Construção do SUS.
• Escorel, S., Nascimento, D. R. e Edler, F.C. As Origens da Reforma Sanitária e do SUS.
• Arretche, M. A Política da Política de Saúde no Brasil.
• Bahia, L. O SUS e os Desafios da Universalização do Direito à Saúde: tensões e padrões de convivência entre o público e o privado no sistema de saúde brasileiro.
• Ibañez, N., Elias, P. E. M. e Seixas, P. H. D’A. Política e Gestão Pública em Saúde. 2011. São Paulo. Editora Hucitec/CEALAG. Especialmente os capítulos:
o Parte 1
o Cap. 1 – Administração Pública em contexto de mudança: desafios para o gestor de políticas públicas.
o Cap. 4 - Sistema de Saúde e SUS: saúde como política social e sua trajetória no Brasil.
o Cap. 7 – O financiamento do Sistema de Saúde no Brasil, gasto em saúde e as modalidades para sua racionalização
o Cap. 17 – Controle público e o SUS
• Marques, A., Rocha, C., Asensi, F., Monnerat, D. M. Judicialização da saúde e medicalização: uma análise das orientações do Conselho Nacional de Justiça. Estudos Avançados 95. USP. pp. 217-234. https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142019000100217
• Paim, J. S. Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos. Ciência &Saúde Coletiva 23 (6):1723-1728, 2018. https://www.scielo.br/pdf/csc/v23n6/1413-8123-csc-23-06-1723.pdf
• Paim, J. S. O que é o SUS? – livrosinterativoseditora.fiocruz. br/SUS
• Paim, J. S. e Almeida Filho, N. (orgs) – Saúde Coletiva – Teoria e Prática. 2014. Rio de Janeiro. Medbook.
o Cap. 9 – Sistema Único de Saúde (SUS): a difícil construção de um sistema universal na sociedade brasileira. Carmen F. Teixeira; Luis Eugenio P. F. de Souza e Jairnilson Paim.
o Cap. 10 – Sistema de Assistência Médica Suplementar (SAMS): breve histórico e modalidades desenvolvidas no Brasil (seguro-saúde, medicina de grupo, cooperativas médicas, autogestão e outras). José Sestelo e Ligia Bahia
o Cap. 15 – Reforma Sanitária Brasileira em perspectiva e o SUS. Jairnilson Paim e Naomar Almeida-Filho.
o Cap. 18 – Controle Social do SUS: conselhos e conferências de saúde. Monique Azevedo Esperidião.
o Cap. 20 – Financiamento do SUS. Thereza Christina Bahia Coelho e João Henrique G. Scatena.
• The Lancet: Brazil’s Unified Health System: the first 30 years and prospects for the future. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31243-7/fulltext#.XTRiBQ9dlrY.email
Organização do Estado Brasileiro. Constituição Federal e a descentralização político-administrativa. Elementos constitutivos do federalismo brasileiro. Regime jurídico dos direitos fundamentais sociais na Constituição Federal de 1988. Desequilíbrio Federativo. O princípio da implementação progressiva e da proibição do retrocesso social. Os direitos sociais e a judicialização da política.
AITH, Fernando. Políticas Públicas de Estado e de governo: instrumentos de consolidação do Estado Democrático de Direito e de promoção e proteção dos direitos humanos. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (org.) Políticas Públicas – reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Editora Saraiva, 2006.
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros.
BERCOVICI, Gilberto. Estado Intervencionista e Constituição Social no Brasil: O Silêncio Ensurdecedor de um Diálogo Entre Ausentes. In Cláudio Pereira de SOUZA Neto; Daniel SARMENTO & Gustavo BINENBOJM (orgs.), Vinte Anos da Constituição Federal de 1988, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009.
________. Dilemas do Estado federal brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.
BUCCI, M. P. D. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2013.
________. (org.) Políticas Públicas – reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Editora Saraiva, 2006.
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
COMPARATO, Fábio Konder. Muda Brasil: uma Constituição para o desenvolvimento democrático. Brasília: Brasiliense, 1986.
GOTTI, Alessandra. Direitos Sociais - Fundamentos, Regime Jurídico, Implementação e Aferição de Resultados. São Paulo: Saraiva, 2012.
GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 (Interpretação e Crítica). 12. Ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
PEREIRA NETO, Cláudio; SARMENTO, Daniel (org). Direitos sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
Conhecimento e confrontação normativa, na perspectiva do Direito Comparado, através do exame legal sistematizado e o estudo das legislações do Direito e acesso à Saúde no espaço da União Europeia, dos Estados Unidos da América e do Brasil. Compreensão das transformações basilares no acesso público e privado dos serviços de saúde, em suas dimensões individuais e coletivas, nos espaços jurídicos norte-americano e europeu. Avaliação criteriosa das principais medidas legislativas contemporâneas e seus importantes impactos aos cidadãos. Análise comparativa do Direito e acesso à Saúde no âmbito norte-americano, europeu e brasileiro, vislumbrando proporcionar relevantes reflexões, pesquisas e o aprofundamento jurídico nesta importante vertente internacional legal.
OBJETIVO(S) GERAL(IS)
Conhecer e compreender o contexto de Direito Comparado do acesso à Saúde no espaço da União Europeia, dos Estados Unidos da América e do Brasil. Proporcionar o estudo avançado comparativo e a análise das medidas legislativas contemporâneas e seus importantes impactos aos cidadãos europeus e norte-americanos. Avaliar e reflexionar sobre os novos desafios e complexidades de aplicação do Direito à Saúde nestes ambientes internacionais.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Proporcionar aos pesquisadores de pós-graduação conhecimentos avançados sobre o Direito à Saúde na perspectiva do Direito Comparado. Estados Unidos da América, União Europeia e Brasil.
b) Compreender os aspectos contextuais e as características do Direito à Saúde nos Estados Unidos da América.
c) Compreender os aspectos contextuais e as características do Direito à Saúde na União Europeia.
d) Analisar e comparar as complexidades Direito à Saúde a partir da experiência do Brasil.
BORGES, Danielle Da Costa Leite. EU Health Systems and Distributive Justice: Towards New Paradigms for the Provision of Health Care Services? New York: Routledge, 2018.
CARVALHO, Laura Bastos. Direito Global da Saúde. São Paulo: Lumen Juris, 2017.
FLOOD, Colleen M., GROSS, Aeyal. The Right to Health at the Public/Private Divide: A Global Comparative Study. New York: Cambridge University Press, 2014.
GOSTIN, Lawrence O. Global Health Law. Cambridge: Harvard University Press, 2014.
HEITKAMP, Kristina Lyn. Universal Health Care. New York: Greenhaven, 2018.
MARCHILDON, Gregory P., BOSSERT, Thomas J. Federalism and Decentralization in Health Care: A Decision Space Approach. Toronto: University of Toronto Press, 2018.
OECD. OECD Reviews of Regulatory Reform: Brazil Strengthening for Growth.
RAWAL, Purva H. The Affordable Care Act: Examining the Facts. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2016.
RUIJTER, Anniek de. EU Health Law & Policy: The Expansion of Eu Power in Public Health and Health Care. Oxford: Oxford University Press, 2018.
STEVENSON, Tyler. Health Care: Limits, Laws, and Lives at Stake. New York: Lucent Press, 2018.
TINGLE, John, CLAYTON, Ó Néill. SHIMWELL, Morgan. Global Patient Safety: Law, Policy and Practice. Abingdon: Routledge, 2018.
TRIEN, Phillipp. Healthy or Sick?: Coevolution of Health Care and Public Health in a Comparative Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
Serão desenvolvidos os conceitos básicos da história do Processo Saúde-Doença, bem como o entendimento da ideia de diagnóstico (clínico, laboratorial e epidemiológico) e conduta terapêutica. Em decorrência da grande quantidade de novas medicações disponibilizadas pela indústria farmacêutica para o tratamento e da grande quantidade de informações publicadas a cada ano a busca da melhor evidencia para o tratamento dos pacientes torna-se ferramenta indispensável para o aluno identificar trabalhos conduzidos com metodologia consistente, adequada, padronizada e bem controlada para um melhor desfecho clínico. Esses conceitos básicos e necessários para a análise dos resultados, definidos atualmente como Medicina Baseada em Evidência, sua metodologia, bem como a busca nos meios eletrônicos de protocolos, “guidelines” atuais para o tratamento das diferentes patologias - sempre fazendo uma inserção no Sistema Único de Saúde (SUS) -, e a questão da judicialização da saúde no acesso a novos tratamentos, serão abordados pela disciplina.
Sackett, D.L; et al. Medicina Baseada em Evidências – Prática e Ensino, 2ª Edição, ARTMED, 2003.
Benseñor, I.M; Lotufo, P.A. Epidemiologia Abordagem Prática. 2ª Edição, SARVIER, 2011. * How to read a paper. The Medline database. BMJ 1997; 315(7101): 180-3.
Clarke M, Horton R. Bringing it all together: Lancet-Cochrane collaborate on systematic reviews. Lancet June 2, 2001; 357:1728. * Mulrow, CD. Rationale for systematic reviews. BMJ 1994, 309; 597-599.
Princípios constitucionais penais.
Velocidades do Direito Penal.
Funcionalismo penal.
Mandados explícitos e implícitos de criminalização.
Bem jurídico penal difuso e coletivo.
Tutela penal da saúde e suas dimensões.
Culpabilidade penal e ingerência penal na saúde.
CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da. Constituição e Crime: Uma perspectiva da criminalização e da descriminalização. Porto, Universidade Católica Portuguesa, Editora Porto, 1995.
PONTE, Antonio Carlos da. Crimes Eleitorais. 2ª ed. São Paulo, Saraiva, 2016.
––––– Inimputabilidade e Processo Penal. 3ª ed. São Paulo, Saraiva, 2012.
ROXIN, Claus. Fundamentos político-criminales del Derecho Penal. Trad. Gabriela E. Córdoba e Daniel R. Pastor. Buenos Aires, Hammurabi, 2008.
SCHÜNEMANN, Bernd. Obras. Trad. Edgardo Alberto Donna. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2009.
YACOBUCCI, Guillermo J. El sentido de los princípios penales – Su naturaleza y funciones em la argumentación penal. Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 2002.
A Democracia Participativa no Estado Democrático e Social de Direito. A gestão democrática como instrumento de efetivação da democracia participativa. A participação popular na efetivação e fiscalização do direito à saúde. Os movimentos sociais. O papel dos conselhos de saúde.
ALLEYNE, George A. O.; SEALEY, Karen A. Cooperacion Caribena en materia de salud. Integracion Latino-americana. Buenos Aires, v.16, n.164, p. 13-20, 1991.
AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez & Escolha: Critérios Jurídicos para Lidar com a Escassez de Recursos e as Decisões Trágicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. São Paulo: Malheiros, 2003.
BONTEMPO, Alessandra Gotti. Direitos Sociais. Eficácia e Acionabilidade à Luz da Constituição de 1988. Curitiba: Juruá. 2008.
BRAVO, M.I.S. Gestão democrática na saúde: o potencial dos conselhos. In: BRAVO, M.I.S.; PEREIRA, P.A.P. (Orgs.). Política social e democracia. São Paulo: Cortez, 2002.
CAMPOS, Sandra Lúcia Furquim de. A Responsabilidade na Gestão da Saúde Pública. [Dissertação de Mestrado - Faculdade de Saúde Pública/USP] 2006.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003.
CARVALHO, A.M.P. Reorganização do estado brasileiro na contemporaneidade: desafios das políticas públicas como direito de cidadania. Fortaleza, 2005. Mimeo.
CARVALHO, Gilson. Financiamento. Cidadania e Participação da Comunidade na Saúde. Brasília. 2009.
CHERCHIGLIA, Mariangela Leal, DALLARI, Sueli Gandolfi. Tempo de Mudança: sobrevivência de um hospital público. www.rae.com.br/eletronica
CICHON, Michael. La reforma del sector de la salud en Europa central y oriental: es preciso invertir el modelo vigente? Revista Internacional del Trabjo, Ginebra, v. 110, n. 4, p. 509-28. 1991.
CISA, Agustin. Desarrollo normativo de instituciones conexas en el ambito de la Salud Publica. Revista do la Facultad de Derecho, Montevideo, n. 6, p. 49-59, ene-/dic. 1994.
Guia do Conselheiro, Ministério da Saúde, 2002, in http://sna.saude.gov.br/download/Guia%20do%20conselheiro%20de%20saude.pdf.
LUCAS, John Randolph. Democracia e participação. Tradução de Caio Paranhos Rocha, Brasília: Universidade de Brasília, 1985.
MORAES, José Luis Bolzan de. O direito da saúde. Revista do Direito, Santa Cruz de Sul, n. 13, p. 7-21, jul. 1995.
Manual de Orientação para Conselheiros da Saúde, TCU, 2010, in http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2057626.PDF.
MENDONCA, Erasto Fortes. Estado patrimonial e gestão democrática do ensino público no Brasil. Educ. Soc. [online]. 2001, vol. 22, n.75, pp. 84-108, ISSN 0101-7330, doi: 10.1590/S0101-73302001000200007. Acesso em 27 de março de 2010.
NASCIMENTO, Paulo Roberto do. Espaços de deliberação democrática no SUS e discussão sobre a universalidade de direitos. [Tese Doutorado - Faculdade de Saúde Pública] 2006.
A filosofia da saúde como debate teórico. Antecedentes. A filosofia da saúde contemporânea: Georges Canguilhem, Michel Foucault, François Dagognet, Pierre Macherey, Dominique Lecourt.
A filosofia da saúde como objeto. O entrecruzamento específico de natureza e sociedade. Saúde e sociabilidade. Seu caráter histórico. Suas determinações sociais.
Subjetividade, política e saúde.
Filosofia da saúde e filosofia política. Filosofia da saúde e filosofia do direito.
Possibilitar a ampliação do quadro referencial do mestrando, instrumentalizando-o para compreender a saúde como fenômeno social e histórico, cujos valores e horizontes são objeto de agudas reflexões no campo da filosofia.
Fornecer instrumentos teóricos, no quadro das ciências humanas, para o pesquisador apreender debates fundamentais da filosofia do direito e seu impacto em questões de filosofia do direito e filosofia política.
Desenvolver a capacidade de análise, o espírito crítico e a leitura teórica, fundamentais à formação e à pesquisa acadêmica em nível de mestrado.
BRAUNSTEIN, Jean-François (org.). Canguilhem: histoire des sciences et politique du vivant. Paris, PUF, 2007.
BULCÃO, Marly. O gozo do conhecimento e da imaginação. François Dagognet diante da ciência e da arte contemporânea. Rio de Janeiro, Mauad X, 2010.
CALDAS, Camilo Onoda. O Estado. São Paulo, Editores Associados, 2014.
CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2015.
COHN, Amélia; ELIAS, Paulo. Saúde no Brasil. Políticas e organização de serviços. São Paulo, Cortez, 2001.
DAGOGNET, François. A razão e os remédios. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2017.
FOUCAULT, Michel. História da loucura: na Idade clássica. São Paulo, Perspectiva, 2014.
FOUCAULT, Michel. O nascimento da clínica. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2015.
GADAMER, Hans-Georg. O caráter oculto da saúde. Petrópolis, Vozes, 2006.
GIROUX, Élodie. Après Canguilhem: definir la santé et la maladie. Paris, PUF, 2010.
ILLICH, Ivan. A expropriação da saúde. Nêmesis da medicina. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1981.
JAPPE, Anselm. Crédito à morte. A decomposição do capitalismo e suas críticas. São Paulo, Hedra, 2013.
KAHN, Axel; LECOURT, Dominique. Bioética e liberdade. Aparecida, Ideias & Letras, 2007.
LAURELL, Asa Cristina (org.). Estado e políticas sociais no neoliberalismo. São Paulo, Cortez, 1995.
LECOURT, Dominique. Humano pós-humano: a técnica e a vida. São Paulo, Loyola, 2005.
LECOURT, Dominique. Para uma crítica da epistemologia. Lisboa, Assírio e Alvim, 1980.
MACHEREY, Pierre. Georges Canguilhem, um estilo de pensamento. Goiânia, Almeida & Clément, 2010.
MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma política. São Paulo, Boitempo, 2013.
MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito. São Paulo, Atlas, 2015.
MERHY, Emerson Elias; FRANCO, Tulio Batista. Trabalho, produção do cuidado e subjetividade em saúde. Textos reunidos. São Paulo, Hucitec, 2013.
PLATÃO. “Timeu”. Diálogos V. São Paulo, Edipro, 2010.
PORTOCARRERO, Vera. As ciências da vida: de Canguilhem a Foucault. Rio de Janeiro, Ed. Fiocruz, 2009.
RIBEIRO, Herval Pina. De que adoecem e morrem os trabalhadores na era dos monopólios – 1980/2014. São Paulo, Cenpras, 2015.
RIBEIRO, Herval Pina. O juiz sem a toga: um estudo da percepção dos juízes sobre trabalho, saúde e democracia no judiciário. Florianópolis, SINJUSC, 2005.
ROUDINESCO, Elisabeth. Filósofos na tormenta: Canguilhem, Sartre, Foucault, Althusser, Deleuze e Derrida. Rio de Janeiro, Zahar, 2007.
SCLIAR, Moacyr. Do mágico ao social: trajetória da saúde pública. São Paulo, Senac, 2002.
O Estado e suas concepções históricas. Do Estado Liberal ao Estado Social. O Estado Social e Democrático de Direito. Constitucionalismo contemporâneo. Os Direitos Sociais como instrumento de redução de desigualdades e construtor da dignidade da pessoa humana. A ordem social na Constituição de 1988. O perfil constitucional da seguridade social.
AITH, Fernando Mussa Abujamra. Curso de Direito Sanitário: a proteção do Direito à Saúde no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2007.
BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro – São Paulo: Renovar, 2002.
COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 7ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2010.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Características generales de la Constitución de 1988 p. 3-10. In El Derecho a la Salud en la Nueva Constitución Brasileña: exposiciones realizadas en el ciclo de Conferencias sobre Salud en el Desarrollo de la OPS en Nueva York, 6-7 de enero de 1992. Washington: Org. Panamericana de la Salud, 1992.
DALARI, Dalmo de Abreu. A responsabilidade dos três níveis de governo por doenças causadas pelo ambiente de trabalho no federalismo brasileiro. p. 91-100. Em Seminário Internacional de Direito Sanitário, 3 -- Washington; São Paulo: Org. Panamericana de Saúde, 1993.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Privatização (mal) disfarçada -- p. 3. Em Jornal do Médico. São Paulo, n. 57 . 1994.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Ilegalidade autorizada. -- p. 3. Em Folha de São Paulo. Caderno 1. São Paulo. 1996.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Excluídos do PAS -- p. 5. Em Linha Direita, v. 7, n. 284. 1996.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania, São Paulo, Moderna, 1998.
DALLARI, Sueli Gandolfi. Os Estados brasileiros e o direito a saúde. São Paulo, Ed. Hucitec, 1993.
DIAS, Hélio Pereira. Direitos e Obrigações em Saúde. Brasília: ANVISA, 2002.
LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. – São Paulo: Cia das Letras, 2009 (7ª reimpressão).
MARTINEZ, Pedro Soares. Dispersos econômicos (cont) evolução da estrutura agrária portuguesa; planejamento econômico e saúde pública.; a lavoura alentejana, a política... Rev. da Fac. de Direito da Universidade de Lisboa, n. 32, p. 129-349, 1991.
MARTINS, Ives Gandra da Silva. Opinião legal sobre o texto aprovado pela Comissão de sistematização sobre a saúde. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, São Paulo, v. 13, n. 64, p. 73-8, abr. 1989.
SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10ª ed. rev. atual. e ampl. – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. 7ª ed. rev. e atual. – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
REVISTA DE DIREITO SANITÁRIO - htpp://www.fsp.usp.br/cepedisa
TOJAL, Sebastião Botto de Barros. O direito regulatório do estado social e as normas legais de saúde pública. p. 15-23. Em O direito sanitário na Constituição brasileira de 1988: normatividade, garantias e seguridade social. Brasília: OPS, 1994.
TOJAL, Sebastião Botto de Barros. A Constituição Dirigente e o direito regulatório do Estado Social: O Direito Sanitário. Vol.I - Série E. Legislação de Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Ministério da Saúde. Brasília - DF. 2003. p. 21-38.
A Disciplina Epidemiologia e Direito da Saúde, tem por objetivo discutir, problematizar e fornecer subsídios para que os alunos possam conhecer criticamente o Sistema de Saúde Brasileiro e o processo saúde-doença em seus múltiplos aspectos, instrumentalizando-os a buscar nas principais fontes de informações em Saúde Coletiva e Medicina Preventiva. Introduzir às bases da Epidemiologia, Políticas e Práticas em Saúde bem como as bases históricas e conceituais do SUS. Fornecer aos alunos conhecimentos de Saúde Coletiva aplicados as ciências da saúde e sua interface com o Direito, além de capacitar os alunos a desenvolver uma leitura crítica de artigos científicos.
MEDRONHO, Roberto de Andrade et al. Epidemiologia. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2009.
ROUQUAYROL – Epidemiologia & Saúde / Maria Zélia Rouquayrol, Marcelo Gurgel Carlos da Silva. – 8. Ed. -Rio de Janeiro: MedBook, 2017.
Naomar, Almeida Filho – Epidemiologia & Saúde: fundamentos, métodos, aplicações / Naomar de Almeida, Mauricio Lima Barreto. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
FLETCHER, Robert H. et al. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. Trad. Roberta Marchiori Martins. 6.ed. Artmed, 2021.
COSTA, Elisa Maria Amorim et al. Saúde da família: uma abordagem multidisciplinar. 2.ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2009.
FREEMAN, T. ET AL. Manual de medicina da família e comunidade. 3. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
FLETCHER, Robert H. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 4.ed. São Paulo: Artmed, 2008.
MC WHINNEY, I. T. R.; FREEMAN, Medicina de Família e Comunidade. Artmed, 3a Edição, 2010.
WWW.datasus.gov.br
WWW.aids.gov.br
WWW.saude.gov.br
WWW.saude.sp.gov.br
WWW.ibge.org.br
WWW.conass.org.br
O direito à saúde, em todas as suas dimensões, depende da atuação do Estado, seja para fornecer os serviços e produtos diretamente relacionados à saúde, seja para garantir as condições sociais determinantes da saúde. O conjunto de ações públicas voltadas a manter, superar ou simplesmente melhorar uma realidade social chamam-se políticas públicas. Essa disciplina visa explicitar as principais dificuldades relacionadas à elaboração, implantação, avaliação e revisão das políticas públicas relacionadas direta ou indiretamente à saúde: desde a identificação do problema fático, passando pela construção social do problema público, pela elaboração normativa dos programas e projetos sociais, pela experimentação das ações, pela avaliação dos resultados e da efetividade dos impactos sociais, até chegar à revisão das ações estatais necessárias.
AGUILLAR VILLANUEVA, Luis F. (org.). El estudio de las políticas públicas. Colección Antologías de Política Pública. Primera antología. México: Miguel Angel Porrua, 1992. pp. 15-74.
AGUILLAR VILLANUEVA, Luis F. (org.). Problemas Públicos y Agenda de Gobierno. Colección Antologías de Política Pública. Tercera antología. México: Miguel Ángel Porrúa, 1993. pp. 15-72.
AGUILLAR VILLANUEVA, Luis F. (org.). La hechura de las políticas. Colección Antologías de Política Pública. Segunda antología. México: Miguel Ángel Porrúa, 1992. pp. 15-84.
AGUILLAR VILLANUEVA, Luis F. (org.). La implementación de las políticas. Colección Antologías de Política Pública. Cuarta antología. México: Miguel Ángel Porrúa, 1993. pp. 15-92.
BALLART, Xavier. Modelos para la práctica de evaluación de programas. IN: BRUGUÉ, Quim & SUBIRATS, Joan (org.). Lecturas de gestión pública. Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas, 1996. pp. 323-351.
BARDACH, Eugene. Los ocho pasos para el análisis de Políticas Públicas. Un manual para la práctica. Trad. David García-Junco Machado. México: CIDE, 1998. (Primera Parte – Los ocho pasos).
BARDACH, Eugene. Problemas de la definición de problemas en el análisis de políticas. IN: AGUILLAR VILLANUEVA, Luis F. (org.). Problemas Públicos y Agenda de Gobierno. Colección Antologías de Política Pública. Tercera antología. México: Miguel Ángel Porrúa, 1993. pp. 219-233.
BUSTELO RUESTA, Maria. ¿Qué tiene de específico la metodología de evaluación? IN: BAÑÓN I MARTINEZ, Rafael (org.). La evaluación de la Acción y de las Políticas Públicas. Madrid: Díaz de Santos, 2003.
DEUBEL, André-Noël Roth (org.). Enfoques para el análisis de políticas públicas. Bogotá (Colombia): IEPRI, 2010. pp. 17–65 (ideal: livro todo).
DEUBEL, André-Noël Roth. Políticas públicas: formulación, implementación y evaluación. Como elaborar las políticas públicas. Quién decide. Cómo realizarlas. Quién gana o pierde. 6. ed. Bogotá (Colombia): Ediciones Aurora, 2006.
DYE, Thomas R. Mapeamento dos modelos de análise de políticas públicas. IN: HEIDEMANN, F. G.; SALM, J. F. (2010). Políticas Públicas e Desenvolvimento. Brasília: Editora UnB, 2010.
ELMORE, Richard F. Modelos organizacionales para el análisis de la implementación de programas sociales. IN: AGUILLAR VILLANUEVA, Luis F. (org.). La implementación de las políticas. Colección Antologías de Política Pública. Cuarta antología. México: Miguel Ángel Porrúa, 1993. pp. 185-249.
GERTLER, Paul J.; MARTÍNEZ, Sebastián; PREMAND, Patrick; RAWLINGS, Laura B.; VERMEERSCH, Christel M. J. La evaluación de impacto en la práctica. Washington: Banco Mundial, 2011.
GUERRERO AMPARÁN, J.C. La evaluación de políticas públicas: enfoques teóricos y realidades en nueve países desarrollados. Gestión y Política Pública. Vol. IV, nº 1., 1995, pp. 47-115.
HANNEMAN, Robert A. Introducción a los métodos del análisis de redes sociales. Trad. Maria Ángela Petrizzo. Rev. José Luis Molina. 2000.
HOWLETT, Michael. A Dialética da Opinião Pública: efeitos recíprocos da política pública e da opinião pública em sociedades democráticas contemporâneas. Opinião Pública, Campinas, Vol. VI, nº 2, 2000, pp. 167-186.
HOWLETT, Michael; RAMESH, M. & PERL, Anthony. Política Pública. Seus ciclos e subsistemas. Uma abordagem integral. Trad. Francisco G. Heidemann. Rio de Janeiro, Elsevier, 2013.
KLIJN, E. H. Redes de políticas públicas: una visión general. Trad. Mariángela Petrizzo. London: SAGE, 1998.
KLIKSBERG, Bernardo. Seis Tesis no convencionales sobre participación. Revista de Estudios Sociales [en linea] 1999, (Agosto-Sin mes): Disponible en: www.redalyc.org/articulo.oa?id=81511266010 ISSN 0123-885X
LE GRAND, J. (1998): Caballeros, picaros o subordinados? Acerca del comportamiento humano y la política social. Desarrollo Económico Vol. 38, No. 151, 1998.
LINBLOM, Charles E. El proceso de elaboración de Políticas Públicas. Trad. Eduardo Zapico Goñi. Madrid: Ministerio para las Administraciones Publicas, 1991.
MAJONE, Giandomenico. Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas. Trad. Eduardo L. Suárez. México: Fondo de Cultura Económica, 1997. (Cap. 2 e 4).
MENY, Ives; THOENIG, Jean-Claude. Las políticas públicas. Trad. De Francisco Morata. Barcelona (España): Editorial Ariel S.A, 1992.
MULLER, Pierre & SUREL, Yves. A Análise das Políticas Públicas. Trad. Agemir Bavaresco e Alceu R. Ferraro. Coleção Desenvolvimento Social 3. Pelotas: Educat, 2002.
NIETO, Luis Hernando Barreto; RINCÓN, Luz A. C.; MEDINA, Ana María F. Metodologías para la investigación en políticas públicas. IN: DEUBEL, André-Noël Roth (org.). Enfoques para el análisis de Políticas Públicas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2010. p. 347-363.
PARSONS, Wayne. Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas. Trad. Ateneo Acevedo Aguillar. México: Flacso, 2006.
SUBIRATS, Joan & DENTE, Bruno. Decisiones Públicas. El análisis y estudio de los procesos de decisión en políticas públicas. Barcelona: Ariel, 2014.
Nas sociedades democráticas contemporâneas os Direitos Humanos e a Saúde vêm assumindo papel preponderante no processo de construção da cidadania. Neste contexto, a disciplina propõe uma reflexão sobre aspectos que envolvem o campo de conhecimento “Direitos Humanos e Saúde”. Para tanto, aprofunda a análise das categorias liberdade, igualdade, moralidade, dignidade, cidadania e justiça, destacando o estudo sobre o sistema de proteção regional no âmbito dos direitos humanos.
ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1972.
BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia: uma defesa das regras do jogo. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1986.
BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. São Paulo: Brasiliense, 2000.
CORAO, Carlos M. Ayala. La Ejecución de Sentencias de La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudios Constitucionales, Año 5, n. 1, Universidad de Talca, 2007, p. 127-201.
COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Ed. Saraiva, 2001.
CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA).
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (1988).
DI GIORGI, Beatriz; CAMPILONGO, Celso Fernandes; PIOVESAN, Flavia (coordenadores). Direito, Cidadania e Justiça. São Paulo: Ed. RT, 1995.
FARIA, José Eduardo (organizador). Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça. São Paulo: Ed. Malheiros, 1994.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A democracia no limiar do século XXI. São Paulo: Ed. Saraiva, 2001.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Ed. Saraiva, 1995.
LAFER, Celso. Ensaios sobre Liberdade. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1980.
GUERRA, Sidney. Direitos Humanos: na ordem jurídica internacional e reflexos na ordem constitucional brasileira. São Paulo: Ed. Atlas, 2014.
PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Ed. Saraiva, 2016.
RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Ed. Saraiva, 2016.
O curso tem como finalidade desenvolver o estudo crítico da Tutela Penal da Saúde, identificando temas que necessitam de enfrentamento eficiente à luz dos mandados de criminalização contidos na Constituição Federal e os documentos internacionais firmados pelo Estado brasileiro. Abordará os seguintes temas: Tutela Penal da Saúde e o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus; Atividade biomédica e responsabilidade penal; Imprudência médica e crimes multitudinários; Tráfico de órgãos e tecidos humanos; e Aspectos penais da Lei brasileira de Transplantes.
CALDERÓN, Silvia Mendoza. Derecho Penal Sanitario. Valencia, Tirant lo blanch, 2018.
CASABONA, Carlos María Romeo. El médico y el Derecho Penal. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2011, t. I e II.
KRAUT, Alfredo Jorge. Los Derechos de los pacientes Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2000.
SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Maria. La expansion do Derecho Penal. Aspectos de la política criminal em las sociedades post-industriales. Madrid. Civitas, 1999.
YACOBUCCI, Guillermo J. El sentido de los principios penales. Buenos Aires, Editoral Ábaco de Rodolfo Depalma, 1998.
O direito à saúde – direito humano e fundamental ao bem-estar físico, mental e social – é um direito revestido de extrema complexidade, pois abarca tanto o direito de acesso aos serviços (de promoção, de proteção, de recuperação ou paliativos) e aos produtos (medicamentos e equipamentos) de saúde, como às condições essenciais e determinantes da saúde. Ademais, ostenta tanto uma dimensão individual (o direito subjetivo a seu objeto), como uma dimensão coletiva, pública ou social (a qual corresponde o dever estatal de instituir as políticas públicas).
Essa disciplina, visa explicitar e aprofundar como essas diversas facetas foram desveladas e consolidadas pelas convenções, resoluções e declarações internacionais. Em especial, dedica-se a enraizar os seguintes pontos: o conteúdo normativo do direito internacional à saúde, as obrigações estatais internacionais relativas à saúde, a caracterização da violação internacional desse direito, as possibilidades e os mecanismos internacionais de proteção e de responsabilização estatal. Ao fim, explicita também as especificidades estabelecidas pelo direito internacional para a saúde de grupos determinados: crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com deficiência, dependentes químicos e migrantes.
AIZENBERG, Marisa (org.). Estudios acerca del Derecho de la Salud. Buenos Aires: La Ley, 2014.
BREILH, Jaime. Hacia una construcción emancipadora del derecho a la salud. En: ¿Estado constitucional de derechos?: informe sobre derechos humanos Ecuador 2009. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. Sede Ecuador. Programa Andino de Derechos Humanos, PADH; Abya Yala. pp 263-283.
CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. Direito das Organizações Internacionais. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002.
CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Vol. I. 2ª ed. Porto Alegre: Safe, 2003.
CARBONELL, José & CARBONELL, Miguel. El derecho a la salud: una proposta para México. Disponível em: http://www.miguelcarbonell.com/libros/El_derecho_a_la_salud_una_propuesta_para_M_xico.shtml
CASESSE, Sabino. La crisis del Estado. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2003.
DALLARI, S.G.; FORTES, P.A.C. Direito sanitário: inovação teórica e novo campo de trabalho. In: FLEURY, S. (Org.). Saúde e democracia: a luta do CEBES. São Paulo: Lemos, 1997. p.187-202.
DINH, Nguyen Quoc; DAI-LLER, Patrick; PELLET, Alain. Direito Internacional Público. Trad. Vítor Marques Coelho. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1999.
PISARELLO, Gerardo. Los derechos sociales y sus garantías. Madrid: Editorial Trotta, 2007.
SLAIBI, Maria Cristina Barros Gutiérrez. O direito fundamental à saúde. BIS, Bol. Inst. Saúde (Impr.), São Paulo, v. 12, n. 3, 2010.
TORRONTEGUY, Marco Aurélio Antas. O direito humano à saúde no direito internacional. São Paulo, USP, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2140/tde-14032011-154326/publico/Tese_de_Doutorado_Marco_A_A_Torronteguy.pdf
VILLAR, Eugenio. Los Determinantes Sociales de Salud y la lucha por la equidad en salud: desafíos para el estado y la sociedad civil. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 16, n. 3, p. 7-13, dec. 2007. ISSN 1984-0470.
Conhecimento e confrontação jurisprudencial, na perspectiva do Direito Comparado, através do exame da efetivação do Direito à saúde por meio de decisões judiciais proferidas pelos principais Tribunais Superiores da União Europeia, América do Sul, América do Norte e Ásia. Compreensão das transformações basilares de jurisprudências em temas relacionados ao acesso público e privado dos serviços de saúde, e no respeito à saúde como direito fundamental, em suas dimensões individuais e coletivas, nos principais espaços jurídicos globais. Avaliação individualizada e criteriosa das principais decisões jurisprudenciais contemporâneas e seus importantes impactos e repercussões aos cidadãos do mundo, vislumbrando proporcionar relevantes reflexões, pesquisas e o aprofundamento jurídico nesta relevante vertente internacional legal.
ASPALTER, Christian, PRIBADI, Kenny Teguh, GAULD, Robin. Health Care Systems in Developing Countries in Asia (Social Welfare Around the World). New York: Routledge, 2017.
CARVALHO, Laura Bastos. Direito Global da Saúde. São Paulo: Lumen Juris, 2017.
BURRIS, Scott. BERMAN, Micah L.. PENN, Matthew. HOLIDAY, Tara Ramanathan. The New Public Health Law - A Transdisciplinary Approach to Practice and Advocacy. Oxford: Oxford University Press, 2018.
RAJCZI, Alex. The Ethics of Universal Health Insurance. Oxford: Oxford University Press, 2019.
MEULEN, Ruud ter. Solidarity and Justice in Health and Social Care. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
PARIS, John Ayrton. Medical Jurisprudence (Cambridge Library Collection). Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
DONNELLY, Mary. Cambridge Law, Medicine and Ethics: Healthcare Decision-Making and the Law: Autonomy, Capacity and the Limits of Liberalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
OLIVER, Adam. Health Economics, Policy and Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
CONSEJO DE EUROPA/TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS & CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Diálogo transatlántico: selección de jurisprudencia del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tilburgo: Wolf Legal Publishers, 2015.
LYNCH, Holly Fernandez. COHEN, I. Glenn. SHACHAR, Carmel. EVANS, Barbara J. Transparency in Health and Health Care in the United States: Law and Ethics. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
Saúde e Desenvolvimento no contexto brasileiro: a. Perspectiva sanitária: saúde como cidadania, b. Perspectiva desenvolvimentista, c. Forte interdependência entre os objetivos de cidadania (universalidade) e a base econômica e de inovação. O Complexo Industrial da Saúde no Brasil: política pública em desenvolvimento. As funções e propostas da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde. O Complexo Industrial da Saúde no Brasil: política pública em desenvolvimento: Procis, o Programa para o desenvolvimento do complexo industrial da saúde. O Marco Regulatório das Compras Públicas e aplicação das compras no âmbito do SUS. A Ampliação do orçamento e das ações concretas com o setor público e privado e integração com Butantan, Fiocruz, ANVISA, Hemobrás e Rede Pública e Privada na estratégia de desenvolvimento. Reforço da agenda de Pesquisa, incorporação tecnológica e sistema de ética em pesquisa. Programas estratégicos: Ex Oncologia (Radioterapia) e doenças negligenciadas. A Política de Pesquisa: agenda prioritária, redes e ética em pesquisa. A Lei 12.715: encomendas tecnológicas associada a compras e transferência de tecnologia. Incorporação tecnológica.
CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América Latina: ensaio de interpretação sociológica, 5ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
CASSIOLATO, José Eduardo. A Economia do Conhecimento e as Novas Políticas Industriais e Tecnológicas.
COUTINHO, Luciano. Regimes macroeconômicos e estratégias de negócios: uma política industrial alternativa para o Brasil no século XXI. In: CASSIOLATO, José Eduardo; LASTRES, Helena M. M.; ARROIO, Ana (orgs.). Conhecimento, sistemas de inovação e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2005.
FEIJÓ, Carmem Aparecida do V. C. et al. Contabilidade Social: A Nova Referência das Contas Nacionais do Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2008.
FEIJÓ, Carmem Aparecida do V. C.; CARVALHO, Paulo Gonzaga M. de; ALMEIDA, Julio Sergio G. de. Ocorreu uma desindustrialização no Brasil? São Paulo: Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, nov. 2005.
FIALHO, Beatriz de Castro. Dependência tecnológica e biodiversidade: um estudo histórico sobre a indústria farmacêutica no Brasil e nos Estados Unidos. 2005. 224 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.
FURTADO AT, Souza JH. Evolução do setor de insumos e equipamentos médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos no Brasil: a década de 90. In: NEGRI, B.; GIOVANNI, G. D. Brasil: radiografia da saúde. Campinas: Unicamp, 2001.
FURTADO, Celso. Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.
MELLO, João Manuel Cardoso de. O capitalismo tardio. 6ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1987.
A metodologia utilizada na disciplina consistirá em seminários que serão realizados pelos alunos na primeira parte da aula, seguidos de discussão de casos e exposição do professor acerca do tema da aula objeto do seminário. Será indicada aos alunos a bibliografia de cada aula, a qual deverá ser lida por todos e apresentada no seminário, sem prejuízo do material suplementar que deverá ser incorporado aos seminários pelos respectivos apresentantes. Além disso, com vistas ao caráter multidisciplinar do curso, será indicada uma bibliografia complementar, a fim de permitir uma melhor compreensão do tema para aqueles que encontrarem alguma dificuldade. Objetivo: Oferecer aos alunos sólido arcabouço técnico-científico a respeito de questões atinentes à Bioética e ao Biodireito que repercutam no Direito à Saúde. Isto será feito a partir da análise de casos e da leitura da bibliografia previamente indicada.
HARARI, Yuval Noah. Homo Deus: uma breve história do amanhã. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. pp. 51-75.
HARARI, Yuval Noah. Homo Deus: uma breve história do amanhã. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. pp. 137-139.
MOLENTO, C. F. M. Bem estar e produção animal: aspectos econômicos – revisão. Archives of Veterinary Science, Curitiba, vol.10, n.1, pp. 1-11, 2005.
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL (CONCEA). Resolução Normativa n. 25, de 29 de setembro de 2015.
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução n. 2.144, de 22 de junho de 2016.
FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. Ética, direitos dos usuários e políticas de humanização da atenção à saúde. Saúde e Sociedade, São Paulo, vol.13, n.3, pp. 30-35, set.-dez., 2004.
DINIZ, Carmen Simone Grilo. Humanização da assistência ao parto no Brasil: os muitos sentidos de um movimento. Ciência e Saúde Coletiva, vol.10, n.3, pp. 627-637, jul., 2005.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diretrizes nacionais de assistência ao parto humanizado. Brasília, 2017.
CHANES, Isabel Rodrigues; MONSORES, Natan. Uma reflexão bioética e sanitária sobre efeitos colaterais da epidemia de Zika vírus: revisão integrativa sobre a eutanásia/ortotanásia nos casos de anomalias fetais. Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário, Brasília, vol.4, n.1, pp. 56-72, jan.-mar., 2015.
SILVA, Roberto Baptista Dias da; ISTAMATI, Gisela Barroso. Eutanásia, células-tronco e feto anencéfalo: os debates nas audiências públicas e os argumentos para a discussão da eutanásia. Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, vol.42, n.138, pp. 109-129, 2015.
Dissertações e teses
2025
O presente estudo analisa a realidade da assistência à saúde para pessoas adultas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Brasil, destacando as dificuldades no acesso a tratamentos especializados e a ausência de cobertura específica tanto na rede pública quanto nos planos de saúde. Historicamente, essa população enfrenta barreiras significativas, que vão desde a dificuldade de comunicação e interação social até desafios na adaptação a mudanças e sensibilidades sensoriais específicas. Atualmente, observa-se que os planos de saúde não dispõem de profissionais devidamente capacitados para atender pessoas adultas com TEA, uma vez que o foco do atendimento geralmente se restringe à infância. Além disso, há casos em que os planos de saúde negam o tratamento ou não têm profissionais habilitados para prestação do serviço, encaminhando os pacientes a instituições privadas, configurando violação contratual por parte desses planos. O Brasil ainda carece de uma estrutura administrativa eficaz para lidar com o autismo na fase adulta, tornando evidente a necessidade de uma intervenção legislativa urgente. Diante desse cenário, surge a questão de como a saúde pública e os planos de saúde suplementar no Brasil atendem às necessidades das pessoas adultas com Transtorno do Espectro Autista, bem como quais são os desafios legais e estruturais que dificultam o acesso adequado ao tratamento especializado para essa população. A legislação brasileira, por meio do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não prevê cobertura específica para o tratamento contínuo do TEA na fase adulta. Essa lacuna contribui para a invisibilidade dos indivíduos adultos autistas no sistema de saúde, deixando-os sem o suporte necessário. Diferentemente do Brasil, países desenvolvidos já implementam legislações específicas há décadas, assegurando acompanhamento integral desde a infância até a vida adulta. Sendo assim, destaca-se a importância da criação de políticas públicas eficazes e de uma reestruturação administrativa que garanta mais qualidade de vida às pessoas adultas com TEA e seus familiares. O reconhecimento desse grupo como sujeito de direitos é fundamental para a construção de uma sociedade mais inclusiva e equitativa. Por meio de uma análise bibliográfica documental, originou-se sustentação teórica – por meio de livros, artigos científicos e biblioteca virtual –, caracterizando como descritiva e qualitativa que tem fulcro em garantir a precisão no estudo de fatos sociais, adotando os métodos dedutivos e indutivos para a construção da análise e, consequentemente, a conclusão e os resultados obtidos. O caráter descritivo possibilitou descrever o fenômeno pesquisado, enquanto o caráter qualitativo ofereceu condições de filtrar e selecionar todo o material coletado. Os métodos de pesquisa foram a abordagem dialética, tendo em vista os perfis históricos apresentados; e a abordagem hermenêutica, tendo em vista a preocupação e sensibilidade apresentada à classe dos autistas.
O presente estudo analisa os limites da cobertura assistencial do tratamento do transtorno do espectro autista (TEA) pelos planos de saúde, mediante análise jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A pesquisa justifica-se pelo impacto das alterações regulatórias recentes, especialmente a Resolução Normativa nº 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que ampliou significativamente as obrigações de cobertura para tratamentos multidisciplinares destinados a pacientes com transtornos globais de desenvolvimento. O trabalho adota metodologia exploratória e descritiva, privilegiando a pesquisa jurisprudencial junto ao STJ, com análise de precedentes posteriores às alterações normativas de 2022, que constituem o marco temporal da investigação.O estudo demonstra que o TEA caracteriza-se como distúrbio de neurodesenvolvimento que demanda intervenção multidisciplinar intensiva, envolvendo terapias diversas. A análise revelou que o STJ já tem sido provocado a se manifestar sobre diversos aspectos da cobertura assistencial de tratamentos do transtorno do espectro autista, já tendo, inclusive, firmado alguns posicionamentos bem consolidados sobre a matéria. Quanto à rede assistencial, verificou-se que as operadoras devem indicar prestadores aptos a executar os métodos prescritos, sendo devido o reembolso integral quando comprovada a inexistência ou indisponibilidade de profissionais credenciados. A jurisprudência da Corte Superior se inclina, ainda, ao entendimento de que o tempo de deslocamento até o prestador não pode inviabilizar a continuidade do tratamento, impondo às operadoras o dever de garantir acesso próximo à residência do beneficiário. Relativamente às metodologias terapêuticas, a pesquisa identificou posicionamento consolidado do STJ pela obrigatoriedade de cobertura da musicoterapia e das terapias com suits (Therasuit e Pediasuit), enquanto o entendimento acerca da equoterapia sofreu alguma mudança após o julgamento da ADI 7.265 pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto à estabilidade contratual, o estudo demonstrou que o STJ tem aplicado extensivamente o Tema Repetitivo 1.082 aos pacientes com TEA, vedando a rescisão unilateral durante tratamento multidisciplinar, inclusive após o prazo do artigo 30 da Lei 9.656/98. Por fim, identificou-se que a negativa indevida de cobertura de tratamentos multidisciplinares, segundo entendimento do STJ, não configuraria dano moral presumido. A pesquisa conclui pela existência de jurisprudência predominantemente protetiva aos direitos dos pacientes com TEA, embora persistam lacunas e divergências que demandam aprofundamento.
A crescente judicialização da saúde suplementar no Brasil tem comprometido a sustentabilidade financeira das operadoras de planos de saúde e a eficiência do sistema judiciário. Este estudo investiga de que modo a adoção de programas de compliance contribui para a construção de uma cultura de integridade e para a prevenção de litígios no setor. Parte-se da hipótese de que a implementação dos pilares do compliance — especialmente governança corporativa, controles internos e gestão de riscos — favorece a redução das demandas judiciais e fortalece as relações institucionais com consumidores, prestadores de serviços e órgãos reguladores. O objetivo geral é demonstrar que, além de assegurar conformidade legal, mapearemos as demais vantagens obtidas pela implementação de um programa estruturado de compliance, bem como também mecanismo estratégico de mitigação de riscos e contenção de desperdícios oriundos da litigiosidade excessiva. Os objetivos específicos incluem identificar os principais conflitos jurídicos enfrentados pelas operadoras, descrever os pilares do compliance aplicáveis ao setor e analisar todas as vantagens obtidas pela implementação de um programa robusto, como também os mecanismos podem prevenir litígios e incentivar soluções consensuais. A pesquisa adota abordagem dedutiva e qualitativa, com base em revisão bibliográfica e documental, análise jurisprudencial de decisões dos tribunais superiores e do Tribunal de Justiça de São Paulo, além do exame de normativas regulatórias, com destaque para o Decreto nº 11.129/2022. Os resultados indicam que 88% das ações contra operadoras resultam em condenações, sendo a negativa de cobertura a principal causa. Conclui-se que o compliance, quando estruturado de forma eficaz, constitui ferramenta essencial à desjudicialização da saúde suplementar, promovendo segurança jurídica, confiança institucional e eficiência na gestão dos recursos.
A dissertação que ora se apresenta, insere-se no campo do Direito da Saúde, com enfoque crítico e interdisciplinar, abordando o tráfico de órgãos humanos sob as perspectivas penal, bioética e constitucional. O estudo parte da constatação de que o tráfico de órgãos constitui grave violação à dignidade da pessoa humana e evidencia a insuficiência da tutela estatal diante de um comércio clandestino que explora populações vulneráveis. Fundamentado na análise dogmática e crítica do Direito Penal, o trabalho examina a legislação brasileira, especialmente a Lei nº 9.434/1997 e o artigo 149-A do Código Penal, à luz do princípio da vedação de proteção deficiente (Untermassverbot), questionando a adequação e a proporcionalidade da resposta penal. Adota-se metodologia bibliográfica e documental, com base em doutrina nacional e estrangeira, além da análise de casos concretos. A pesquisa revela que, embora a legislação tipifique o tráfico de órgãos e de pessoas para essa finalidade, a ausência de sua classificação como crime hediondo e a pena reduzida atribuída ao delito configuram uma resposta penal insuficiente e desproporcional à gravidade do bem jurídico violado. O estudo conclui pela necessidade de reformulação da política criminal brasileira, defendendo a inclusão expressa do tráfico de órgãos no rol dos crimes hediondos como medida de efetivação do dever constitucional de tutela da dignidade humana e de fortalecimento da proteção jurídica no âmbito penal.
2023
A Reforma Psiquiátrica Mundial teve como base de inspiração as ideias de Franco Basaglia, que revolucionou a psicologia forense no final da década de 60, abordando a importância da terapia no tratamento de pessoas com transtornos mentais. A importância que seus estudos atingiram na psiquiatria não passou despercebido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que após intensos debates inicializados na década de 70, fulminaram, com a inauguração da reforma psiquiátrica nos países ibero-americanos, na década de 90. No Brasil, a visita do italiano, no final da década de 70, e suas críticas contundentes sobre o Hospital Colônia de Barbacena/MG, plantou o sentimento antimanicomial, que se traduziu, inicialmente, com a reforma penal de 1984 e desembocou na Lei Antimanicomial n.º 10.216, de 2001. O objetivo da presente pesquisa é discorrer sobre esta Reforma Psiquiátrica realizada no Brasil e as consequências da publicação desta lei na efetivação do direito à saúde mental dos portadores de transtorno mental em conflito com a lei, através de uma análise jurídica da aplicabilidade desta lei em diálogo com a medida de segurança, tendo em vista o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, bem como apontar as falhas do sistema penal-psiquiátrico na implementação da desinternação de tais detentos diante do isolamento sistemático e estrutural que o portador de transtorno mental sofre ao cometer um crime. Outrossim, busca-se uma análise crítica sobre as dificuldades da aplicabilidade real da Lei antimanicomial diante da estrutura precária e da ausência de servidores qualificados para um real desenvolvimento de políticas públicas que permitam a reinserção do recluso portador de transtorno mental.
O presente trabalho tem como objetivo contextualizar a respeito à saúde como direito fundamental a partir da Constituição de 88 e a contemplação dessa atenção através do SUS. Serão abordados direitos da pessoa com deficiência, com ênfase na pessoa com paralisia cerebral, com embasamento nas Diretrizes de Atenção à Pessoa com PC. Através da análise de cartilhas, manuais e diretrizes estabelecidos pelo Ministério da Saúde, bem como, revisão bibliográfica de artigos científicos. Busca-se verificar a articulação intersetorial necessária para a assistência integral deste segmento da população, quais políticas públicas são oferecidas, visando a necessidade de intervenções eficazes, especializadas e direcionadas, com embasamento em evidências científicas. Sendo assim, é possível refletir a respeito da articulação em rede, avanços e desafios, além da análise sobre a implementação de centros especializados ao tratamento da pessoa com paralisia cerebral no Brasil, que atuem de forma interdisciplinar, intersetorial, custeados pelo SUS, e que ofereçam tratamento eficaz direcionado à pessoa com PC, buscando estudar e propor terapêuticas de modo a prevenir, minimizar sequelas consequentes destas lesões cerebrais, além de promover bem-estar, qualidade de vida e autonomia a esses sujeitos.
A pesquisa apresenta os desafios para a conquista do direito de cidadania no SUS, a maior política pública do Brasil e as boas práticas desenvolvida no município de Santos, pioneiro em políticas públicas inovadoras, para a população em situação de rua que apresenta as maiores vulnerabilidades. A investigação percorre as vulnerabilidades da população em situação de rua, os desafios na implementação de políticas públicas, os programas, projetos e políticas públicas desenvolvidos em Santos e a importância da intersetorialidade, da transversalidade dos serviços, da ampliação cadastral da população de baixa renda nos programas de transferência de renda e da valorização dos profissionais da linha de frente da abordagem. As especificidades da população em situação de rua, pelo seu modo de sobrevivência nas ruas, representam obstáculos para o acesso aos serviços de saúde. Estigmatizada e marginalizada, a população em situação de rua sofre preconceitos, são vítimas de violência sexual, policial, urbana, institucional, com grande dificuldade de construção de vínculos de confiança com os agentes dos serviços. A maior parte dela fazendo uso de álcool e droga e os vínculos familiares enfraquecidos, enfrenta dificuldades de autocuidado, condições sanitárias precárias, insegurança, perda de documentos e pertences, privação de descanso e saúde mental afetada. A intersetorialidade dos serviços do SUAS tem papel fundamental para a oferta dos serviços de saúde e da diversidade de serviços e direitos sociais que essa população sofre como frequentes violações e o Estado não consegue abarcar. A metodologia da pesquisa é a abordagem qualitativa, o método de coleta e análise dos dados é bibliográfica e documental, direta e indireta, observação da vida real a partir de investigações etnográficas.
O presente trabalho objetiva analisar se os direitos sexuais e reprodutivos podem ser considerados direitos fundamentais e, diante deste caráter, verificar se há alguma inconstitucionalidade nos requisitos fixados pelo artigo 10 da Lei nº 9.263 de 1996 para esterilização voluntária. Optou-se a focar no caso específico das mulheres, vez que é sobre elas que recai a maior parte do ônus decorrente da reprodução e da criação dos filhos. O método adotado é o dedutivo, mediante análise bibliográfica e jurisprudencial. Como resultado, aferiu-se que os direitos sexuais e reprodutivos estão protegidos pela Constituição Federal, com fundamento principalmente nos artigos 1º, inciso III e 226, §7º. Diante disso, verificou-se que os requisitos impostos pela Lei nº 9.263 de 1996 para laqueadura tubária são demasiadamente restritivos, o que foi apenas parcialmente sanado pela alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.443 de 2022. Concluiu-se, portanto, que os direitos sexuais e reprodutivos são direitos fundamentais, que a Lei nº 9.263 de 1996, mesmo em sua redação mais atual, representa afronta a eles, ensejando a inconstitucionalidade do inciso I de seu artigo 10.
Um estudo realizado pela Fundação Perseu Abramo, em 2010, estimou que uma a cada quatro mulheres, nas maternidades brasileiras, sofre algum tipo de violência durante o parto. As violências praticadas se materializam sob a forma de xingamentos, comportamentos autoritários por parte dos profissionais de saúde e a realização de procedimentos dolorosos e com ausência de consentimento da parturiente. A presente dissertação tem como objetivo um levantamento, não exaustivo, dos mecanismos utilizados pelo Ministério Público, em especial, pelo Ministério Público Federal, para assegurar uma política de humanização do parto e para coibir casos de violência obstétrica. Através da análise qualitativa das Recomendações, Audiências Públicas e Ações Civis Públicas de autoria do Ministério Público Federal, buscou-se demonstrar como o Parquet federal compreende o fenômeno da violência obstétrica e como se dá, em juízo e extrajudicialmente, o combate a tal forma de violência de gênero. A seleção das Ações, Recomendações e Audiências públicas foi realizada por consulta no site institucional do MPF (https://www.mpf.mp.br/), entre julho de 2022 e janeiro de 2023. Outrossim, por meio de um compilado bibliográfico, doutrinário, normativo, legislativo e jurisprudencial, analisou-se quais instrumentos, nacionais e estrangeiros, são eficazes no fortalecimento de uma política pública de humanização do parto. Concluiu-se que, apesar de, no Brasil, não existir um tipo criminalizador específico para a violência obstétrica, há instrumentos legais (nacionais e provenientes das disposições de tratados e convenções de direitos humanos) para a responsabilização dos infratores, os quais podem ser utilizados pelo Ministério Público Federal. Quanto a esse ponto, foi editada a Recomendação nº 96, de 28 de fevereiro de 2023, do Conselho Nacional do Ministério Público, que recomenda aos ramos e às unidades do Ministério Público a observância dos tratados, convenções e protocolos internacionais de direitos humanos, das recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em sua atuação. Ademais, em relação ao combate à violência obstétrica, verificou-se que o Ministério Público Federal enquadra a VO como violência de gênero e tem procurado combatê-la com mecanismos majoritariamente extrajudiciais, a exemplo das atuações exitosas da Procuradoria da República no Estado de São Paulo e da Procuradoria da República no Estado do Amazonas. Assim, caminha o Parquet federal, pelo menos nessa temática, para o modelo de Ministério Público resolutivo.
O presente trabalho aborda os direitos da pessoa com deficiência, com ênfase na população com Transtorno do Espectro Autista, com embasamento na Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Busca-se verificar quais políticas públicas são oferecidas para esta população com ênfase em práticas integrativas e complementares ofertadas pelo SUS, tendo em vista a necessidade de intervenções de musicoterapia, com embasamento em evidências cientificas. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, em que foram utilizados mais de 70 estudos como base. Sendo assim, verifica-se ser possível oferecer intervenções de musicoterapia custeadas pelo SUS, que ofereçam tratamento direcionado para esta população, buscando desenvolver habilidades sociais, manejar comportamentos disruptivos, melhorar prognósticos, além de promover bem-estar e autonomia. Além disto, o reconhecimento da musicoterapia enquanto uma terapia médica é imprescindível para torná-la uma política de Estado, universal a todos os usuários da rede pública de saúde.
A Lei nº 13.431/2017, conhecida como Lei da Escuta Protegida, estabelece no Sistema de Garantia de Direitos para Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de violência (SGDCA) o Depoimento Especial e a Escuta Especializada. Esta pesquisa tem por finalidade a busca por uma melhor compreessão da Lei 13.341/2017, estabelece um marco legal, construído à partir do sistema jurídico com garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, com alteração trazida à Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). O assunto visa também instigar a reflexão acadêmica e social com intuito de dar visibilidade acerca dos direitos e garantias fundamentais no tocante a Lei 13.341/2017 que criou mecanismos de prevenção na tentativa de intimidar e impedir qualquer ato de violência contra o menor vulnerável nos termos do artigo 227 da Constituição Federal de 1988, entre outros dispositivos jurídicos, da Convenção sobre os Direitos da Criança e seus protocolos adicionais, destacam-se também a Resolução nº 20/2005 do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e outros diplomas internacionais. São medidas de cautela que visam a proteção integral do menor em razão da sua vulnerabilidade, por não dispor de uma estrutura mínima de entendimento necessária para se defender, em face dos abusos que sofre junto a conduta hostil do agressor. O presente estudo não tem a pretensão de esgotar o assunto, apenas estimular a discussão e a leitura do tema que nos remete às implicações diversas, não rara as vezes, de natureza grave, seja na saúde física ou psicossocial, com reflexos que produzem desordens emocionais na criança e adolescente, ora abusados, nos espaços frequentados, sobretudo nos ambientes familiares e também na sociedade em geral, fatos corroborados a partir da análise bibliográfica pesquisada (livros, periódicos jurídicos, etc) e documental (leis, jurisprudências, manuais, pareceres, normas legais), nos moldes do arcabouço metodológico, constituindo deste modo, vertentes específicas do tema investigado.
Esta pesquisa estudou a judicialização do direito à saúde no município de Santos, sob a perspectiva da Administração Pública. A judicialização é o fenômeno atribuído a solução de controvérsias de variadas prestações de saúde pública e privada pelo Poder Judiciário. Foi realizada com o estudo exploratório, descritivo, longitudinal, com uso de técnicas mistas de levantamento e análise dos dados coletados no Diário Oficial do Município, site de contratações públicas utilizado pela Prefeitura Municipal de Santos e Dados Abertos do Portal da Transparência do Município de Santos. No período de 2021 e 2022, foram analisados 379 (trezentos e setenta e nove) casos de aquisição de medicamentos e insumos, sendo 279 (duzentos e setenta e nove) procedimentos licitatórios na modalidade Pregão Eletrônico e 98 (noventa e oito) de contratação direta. Dentre o total de 279 (duzentos e setenta e nove) procedimentos analisados, identificou-se que 160 (cento e sessenta) procedimentos licitatórios foram realizados em decorrência de ordem judicial. Sendo o restante, 119 procedimentos, decorrente de aquisição comum da assistência farmacêutica do Município. A pesquisa demonstrou que mais de 50% (cinquenta por cento) das aquisições de medicamentos e insumos pela Secretaria Municipal de Saúde de Santos, é decorrente de ordem judicial. Portanto, a judicialização da saúde no município de Santos impacta diretamente no planejamento e no orçamento da cidade. Acresce-se ainda, que as pesquisas demonstraram que grande parte dos medicamentos adquiridos pelo município para cumprir decisões judiciais servem ao fornecimento de medicamentos e insumos que fazem parte das listas da União e dos estados. Por fim, em que pese o Supremo Tribunal Federal reconheça há repartição de competências no que se relaciona à assistência à saúde por parte do poder público, contudo, foi infeliz ao não limitar a solidariedade dos entes às obrigações impostas a cada uma pela ordem jurídica pátria, pois, a solidariedade não pode ser absoluta a ponto de esvaziar outros preceitos constitucionais de igual forma aplicáveis na espécie, a exemplo da universalização, descentralização e hierarquização do SUS, o princípio do equilíbrio fiscal das contas públicas, sem prejuízo da divisão de atribuições já previstas em lei federal
O presente trabalho busca estudar a teoria geral da responsabilidade civil contratual para acurar a validação das teorias que influenciam na interpretação, hermenêutica e aplicação da responsabilização do profissional nas relações contratuais com os pacientes com quem contrata. Assim, procuramos estudar as teorias jurídicas que envolvem todas as discussões preliminares, basilares, históricas, ou seja, os institutos jurídicos que se inter-relacionam para chegar à responsabilização do profissional liberal. O presente estudo usa a metodologia de pesquisa, que foi por meio de referência bibliográfica, trazendo diversos autores nacionais e estrangeiros que tratam do tema, com a leitura analítica, inferência e interpretação de textos, com os respectivos fichamentos e resumos, realizando a revisão narrativa do projeto de pesquisa. Nossos referenciais teóricos são a Teoria Geral das Obrigações e da Responsabilidade Civil nacionais e estudando um pouco autores estrangeiros. Nos nossos estudos nos revelou que, muitas das vezes, há a mistura de conceitos jurídicos, a fim de justificarem a aplicação do dever de indenizar, confundindo-se conceitos. Também, como não poderia de ser, também, há a teoria dos diálogos das normas, ou seja, se complementando, principalmente, no que toca à responsabilidade civil contratual. Isto se dá, por exemplo, na medida que, o Código de Defesa do Consumidor não traz o que seria responsabilidade civil, apesar de prever em seu bojo o dever de indenizar, além, de prever quando se aplica a teoria objetiva ou quando a subjetiva, sendo que o amparo conceitual se encontra no Código Civil de 2002. Sendo certo, que aqueles institutos estão desenvolvidos e previstos na parte geral e especial do Código Civil brasileiro, seja na parte geral, na parte de obrigações, ou ainda, na parte da responsabilidade civil, sendo que este último, ainda nos remete ao primeiro logo no início. Diante disto, temos que a integração do sistema jurídico é a base para a responsabilidade civil contratual, e mais, isto quando falamos de obrigação principal, porém, ainda temos as obrigações anexas, decorrentes da boa-fé objetiva, obrigações pré e pós-contratuais, e não menos importante, podemos citar as quase-obrigações. De tal modo, não vamos esgotar o tema com esta dissertação, porém, esperamos iniciar a construção de uma teoria geral sobre um contrato tão importante nas relações sociais com tantas consequências jurídicas, demonstrando a incidência nas relações da sociedade, assim, a título de exemplo, é necessário a distinção entre as obrigações e suas consequências, principalmente, quanto ao inadimplemento absoluto ou relativo (mora), e as consequências da parte especial do livro das obrigações nas relações discutidas no presente trabalho ou aplicação da teoria geral dos contratos. Por fim, o presente trabalho buscará analisar, e não esgotar o tema, pois não possui esta pretensão, mas trazer ao debate de qual teoria dá suporte para o dever de indenizar quando houver inadimplemento absoluto ou relativo nos contratos médicos entre os profissionais liberais e os pacientes contratantes, e ainda, diante de quais obrigações se aplica uma ou outra teoria, como por exemplo, na principal e anexas, esta última, decorrentes da boa-fé, se aplica a mesma teoria, e no pré e/ou pós-contratual, seria qual ou quais teorias, e nas quase-principais teria teoria para amparar o dever de indenizar, e se tem qual seria.
Esta pesquisa se propõe a investigar a necessária interdisciplinaridade entre bioética e biodireito face ao avanço da biotecnologia, com foco nas novas tecnologias de bioimpressão 4D e como são realizadas a incorporação destas tecnologias pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Quanto à escolha metodológica, define-se o emprego de uma pesquisa qualitativa, de cunho exploratório e descritivo. Com respaldo dos métodos de abordagem dialético e sistêmico, dos métodos de coleta bibliográfico e documental, valendo-se da análise de legislação, doutrina e artigos científicos disponíveis em meio físico e digital e do método procedimental de análise qualitativa, com o emprego de análise do discurso. As constantes evoluções tecnológicas da medicina e das ciências da área da saúde impactam a cultura da sociedade e exigem uma resposta do direito, para seus anseios, de diretrizes do que venha a ser adequado ou mesmo moral para assegurar e proteger o indivíduo em sua integralidade. Biodireito e a Bioética tornam-se simultaneamente ciências imprescindíveis para regularem a atuação da medicina e das novas biotecnologias. O crescimento de pesquisas na área da saúde, em especial a bioimpressão de órgãos 4D, evidencia o caráter multidisciplinar e a variedade de oportunidades na área da saúde humana, tanto no cenário econômico quanto na melhoria da qualidade de vida humana. Por conseguinte, é preciso abordar os aspectos, as semelhanças e a interdependência que existe entre o Biodireito, a Bioética e a Biotecnologia e como este diálogo multidisciplinar pode contribuir para a efetivação normativa, econômica, social e incorporação destas tecnologias, buscando a qualidade de vida sem ferir a dignidade humana. No primeiro capítulo, conceitua-se a ética, a moral e os valores. Explica-se o que é a bioética, sua finalidade e princípios basilares e como funcionam os comitês de bioética nos hospitais. No segundo capítulo, conceitua-se o biodireito, seus princípios norteadores, sua relação com a bioética e porque considera-se uma nova disciplina. Ademais, expõe-se a Teoria da Ponderação proposta por Robert Alexy, como método para resolução de conflitos entre princípios e regras. Neste âmbito, evidencia o uso da mediação como proposta para solução de litígios na judicialização da saúde. No terceiro capítulo, explica-se a biotecnologia, seus avanços e impactos na sociedade, com ênfase na Lei de Biossegurança que a regula no Brasil. No quarto capítulo, desenvolve a importância do SUS, seus princípios e diretrizes, qual o impacto e como se incorporam e regulamentam as novas tecnologias em saúde. Discorre sobre o complexo econômico industrial da saúde e seus objetivos. Explana sobre a quarta revolução industrial e o desenvolvimento da bioimpressão de órgãos, seus avanços e conquistas.
A análise do comportamento abrange a investigação básica de processos comportamentais, produções reflexivas ou metacientíficas e intervenções voltadas à solução de problemas humanos, é uma ciência do comportamento, que estuda a interação do indivíduo com o ambiente. A escolha deste tema se deu pela ausência de um conselho regulamentador da profissão de analista do comportamento no Brasil, considerando a importância dela para definir a competência, autoridade, qualidade e legislação em comparação aos Estados Unidos, o qual é regulamentada, garantindo um padrão de qualidade para os pacientes, além de possuir uma legislação própria. Este é um estudo bibliográfico com abordagem qualitativa, com abordagem exploratória em relação às legislações específicas desses países, através de uma análise comparativa por meio de pesquisa documental, delimitadas até o mês de dezembro do ano de 2022. O objetivo é comparar a regulamentação para aplicação desta ciência entre Brasil e Estados Unidos. Atualmente a profissão de analista do comportamento não é regulamentada no Brasil, porém, com o crescimento na procura e oferta de serviços nesta área pesquisadores, estudantes e profissionais estão buscando uma maior qualidade na formação desses indivíduos e como consequência, na prestação de serviços., sendo a regulamentação um meio eficaz de estabelecer padrões mínimos de qualidade, definindo as áreas de atuação, os níveis de desempenho, criando regras para garantir os direitos e deveres dos profissionais e dos usuários do serviço. Desta forma, leva o reconhecimento positivo por parte do público atendido, de outros profissionais, entidades governamentais e privadas. O programa para emissão do selo de acreditação proposto pela Associação Brasileira de Ciências do Comportamento (ABPMC) está inacabado, o que distingue dos programas encontrados nos Estados Unidos. Esses resultados contribuem de forma positiva para a regulamentação da profissão de analista do comportamento no Brasil
Há notório debate sobre a necessidade de maior aporte de recursos para o Sistema Único de Saúde – SUS; entretanto, pouco se tem buscado discutir as raízes do seu financiamento e a participação de cada ente federativo na execução dos serviços em comparação a sua capacidade contributiva. Neste aspecto, o presente trabalho propõe a análise inicial sobre a participação federativa, sob enfoque do marco constitucional no financiamento da saúde na cidade de Mauá e, para isso, foram analisadas a estrutura e cobertura do sistema de saúde, inclusive no âmbito legal, a formação histórica e demográfica do município e a sua execução orçamentária com a participação do estado de São Paulo e União, uma vez que o implemento do serviço de saúde mauaense engloba o recebimento de usuários do SUS dos municípios vizinhos. Notou-se uma possível ineficiência na alocação de recursos em ações de saúde pública e gestão de suprimentos público hospitalar, caráter regionalista dos atendimentos de saúde pública mauaense e a necessidade de maior aporte orçamentário e financeiro dos entes federados no SUS de Mauá.
Trata-se de uma análise a respeito do Direito Internacional Humanitário, com foco no Direito Internacional dos Conflitos Armados e formação do Tribunal Penal Internacional na busca por minimizar os impactos na saúde mental dos civis expostos ao cenário de guerra. Além do arcabouço jurídico internacional é apresentado, no presente estudo, a importância que assume o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e sua influência na normatização do Direito Internacional Humanitário, bem como a fundamental atuação da Organização Mundial de Saúde nas crises humanitárias relacionadas a temática aqui discutida. Dentre os transtornos mentais a que esta parcela se torna suscetível, aqui serão abordados os transtornos mentais associados aos conflitos armados, como o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), a depressão, a ansiedade, transtorno de sono e a ansiedade generalizada, bem como busca identificar fatores de risco e protetores para a saúde mental dos civis que vivem ou viveram em áreas de conflito. São discutidos também os desafios que foram e são enfrentados pela OMS no tratamento da saúde mental dos civis em área de conflito e as projeções para sua atuação no território ucraniano. E a partir disso, busca-se apresentar implicações para a prática clínica e para políticas públicas e sugestões para futuras pesquisas sobre o tema.
A história da doença mental mostrou o quanto era necessária uma reforma no tratamento dispensado ao paciente acometido por transtornos mentais. Desde o primeiro ato de libertação das correntes promovido por Philippe Pinel no final do Séc. XVIII, o que pode ser considerada a primeira reforma psiquiátrica, até os movimentos empreendidos durante todo o Séc. XX, pudemos observar uma revolução positiva no tratamento prestado ao doente. No Brasil, após inúmeros movimentos e influência do Direito Internacional, ocorreu a aprovação da Reforma Psiquiátrica promovida pela Lei 10.216/01, atualmente vigente. No âmbito do SUS houve a criação da Rede de Atenção Psicossocial com base na desinstitucionalização da internação, como medida de controle. A Marinha do Brasil pautou sua política de saúde mental conforme os ditames da reforma psiquiátrica substituindo medidas de institucionalização que demandem internação psiquiátrica, objetivando estimular e dar apoio aos doentes em suas atividades cotidianas com a finalidade no retorno ao convívio com a família e comunidade com segurança. O objetivo do trabalho é apresentar a política de saúde mental conduzida pela Marinha Brasil levada a efeito conforme regras dispostas pela Lei 10.216/01, realizando um paralelo com a Política de Saúde Mental desenvolvida pelo Ministério da Saúde sob um contexto histórico das anteriores reformas e da doença de mental, a fim de garantir o acesso a saúde ao usuário do Sistema de Saúde da Marinha acometido por transtorno mental. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa e o método exploratório baseado na pesquisa bibliográfica. Os dados obtidos demonstram que a Política de Saúde Mental desenvolvida pela Marinha do Brasil atende as regras dispostas na Reforma promovida pela Lei 10.216/01, pois procurou se basear em terapias extra-hospitalares, mantendo a internação na Unidade Integrada de Saúde Mental ou conveniada como última forma de tratamento, visando o retorno adequado do doente a sua família e comunidade, bem como que uma integração física de serviços de saúde, na forma de complexo, garante um melhor acesso a saúde ao paciente acometido de transtorno mental.
O presente trabalho tem por escopo o estudo da diplomacia das vacinas no combate à pandemia da Covid-19. Diante da propagação do coronavírus e suas variantes, destacou-se a necessidade de cooperação e solidariedade internacional em resposta à crise global de saúde. A diplomacia da vacina é uma parte crítica dessa resposta, pois pode ajudar a construir um sistema de saúde global mais sustentável e equitativo, ao mesmo tempo em que promove a recuperação econômica e apoia as populações mais vulneráveis. Neste sentido, o problema central desse estudo se concentra exatamente em descrever o papel da diplomacia das vacinas como forma de efetivação do direito humano à saúde no combate à Covid-19. Os objetivos traçados foram o de descrever a doença causada pelo novo coronavírus, denominado SARSCoV-2 e suas principais implicações, estudar a importância das vacinas na efetivação do direito fundamental à saúde, analisar a evolução da diplomacia da saúde e o papel da diplomacia das vacinas no combate a pandemia da COVID-19. Quanto à metodologia, a pesquisa é qualitativa e descritiva, utilizando como método de coleta a documentação indireta e documental. A análise dos dados é feita a partir de uma revisão bibliográfica. Ao final, o fenômeno vivenciado atestou que os problemas relacionados à saúde necessitam de respostas globais e uma cooperação internacional cada vez mais estruturada e eficaz.
Esta pesquisa busca contribuir com o entendimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde (CEIS), com ênfase sobre os desafios da consolidação da saúde como um direito no Brasil. O tema se justifica pelo fato de o CEIS colaborar para o avanço tecnológico e produtivo do país, possibilitando a geração de renda e emprego, além de contribuir para a melhoria do atendimento em saúde para todos, através da consolidação da Telessaúde, inseridos na rede de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS), construindo um sistema de proteção social para todos. Logo, ele também será visto como um importante instrumento na conquista da cidadania. Diversos autores apresentam diferentes definições para os termos Telemedicina e Telessaúde, variando em sua amplitude, incluindo suas funções, envolvimentos institucionais e profissionais, contextos e objetivos a serem alcançados. De maneira geral, todos esses conceitos se referem à aplicação das tecnologias de comunicação e informação que não se restringem apenas ao atendimento médico imediato e, muitas vezes, são utilizados como sinônimos. Convém ressaltar que a opção por se empregar os termos Telemedicina e Telessaúde como sinônimos foi empregada neste trabalho. O objetivo principal é identificar e analisar de que forma o fortalecimento das capacidades produtivas e de inovação em saúde, relacionadas ao CEIS, podem impulsionar o uso da Telessaúde na rede de atendimento do SUS como ferramenta de ampliação do acesso à assistência à saúde no Brasil. A metodologia da pesquisa caracteriza-se pela busca de material bibliográfico, de caráter exploratório e com revisão narrativa. Os resultados mostram que a implantação de técnicas de comunicação no campo da saúde, como a Telessaúde, propõe mudanças substanciais, não apenas em termos de tecnologia, mas também em relação a novos aportes políticos e organizacionais. Mostram também que as experiências de incorporação de práticas de saúde, incluindo a Telessaúde, apontam para a possibilidade de avanços e consolidação do acesso à saúde de qualidade como direito de todos
O trabalho tem por objeto a análise da atuação de agentes públicos em relação aos autores de crime e às vítimas portadoras de transtorno mental, visando ao aperfeiçoamento da política de segurança pública, notadamente a atuação da polícia judiciária com relação a esse grupo de pessoas. Para tanto, analisa-se o histórico de como essas pessoas foram tratadas pelas políticas públicas ao longo do tempo e como a dogmática penal regulamentou o assunto e evoluiu a partir de apurações científicas, especialmente da criminologia, que teve inicialmente no transtorno mental uma explicação simplista para o fenômeno criminal, mas que já se deu conta da complexidade da criminogênese. Sem se esquecer das vítimas de crime e da necessária proteção suficiente a esse grupo, o trabalho analisa também como elas são tratadas pelo direito penal e pelas políticas públicas existentes, buscando responder se há necessidade, ou não, de um estatuto próprio e único para as vítimas de crime. Por fim, o trabalho foca na investigação adequada e na proteção suficiente que devem ser despendidas às pessoas com transtornos mentais pela Polícia Judiciária, incluindo a análise da experiência da Academia de Polícia Civil de São Paulo na capacitação de policiais civis, abrangendo as discussões e as problemáticas em torno da avaliação da inimputabilidade no inquérito policial pela autoridade policial, e sugerindo padrões de atendimento e tratamento de autores e vítimas de crime com transtornos mentais.
O exercício da odontologia evoluiu e exige do profissional não somente o domínio da técnica e o aprimoramento contínuo, mas o conhecimento de toda a legislação aplicável à sua atuação, especialmente considerando que o contrato firmado com o paciente configura relação de consumo. O paciente também não é mais o mesmo. Com acesso à informação, o paciente assume uma postura mais atenta, crítica e questionadora em relação ao tratamento e a atuação do profissional, impactando em um aumento das ações judiciais por erro odontológico. Ante tal cenário, o presente trabalho objetivou verificar como a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP): (i) entende a responsabilidade civil no âmbito da odontologia, (ii) reconhece ou classifica a obrigação dos profissionais da odontologia e (iii) quais são as especialidades ou tratamentos odontológicos mais questionados. Como metodologia, utilizou-se: (i) o método exploratório descritivo, com a coleta de dados no sítio eletrônico de pesquisa avançada de jurisprudência do TJ/SP e pesquisa bibliográfica e documental, empregando-se o raciocínio lógico para interpretar as fontes normativas e doutrinárias e (ii) o método indutivo para a análise das decisões do TJ/SP coletadas (amostra com 196 acórdãos), buscando extrair ou revelar eventuais generalizações e sensos comuns contidos nos julgados. Com relação a estrutura, no primeiro capítulo, foram descritos os aspectos legais do exercício da odontologia, no segundo capítulo, abordou-se a questão teórica da responsabilidade civil e no terceiro e último capítulo foi apresentada de forma pormenorizada a metodologia e os resultados obtidos da análise da jurisprudência. Conforme esperado, verificou-se um aumento no número dos processos baseados em responsabilidade civil por erro odontológico nos últimos anos; em que pesem os pedidos de aplicação da teoria objetiva na relação contratual, a responsabilidade subjetiva do profissional foi considerada na maioria dos casos. Não se verificou uma expressa taxação da odontologia como obrigação de resultado, porém, se mostra preocupante esta crescente generalização, pautada em doutrina ultrapassada de Guimarães Menegale (1939) e perpetuada por José de Aguiar Dias. Os tratamentos mais questionados foram: prótese sobre implantes (64 casos); cirurgia de extração (32 casos); ortodontia (24 casos); prótese (23 casos) e endodontia (22 casos). Além das complicações inerentes aos tratamentos, foram debatidas as questões de falhas na documentação odontológica e na adequada informação do paciente, situações que agravaram as condenações dos fornecedores de serviços.
Na prática da medicina, através de decisões e atos que visam o bemestar ou mesmo a restauração da saúde dos pacientes, há várias oportunidades para que o médico se envolva em comportamentos criminosos. Devido a isto e à judicialização da medicina, o Direito Penal Médico evoluiu, uma nomenclatura adotada pela doutrina especializada que, inspirada na literatura alemã, vem expandindo constantemente o escopo de seu estudo. A análise da responsabilidade criminal durante a prática da medicina é da maior importância, uma vez que este profissional, após dedicar uma parte significativa de sua vida ao estudo teórico e à formação prática, é autorizado pelo Estado a praticar medicina, a fim de garantir a saúde e o bem-estar da população. Este especialista se encontra em diversas circunstâncias injustas devido à influência do bom senso sobre os tribunais e sua ignorância sobre sua fragilidade e os perigos inerentes ao seu ofício. O estudo atual tende a concentrar-se no campo criminal, lançando as bases para futuras pesquisas. A culpa médica é definida pelos erros e litígios mais antigos, que são objeto de repetidos argumentos de influência significativa, demonstrando o significado e a relevância do tema para a sociedade. Assim, o objetivo do trabalho atual é chamar a atenção para o Direito Penal de Responsabilidade Médica, seus princípios e as causas que contribuem para os erros mais comuns. Além disso, tenta abordar a escassez de pesquisas na área, proporcionando assim uma base para pesquisas futuras
O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária exerce um papel fundamental na sociedade, atuando como garantidor da saúde pública. No Brasil, é responsável pelo controle de uma grande variedade de produtos e serviços de diversas naturezas. O papel da Vigilância Sanitária ultrapassa as ações de eliminar, diminuir, prevenir e intervir, que seguem as diretrizes de regulação e controle. Trata-se de um abrangente e complexo campo de atuação, que permeia a criação de estratégias de prevenção, mitigação de riscos, entre outras ações de proteger a vida e manter a saúde pública. Para a realização das atividades de Vigilância Sanitária é necessária a utilização do poder de polícia, uma vez que, entre suas funções estão a regulamentação dos direitos individuais, visando o benefício do interesse coletivo. A Vigilância Sanitária atua como um setor do Estado especializado para a regulamentação em saúde, por meio de tecnologias e estratégias de intervenções e metodologias, que são recorrentemente atualizadas com conhecimento científico seguindo os princípios e objetivos estabelecidos pela CF/1988. Diante da importância das atividades empreendidas pela Vigilância Sanitária para a manutenção do bem-estar coletivo, o presente estudo tem como objetivo avaliar a possibilidade da delegação das atividades de poder de polícia sanitário a particulares, baseando-se nas doutrinas e jurisprudências atuais que discorrem sobre o tema. Para isso, foi utilizado o método de revisão da literatura, para levantamento do arcabouço acadêmico e jurídico acerca da questão da delegação de poder de polícia a particulares. Foram encontrados argumentos e interpretações favoráveis e contrárias no que tange a delegação a particulares, no entanto, baseando-se no tema mais recente e mais utilizado para defender a delegação a particulares (caso da BHTrans), existe jurisprudência e uma grande corrente jurídica que compartilha do entendimento de que a delegação a particulares é possível, desde que sejam estabelecidas prerrogativas e diretrizes claras e contundentes para a sua aplicação, garantindo o bem-estar coletivo e maior efetividade da administração pública.
2021
A judicialização das relações de saúde cresce cada vez mais, refletindo em insegurança no atuar profissional e prejuízo à prestação dos serviços à população em geral, diante do temor dos profissionais em se tornarem alvos de ações judiciais de erro médico de valores exorbitantes. Contudo, percebe-se que, por vezes, a condenação advém não propriamente de erro na prática médica, mas dificuldade em provar a ética, os protocolos e a técnica profissional e científica utilizadas durante o acompanhamento do paciente, devido a precariedade dos registros no prontuário e ausência de documentos essenciais. Assim,esse trabalho possui a finalidade de analisar o valor jurídico do prontuário para combater as condenações de erro médico. A metodologia adotada foi exploratória aplicando o método dedutivo na análise de doutrinas jurídicas, legislações federais, normativas do Conselho Federal de Medicina, e estudo de 14 (quatorze) julgados proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, todas de 2020, que tiveram dois descritores prontuário e erro médico. Através das condutas éticas profissionais e os conceitos jurídicos que permeiam o regime jurídico da responsabilidade civil dos médicos, para a demonstração da realidade de como o prontuário médico ecoa nas sentenças judiciais. Após a análise, concluiu-se que, embora seja o prontuário elaborado pelos profissionais da saúde como uma peça multidisciplinar de acompanhamento da evolução clínica do paciente, o zelo nos registros e manuseio do prontuário também apresentam profundo impacto sobre a interpretação dos magistrados e dos peritos judiciais quanto a existência de imprudência, negligência ou imperícia na prática profissional, especialmente nos casos em que o dano é derivado de iatrogenia ou intercorrência médica.
Pensar em higiene, saúde e segurança no trabalho é um tema constantemente desafiador, ainda mais se considerarmos que a maioria da doutrina aponta apenas para os riscos ocupacionais associados a profissões masculinas. A reflexão da condição básica de vida do ser humano, e, mormente da trabalhadora somente é possível se deixarmos de lado os padrões anteriormente utilizados. Assim tomamos como objeto de estudo a saúde, higiene e segurança do trabalho na perspectiva do trabalho da mulher. Para uma aproximação sobre esse objeto definimos como principal objetivo analisar as condições de trabalho da mulher em relação à sua saúde e segurança no trabalho. Considerando a abrangência do objeto, estabelecemos como objetivos específicos: analisar as perspectivas do trabalho da mulher na contemporaneidade; as condições de higiene e segurança do trabalho da mulher no ambiente de trabalho; as consequências que envolvem as condições de trabalho da mulher em relação à sua saúde física, mental e as questões jurídicas mais frequentes que ocorrem em relação ao trabalho da mulher. Para o desenvolvimento dessa dissertação optouse por um estudo qualitativo de natureza exploratória cuja metodologia para chegar aos objetivos propostos consistiu em uma pesquisa documental e bibliográfica realizada através de artigos, livros e periódicos que possibilitaram aprofundamento e discussão do tema em questão. Concluiu-se que é necessária uma legislação de proteção específica para a mulher em relação às normas de saúde e segurança no trabalho, permitindo a diminuição dos riscos ocupacionais pela inadequação de equipamentos de proteção, assim como o equilíbrio entre ambiente e trabalho de forma saudável e seguro para cada trabalhadora, atentando-se às suas características pessoais.
Este trabalho analisa as legislações e ações utilizadas para o combate a crise da COVID-19, no Brasil e na Alemanha, comparando as diferenças legislativas em relação a resposta à crise humanitária da COVID-19, com enfoque nas diretrizes da OMS sobre o tema. Para tanto, o trabalho se sustenta em uma pesquisa bibliográfica comparativa entre as legislações, com uma abordagem teórica e exploratória, pelo método qualitativo, que busca verificar os documentos produzidos pela OMS, dentro do período estudado que começa com o início da pandemia em janeiro de 2020 até março de 2021, além das leis produzidas pelos países, diretamente relacionadas a COVID-19 e seus resultados. No primeiro capítulo o trabalho analisa a construção das estruturas iniciais da Organização Mundial de Saúde, verifica a sua formação, iniciando pela ONU, com suas estruturas e as raízes da construção da OMS, bem como as regras de acionamento dos mecanismos de emergência, passando a apontar as diretrizes da OMS na COVID-19, de forma sistemática, descrevendo, na linha do tempo, o desenrolar da pandemia ora estudada. No capítulo 2, verifica a atuação da Alemanha, dentro do assunto apontado, descreve as construções legislativas ocorridas e as implicações relacionadas diante dos casos confirmados que foram encaminhados à OMS, o que exige o cotejo de legislação stricto e lato sensu, diante da especificidade do tema e pela flexibilização legislativa proporcionada. No capítulo 3, estuda a atuação do Brasil, descreve as construções legislativas, stricto e lato sensu e, as implicações relacionadas diante dos casos confirmados e mortes ocorridas, observando o resultado prático alcançado. No capítulo 4, compara as diretrizes exaradas pela OMS para o mundo e, consequentemente, para os países estudados, faz uma análise da efetividade da atuação destes países com seus alinhamentos, desalinhamentos, impactos e resultados, fazendo uma comparação entre os dados coletados no capítulo 3 e 4, relacionando-os à curva de indivíduos contaminados e mortes ocorridas, dentro do espectro estudado. Este trabalho conclui que a atuação dos países foi diferente. A Alemanha teve atuação primorosa dentro da União Europeia e teve um dos resultados mais expressivos em relação ao controle da pandemia, contando com uma sintonia entre os poderes instituídos e coerência na aplicabilidade da legislação, além de uma postura ativa, proporcionando como resultado um menor número contaminados e de mortes, ao contrário do Brasil que embora tenha produzido documentos jurídicos que fizesse frente ao COVID, a ação prática de seus governantes foi contrária ao disposto na legislação, produziu atitudes ‘contradictium in terms’ em relação à legislação posta, tendo resultados muito piores que a Alemanha, levando seu sistema de saúde à beira do colapso e, com 5 vezes mais mortes.
A presente obra trata sobre “consequências”, primárias e secundárias, da utilização de um procedimento de saúde junto à rede pública por um assistido da rede privada, desenvolvendo-se daí todo o trabalho. A consequência primária é conhecida e positivada através da obrigação legal do ressarcimento aos cofres públicos (artigo 32 Lei 9656/98). Obteve a constitucionalidade reconhecida pelo STF em 2018, nos autos da ADI 1931-8, com julgado alçado à sistemática da repercussão geral (RE nº 597.064), firmando a Tese de Repercussão Geral nº 345. Porém, outras consequências do mesmo fato são relevantes e ultrapassam a figura linear Estado-Operadora para assumir uma feição triangular mais ampla e atual, representada por Estado-Operadora-Consumidor, afinal, este último é diretamente envolvido neste mecanismo, advindo daí a problemática jurídica, social e econômica. No primeiro bloco, discorre-se sobre a obrigação legal, procedimento, o papel da ANS e a constitucionalidade do ressarcimento ao SUS. Já no segundo, verificaremos, sob o viés teórico, o impacto econômico-financeiro do ressarcimento, considerações gerais sobre o mercado de saúde e suas falhas, a responsabilidade social dos atores privados, o intervencionismo do Estado e a teoria das externalidades. No último bloco analisaremos as consequências secundárias da utilização do serviço sob ópticas diversas: a iniciar pelas operadoras, com hipóteses variáveis de justas causas visando tornar o débito inexigível; passando pelo Estado, com suas ferramentas de cobrança, deficiências de controle e dados obtidos pela agência reguladora ao longo dos últimos dez anos, ambos na busca de seus próprios equilíbrios; finalmente, até chegar nos consumidores e o impacto que isto representa. Quanto ao método, trata-se de estudo descritivo com base nas normas, jurisprudência e dados oficiais referentes ao ressarcimento fornecidos pela ANS no período de 2010 a 2020. As conclusões apontam que o mesmo fato apresenta múltiplas consequências devido às relações jurídicas distintas. De um lado, a relação contratual entre assistidos e operadoras, a interpretação favorável e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; de outro, a obrigação legal entre as operadoras e o Estado, o impacto sobre o mercado e o custo social. Em meio a isto, o Poder Judiciário tenta dar respostas a um sistema desequilibrado: um sistema de saúde em que o SUS necessita do setor de assistência suplementar para sobreviver e vice-versa, e cujo índice de efetivo pagamento do ressarcimento, abaixo de 50% ao final da última década, ainda é insatisfatório. Embora tenha apresentado resultados promissores nos últimos anos - através do aperfeiçoamento normativo e do uso de ferramentas tecnológicas -, sob o ponto de vista da recuperação pelo Estado de seus gastos, o modelo do ressarcimento ainda está longe de alcançar a eficiência que dele se espera, a fim de que não se torne um “jogo de empurra” do assistido entre as redes pública e privada, mas sim, um importante instrumento de regulação para todo setor de saúde.
Esta pesquisa se propõe a investigar o universo da judicialização dos medicamentos com exigência de marca comercial em face do Estado, a partir de critérios técnicos e jurídicos que permitam a compreensão das especificidades que a circundam, em razão da necessidade de delimitação e fracionamento dos chamados “problemas malditos”. Busca identificar a existência ou não de critérios técnicos e jurídicos objetivos que possam ser adotados para o enfrentamento do problema. Quanto à eleição metodológica, registre-se o emprego de metodologia híbrida, consistente no atendimento às necessidades de uma pesquisa que é concomitantemente qualitativa e quantitativa. Para a construção dos capítulos teóricos, pauta-se na adoção dos métodos de abordagem dialético e sistêmico, dos métodos de coleta bibliográfico e documental, e do método procedimental de análise qualitativa, com o emprego de análise do discurso. Para a construção do capítulo voltado aos dados empíricos, balizou-se no método procedimental de análise quantitativa. Como resultados, quanto ao aspecto territorial da pesquisa, obteve-se regramentos e referenciais teóricos do âmbito nacional brasileiro, concentrando-se o referencial jurisprudencial e dados estatísticos ao âmbito do Estado de São Paulo, estes últimos coletados a partir do sistema eletrônico da Secretaria de Estado da Saúde (SCODES) e referentes ao Departamento Regional de Saúde de Bauru/SP – DRS VI, com abrangência de 68 (sessenta e oito) municípios. Quanto ao aspecto temporal, limita-se entre 2013 e 2020. Também se abordaram os conceitos técnicos de medicamentos e sua classificação, intercambialidade, RDCs (Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA) e legislações sobre medicamentos, sem prejuízo da análise de princípios constitucionais e do SUS, bem como das teorias da reserva do possível e do mínimo existencial. Concluiu-se pela possibilidade de incorporação das notificações de efeitos adversos de medicamentos como critério técnico para a concessão ou não da marca pleiteada, minimizando-se a dicotomia das decisões.
Os Cuidados Paliativos foram definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1990, e redefinidos em 2002, como sendo uma abordagem que aprimora a qualidade de vida dos pacientes e famílias que enfrentam problemas associados a doenças, prevenindo e aliviando o sofrimento, por meio de identificação precoce, avaliação correta, tratamento da dor e outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual. (WHO, 2002). Os princípios dos Cuidados Paliativos incluem considerar a morte como um processo natural, reafirmando a importância da vida; não acelerar a chegada da morte, nem prolongar a vida com medidas fúteis. Na pediatria, os Cuidados Paliativos visam a prevenir, identificar e tratar crianças com doença crônica, progressiva e avançada, cuidando também das famílias e equipes que a atendem. A proposta deste trabalho consiste em estudar os Cuidados Paliativos Pediátricos, seus princípios bioéticos e legais, e discorrer acerca dos dilemas que envolvem autonomia da vontade do menor frente às decisões quanto ao fim de vida. Para a discussão teórica da temática em questão, foi realizada uma revisão da literatura, optando-se por privilegiar os periódicos de divulgação científica. Foram consultados os periódicos da CAPES e a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), por meio das bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline). Na busca eletrônica de artigos científicos e indexados nas bases de dados, foram utilizados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e suas combinações em inglês, português e espanhol: Cuidados Paliativos Pediátricos, autonomia, bioética, interesse superior da criança. Concluiu-se que os Cuidados Paliativos apropriados, em qualquer fase da doença limitante de vida, mostram-se mais vantajosos, quando colocados em prática desde o diagnóstico da doença, em conjunto com outras terapias de cunho curativo ou controlador da doença. No que tange à autonomia, a avaliação da livre manifestação decisória do paciente pediátrico é uma das mais complexas questões éticas impostas ao profissional da saúde, devendo a busca pelo melhor interesse da criança e do adolescente ser o caminho utilizado para alcançar o fim almejado, qual seja, conceder ao paciente pediátrico a dignidade da morte.
A Braquicefalia e a Plagiocefalia Posicionais são espécies de assimetria craniana em bebês, as quais têm como principal agente causador a posição que os recémnascidos são colocados durante o seu repouso, seja no berço, no carrinho ou mesmo no bebê conforto (posição supina ou em decúbito dorsal). O número de bebês portadores dessas moléstias vem numa crescente, em especial após a criação da campanha chamada Back to Sleep, pela Academia Americana de Pediatria (AAP), devido ao elevado número de mortes súbitas de lactentes durante a década de 1980, tendo como principal fator a posição prona ou em decúbito ventral durante o repouso. Por se tratarem de espécies de assimetria craniana, para fins de correção de tais deformidades, realiza-se um tratamento clínico através de utilização de órtese craniana, com acompanhamento de profissionais da área, por um determinado período, dependendo de cada caso concreto. Referido tratamento, a fim de que surtam os seus efeitos de correção, deverá ocorrer até no máximo os 18 (dezoito) meses iniciais da vida da infante e, caso o mesmo não seja realizado, diversas consequências físicas e funcionais surgirão e muitas vezes só serão solucionadas através de procedimentos cirúrgicos invasivos e mais onerosos que o tratamento clínico. Em razão disso, surge o problema do presente trabalho que é a discussão acerca da cobertura ou não do tratamento ortótico pelas Operadoras de Planos/Seguros e Saúde contratadas pelos seus Beneficiários, levando-se em consideração a legislação brasileira, assim como os entendimentos jurisprudenciais aplicados na atualidade, em especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. A relevância do problema se dá justamente pelo fato de as operadoras negarem cobertura ao tratamento, o qual, além de ser menos invaso, também apresenta menor custo se comparado ao procedimento cirúrgico. Justifica-se a cobertura em razão do seu alto custo e também para se evitar futuros problemas de ordem funcional e social. A metodologia empregada foi pesquisa exploratória na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; análise de precedente judicial; análises das legislações constitucional e infraconstitucional, de doutrinas e teses científicas.
A presente pesquisa trata do levantamento epidemiológico dos óbitos por suicídio nas cidades da Baixada Santista através dos dados informados pelo MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informação sobre mortalidade – SIM, disponibilizados através do Portal do Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social) referente ao período de 2016 a 2018, através dos dados classificados como lesões autoprovocadas voluntariamente classificados no CID10 (Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) nos códigos X-60 a x-84, bem como óbitos decorrentes de eventos cuja intenção foi considerada indeterminada (CID10 – Y-10 a Y-34 e Y-87) e os óbitos por transtornos mentais e comportamentais específicos (CID10 – F10 –F99). A subnotificação, o alto índice de óbitos cuja intenção do agente não pode ser identificada pela autoridade e as classificações errôneas são fatores que afetam diretamente os dados analisados, impactando as políticas públicas voltadas para a saúde mental. O perfil do indivíduo na hipótese de lesões autoprovocadas (CID10 – X-60 a x-84) em sua maioria é do sexo masculino, tem entre 30 a 39 anos de idade, possui nível de 8 a 11 anos de estudo e utiliza de enforcamento, estrangulamento ou sufocação como meio, com realização em sua residência.
A presente dissertação tem como escopo principal tornar o instituto da tomada de decisão apoiada mais usual para as pessoas com deficiência que conseguem exprimir vontades. Diante da problemática do ordenamento jurídico brasileiro da tomada de decisão apoiada conter um regramento legislativo muito rigoroso e burocrático, de difícil utilização, o objetivo do trabalho é viabilizar alternativas que tornem o instituto mais utilizado na prática e menos burocrático, facilitando a usabilidade. A hipótese determina uma construção legislativa (projeto de lei) para a atribuição da competência para as serventias extrajudiciais, visando uma maior simplificação no emprego do instituto, pois conforme está disposto na legislação brasileira, torna-o quase inaplicável na prática. Para isso, utilizam-se como paradigma as legislações de outros países que são referências na desburocratização do instituto, como os sistemas argentino, peruano e francês. Relevante o desenvolvimento do trabalho no intuito de viabilizar a solução da usabilidade do instituto, principalmente para os indivíduos com deficiência que consigam exprimir vontades, impedindo uma eventual constrição na autonomia, o que ocorre na interdição para o referido grupo de pessoas. A pesquisa de natureza exploratória utiliza-se do método hermenêutico do direito comparado, mergulhando na cultura e na história do instituto, mais especificamente nas legislações argentina, peruana e francesa, para melhor compreendê-lo, no escopo de gerar efeitos no direito pátrio. Para isso, realiza-se um levantamento qualitativo jurídico-normativo e doutrinário com o objetivo de oferecer o subsídio adequado para alcançar o resultado almejado da elaboração de um nacional projeto de lei que resulte em maior usabilidade do instituto da tomada de decisão apoiada
Esta dissertação tem como objeto de estudo e análise, a perícia médica no âmbito do direito previdenciário, notadamente na esfera do regime geral da previdência social. Partindo desta temática se analisa a responsabilidade civil do médico perito, as hipóteses de caracterização da responsabilidade civil do médico perito e as repercussões acerca do tema pelo poder judiciário brasileiro, baseando-se nos posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais propícios a tese. Para tanto, o estudo foi divido em três capítulos. No primeiro momento, destacam-se as noções conceituais da previdência social, bem como da perícia no Instituto Nacional da Previdência Social (INSS); a evolução de sua base normativa ao longo do tempo. No segundo capítulo, adentra-se e aprofunda-se a perícia médica e o perito médico, isto é, se aborda de maneira mais específica e com base na legislação (leis e normas), os entendimentos sobre a perícia e o perito, levantando, ainda, o posicionamento doutrinário e jurisprudencial acerca da responsabilização civil do perito. Por fim, é feito o levantamento de casos relevantes em que houveram negativa de benefício junto ao INSS; as hipóteses ou categorias mais negadas. Noutro giro, a não concessão do benefício por perícia médica equivocada, exibindo, também, a judicialização dos casos negados e processos médicos no INSS e no Conselho Regional de Medicina (CRM), tudo no que diz respeito a responsabilização civil do perito. Em conclusão, o perito médico possui uma série de direitos assegurados em lei, mas também tem deveres. Quanto a maior a negativa de benefícios previdenciários no INSS, maior a judicialização dos casos. É preciso de mais qualidade e responsabilidade, de todos os lados.
O presente trabalho foi motivado pela necessidade de se conhecer os dados de prevalência do abuso sexual infantil para a elaboração de políticas públicas adequadas e eficientes para o enfrentamento do problema, considerando-se a subnotificação e a escassez de informações sobre esse tipo de violência. Foi motivado também pela verificação do descompasso entre as garantias legais e o funcionamento da rede de proteção na cidade de São Bernardo do Campo. O objetivo deste estudo foi a identificação de características do abuso sexual infantil com base em informações extraídas de registros policiais lavrados nos anos de 2017 e 2018 em São Bernardo do Campo, utilizando-se como filtro o delito de estupro de vulnerável – artigo 217-A do Código Penal (BRASIL, 1940) –; e a verificação do fluxo de atendimento na rede proteção. As variáveis para a categorização se relacionaram ao perfil das vítimas (sexo, idade e cor) e dos agressores (sexo, idade e vínculo com as vítimas); à tipologia da violência (espécie de atos, reiteração e local da agressão); e à revelação. Nesta etapa, o resultado da pesquisa apontou dados de prevalência já revelados em estudos levados a efeito anteriormente. O passo seguinte buscou avaliar a interlocução entre os serviços, com a seleção de 40 vítimas, a verificação de sua inserção na rede de proteção e o rastreamento de seus atendimentos na área da saúde mental. Nesta fase, foram encontrados dados que indicam falhas, omissões e falta de articulação entre os órgãos dos diversos setores da rede de atendimento, bem como intervenções terapêuticas realizadas apenas sob o aspecto formal. Trata-se de um estudo transversal e descritivo. Adota-se o método de abordagem dedutivo. Os procedimentos adotados são o bibliográfico e o documental – mediante consultas à legislação, à doutrina e a artigos científicos, bem como estudo de casos na cidade de São Bernardo do Campo. Concluiu-se que a observação de características de prevalência do abuso sexual infantil que corroboram as encontradas em outros estudos indica que o problema é previsível e passível de enfrentamento mediante adoção de ações coordenadas com foco na prevenção e nos cuidados precoces para as vítimas. Concluiu-se também ser urgente e imprescindível a eficaz integração entre os órgãos da rede de proteção em São Bernardo do Campo para o enfrentamento do problema do abuso sexual infantil.
Atletas com traumas faciais sofrem enorme prejuízo devido ao longo período de afastamento. Protetores faciais tem como principal objetivo reintegrar esses atletas as suas atividades esportivas em um curto espaço de tempo. O Protocolo de confecção clínica desses protetores faciais são eficazes mecanicamente, porém, tem como características um longo período de produção, carência de mão de obra especializada e pouco acesso a população em geral. A partir de modelo facial gerado por estereofotogrametria, e malha de protetor facial criado através de softwares de modelação tridimensional, o atual projeto propôs um novo método por produção 3D FDM (Fusion Deposition Modeling). Tal método foi submetido a simulação de força estática em MEF (Método de Elemento Finito) para determinar eficácia mecânica da malha. Conclui-se que o novo método traz uma experiência menos invasiva ao atleta, maior fidelidade adaptativa, resposta mecânica satisfatória e com grande potencial de acesso da população em geral. A proposta apresenta como desvantagem a necessidade de acesso e domínio das tecnologias 3D. Sugere-se para trabalhos futuros simulação de impacto.
2019
O presente trabalho resulta do estudo de caso, consubstanciado no exame do processo da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI do Senado Federal da República Federativa do Brasil, instaurada para apurar fraudes na prescrição médica de órteses e próteses, e teve por objetivo o cotejo analítico entre o objeto da comissão e o Código de Ética Médica. Pretende-se que a principal contribuição da pesquisa e desta dissertação seja a de servir de referencial teórico-pragmático, de modo a auxiliar na intelecção e compreensão da problemática do tema e de instrumento para o aprofundamento de outras pesquisas sobre a ética médica. Para tanto, foi realizada pesquisa teóricobibliográfica, documental, de natureza exploratória, com base em publicações de artigos veiculados em sites especializados em direito, dos conselhos profissionais e do parlamento, pesquisa em obras doutrinárias e de decisões obtidas através de acesso à base de jurisprudência indexados de sites de tribunais. Utilizou-se o método dedutivo.
o presente trabalho teve por objeto investigar a atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo na tutela coletiva do direito fundamental à saúde. Deste modo, por meio de pesquisa realizada no mecanismo de consulta de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada mediante a verificação de apelações e reexames necessários, com o tema saúde e ação civil pública, no período de 01.01.2018 a 19.12.2018, foram encontradas 280 ações, dentre as quais apenas 13, efetivamente, tratavam de direito coletivo à saúde. Analisando as 13 ações, tão somente 11 tiveram o mérito analisado, enquanto que somente 2 foram propostas pela Defensoria Pública de São Paulo. Diante disso, foi possível concluir pela pouca litigiosidade coletiva da Defensoria Pública paulista, tendo obtido como possíveis causas: 1- falta de estrutura da Defensoria Pública Estadual; 2- a recém criação da Defensoria Pública no Estado de São Paulo, revelando se estar diante de uma instituição ainda em construção; 3- a recém inclusão da Defensoria Pública no rol dos legitimados para propositura de ação civil pública.; 4- a inexistência de cargos especializados em tutela do direito fundamental à saúde, como também a falta de um núcleo especializado sobre o direito à saúde; 5- a predominância da perspectiva individualista do direito fundamental à saúde, preferindo manejar ações individuais para concretizar o direito, revelando, assim, uma necessária modificação do olhar da Defensoria Pública para a deficiência ou inexistência das políticas públicas de saúde no Estado de São Paulo
A saúde é um direito fundamental de todos, garantido desde a Constituição de 1988 e cuja execução dos serviços é realizada mediante políticas sociais e econômicas para assegurar o acesso universal e igualitário a esse direito. Esses serviços públicos integram uma rede regionalizada e hierarquizada com diretrizes de descentralização e atendimento integral de saúde. Para isso se tornar possível, seu financiamento mínimo é garantido constitucionalmente, e o seu repasse é obrigatório e automático, devendo os gestores realizá-los por meio do Fundo Nacional de Saúde que os transfere para os Fundos Estaduais e Municipais e do Distrito Federal. Todavia, quando isso não acontece de forma automática e voluntária, geram-se inadimplências que podem ocasionar a suspensão destes serviços causando danos irreparáveis. Prova disso que a Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) declarou publicamente que iria acionar o judiciário para a cobrança de 184,2 milhões de reais do Estado de Mato Grosso referentes à dívida sobre recursos Fundo a Fundo para com os municípios. Objetivou-se, com esse trabalho, verificar a admissibilidade do ajuizamento de ação para cobranças dessas transferências com a concessão de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada (conforme artigo 300 §2º Código de Processo Civil), e ainda requerer pedido de bloqueio judicial. O método utilizado na pesquisa foi dedutivo-descritivo e traz casos paradigmáticos de municípios que ajuizaram ação e tiveram seus pedidos concedidos em juízo de 1ª instância.
Igualdade é conceito teórico. A desigualdade, por sua vez, parece inevitável. No SUS, a universalização não foi igualmente implementada em todo o país. Há desigualdades que comprometem a distribuição do acesso à saúde. Utiliza-se aqui o referencial teórico provido por Norman Daniels e sua teoria da justiça distributiva em saúde. Este trabalho busca definir um mínimo no acesso à saúde no Brasil, perquirindo critérios que identifiquem o limite abaixo do qual uma desigualdade deva ser considerada injusta. Traça-se abordagem descritiva e explicativa. Efetuou-se levantamento documental e bibliográfico de dados acerca de acesso a serviços de saúde. Utilizam-se dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, bem como da Pesquisa Nacional de Saúde, ambas do IBGE. Trazem-se também dados do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina. São relativos a consultas médicas, cirurgias, tratamento clínico e atenção ao parto. Sumarizam os três níveis de atenção terapêutica do SUS e as três grandes áreas da saúde do adulto: Medicina Interna, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia. Foram calculados índices de desigualdade próprios a cada conjunto de dados. As técnicas metodológicas foram propostas por André Nunes e outros (2001, p. 33-51), bem como por Maria Cristina Schneider et al. (2002, p. 1-17). A análise estatística foi efetuada com o uso do programa Excel®. A interpretação dos dados é feita à luz da teoria da justiça distributiva em saúde, de Norman Daniels. No nível primário do SUS, 71% da população procurou médico nos últimos doze meses. O número de consultas médicas por habitante/ano está em queda: em 2015 foi de 1,58, em média. Já o número de unidades básicas de saúde apresenta média de 1,98:10.000 habitantes. Todas as regiões atingem a meta do SUS, de 1 UBS:10.000 hab. Em termos relativos, a rede da Região Nordeste é a mais ampla do país; a da Região Sudeste, a menor. Os indicadores de acesso ao nível secundário mostraram que as internações de caráter geral caíram 27,3% entre 2009 e 2018; neste período, perderam-se 10% dos leitos de internação. O número de cirurgias reduziu-se em 8,2%, a partir de 2015. Há fila de espera de 800.000 procedimentos cirúrgicos. No que respeita à Obstetrícia, considera-se adequada a cobertura pré-natal de 99,45%, mas a taxa de cesariana de 55% é muitíssimo superior à preconizada pela OMS. A mortalidade materna é elevada, da ordem de 62 mortes:100.000 nascidos vivos. Evidencia-se mau atendimento obstétrico, com relevo para as dificuldades de internação no momento do parto. Embora mais estudos sejam ainda necessários, dos dados obtidos, podem-se qualificar como injustas desigualdades que impliquem o desatendimento de situações emergenciais, comprometedoras da vida, assim como de urgências. Quanto aos demais serviços de saúde, sob uma perspectiva de ordem pública, sugere-se, ante o direito fundamental de cada ser humano ao gozo do mais elevado standard possível de saúde, que se utilize, como critério de exigência mínima, que cada serviço atenda à média nacional de um exercício definido. Deve ser classificado como injusto o submetimento da população a serviços abaixo deste nível.
As Santas Casas de Misericórdia sempre tiveram um papel bastante relevante no Brasil e sua atuação remonta à época do Império, sendo o primeiro local organizado para o acolhimento de pessoas humildes, expostas à adversidades tanto sociais como decorrentes de doenças. Diante desta relevância na atuação, elas se proliferaram em grande parte do país e, em razão da sua filantropia e ausência de uma renda própria, as dificuldades financeiras para o desenvolvimento da atividade sempre se mostraram relevantes. Para a continuidade do funcionamento, a administração pública mostrouse como um grande interessado no desenvolvimento da sua atividade, seja pelo seu caráter social, seja para o cumprimento do dever constitucional de prestação dos serviços públicos de saúde à população, notadamente após a Constituição de 1988 a com a criação do Sistema Único de Saúde. A forma jurídica desta parceria com tais entidades é basicamente o contrato administrativo e o convênio, até mesmo por imposição constitucional. No entanto, a escolha do vínculo jurídico é tema controverso, considerando as nuances de um contrato administrativo e de um convênio, pois a considerar o instrumento escolhido haverá impactos na forma da gestão e até mesmo na prestação de contas perante o Poder Público e o Tribunal de Contas. O objetivo do presente trabalho é trazer elementos que possam desvendar as características de tais vínculos e quais os impactos na relação entre as Santas Casas e a administração pública na escolha de cada um, mas sendo observado que apesar dos números de contratos com o terceiro setor seja superior ao número de convênios, estes possuem maior incidência quando se trata de serviços de saúde. Para isso o método utilizado é o dedutivo formando um processo de informação com base em informações constantes em documentos históricos, publicações, legislação e jurisprudências para se concluir que o vínculo jurídico entre as Santas Casas de administração pública é contratual e não convenial.
Esse trabalho tem como foco o direito à mitigação da poluição atmosférica e do seu impacto na saúde, cujos índices atingem, desde 2012, 80% acima do nível seguro para a saúde humana na região de Santos. Baseia-se em pesquisa realizada por revisão bibliográfica, sobre a relação da poluição atmosférica com a ocorrência de várias doenças e de mortalidade precoce, além de legislação nacional e internacional, e pesquisa exploratória e observacional, através da visitação a projetos em andamento. A poluição atmosférica foi responsável pela morte de milhões de pessoas, no mundo, tendo aumentado mais de 150%, em uma década (2001 – 800 mil/2011- 2 milhões). A exposição crônica à poluição atmosférica, associada ao aumento da morbimortalidade por doenças respiratórias, foi demonstrada em inúmeras publicações científicas, assim também a incidência de doenças decorrentes da contaminação sanguínea (diabetes, hipotireoidismo, demências). O aumento de 10 µg/m3 de um desses poluentes, o material particulado, MP10, está associado ao aumento de 5% na mortalidade pós-natal, por todas as causas, e de 22%, na mortalidade por doenças respiratórias. Entre os recém-nascidos, 4,6% apresentaram menos de 2.500 g, ao nascer (MEDEIROS; GOUVEIA, 2005); o aumento de 100 µg/m3 de MP10 está associado ao aumento de 13% da mortalidade global (SALDIVA et al., 1995). A mitigação dos efeitos da poluição atmosférica leva à regressão dessas doenças (WHO, 2016). Faz-se uma revisão dos dados de poluição atmosférica de algumas cidades e os benefícios estimados para Coberturas Vegetadas (Telhados e Paredes Verdes) e Arborização.
Este trabalho dedica-se ao estudo da repartição das receitas tributárias relativas à área da saúde por parte da União no período de 2016 a 2018 e o planejamento dos recursos arrecadados. Analisa a saúde enquanto direito humano em diversos pactos internacionais enquadrando-o na Constituição Federal do Brasil. Discorre sobre a importância do tema da saúde pública refletida no Orçamento da Seguridade Social e os recursos oriundos das receitas de contribuições sociais destinados a esta área. As fases de elaboração do Orçamento da União e as dotações para o Programa Temático de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) dentro do Plano Plurianual, seguindo da Lei Orçamentária Anual que, contrariando a Constituição Federal, agrega o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Passa pela análise das receitas estimadas ante as despesas fixadas e as fontes de financiamento dessas despesas que transitam livremente entre esses orçamentos. A forma de participação da sociedade no custeio e os contribuintes que financiam a saúde pública no Brasil. Descreve as Emendas Constitucionais que tiveram por objetivo estabelecer percentuais mínimos a serem destinados para a área da saúde. A Desvinculação das Receitas da União é analisada desde as normas instituidoras até os valores desvinculados que impactam no Orçamento da Seguridade Social da União, bem como as renúncias fiscais, especialmente aquelas dedicadas ao setor da saúde pública, confrontadas com o Produto Interno Bruto. O Novo Regime Fiscal também é analisado criticamente neste trabalho referente ao controle de gastos das despesas e suas consequências para o sistema de saúde público brasileiro.
O Instituto da Responsabilidade Civil é milenar e surgiu pela necessidade da harmonia para a convivência humana em sociedade. Em seus primórdios, o sujeito que causava um dano estimulava uma reação imediata. A Lei das XII Tábuas concebia a reciprocidade entre ofensa e castigo, até então a Responsabilidade era de fato pessoal, ou seja, recaía sobre a pessoa do ofensor, havia até então a fusão entre a Responsabilidade Civil e penal. A Responsabilidade Civil contratual terá efeitos diversos quando se tratar de obrigação de meio ou de resultado, e, em se tratando de Cirurgia Plástica Estética, deve-se observar que há vozes na Doutrina que alertam para a presença da aléa e do imponderável existentes em cada organismo, pois, quanto maior o risco e a incerteza, menor o grau de comprometimento com a obtenção de um resultado. Assim, conforme esses doutrinadores, nem toda cirurgia de natureza estética traz consigo a obrigação de atingir um resultado predeterminado. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que se tratando de Cirurgia Plástica Estética, o cirurgião contraí uma obrigação de resultado e sua Responsabilidade permanece subjetiva, porém, caso o resultado não seja obtido, somente se terá afastado o dever de reparar, se conseguir demonstrar alguma das excludentes de Responsabilidade.
O presente trabalho tem como objetivo analisar se o direito à saúde, enquanto um direito fundamental, pode sofrer restrição e em qual medida. Além disso, ao se aprofundar os conceitos de universalidade, igualdade e integralidade de acesso às ações e serviços públicos de saúde, se espera apresentar critérios científicos, e portanto racionais, de aferição do conteúdo jurídico do direito à saúde, calcados na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional brasileira, isto no que se refere ao Sistema Único de Saúde – SUS. Para tanto, a evidência científica surge como fator decisivo e de grande relevância para aferição do conteúdo jurídico do direito à saúde. O método utilizado será o hipotético-dedutivo, de maneira, caso confirmada a hipótese de que o direito fundamental à saúde é um direito passível de restrição, e sendo a proporcionalidade uma ferramenta de concretização dos direitos fundamentais, então, as evidências científicas devem ser consideradas no Juízo de proporcionalidade para a definição do seu conteúdo jurídico. Para atingir sua finalidade, adotou-se os procedimentos bibliográfico e normativo, pois o estudo é amparado por referências normativas e bibliográficas publicadas em meio escrito e eletrônico
A presente pesquisa se trata de um estudo descritivo, exploratório e interdisciplinar com o objetivo principal de analisar a venda de medicamentos em embalagens não fracionáveis sob a égide do ordenamento jurídico pátrio, mais especificamente, sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor. Para isso, estuda-se a possibilidade jurídica e a efetividade de compelir o complexo industrial farmacêutico a fracionar as doses dos medicamentos acondicionadas nas embalagens primárias. Tal prática produtiva segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem finalidade de inibir a compra desnecessária de medicamentos pelo consumidor final, podendo trazer benefícios financeiros, sanitários e ambientais para o consumidor e a coletividade. Com objetivo de compreender o complexo industrial farmacêutico, abordamos a história da indústria, a cadeia produtiva de medicamentos, suas práticas e seu crescimento exponencial em comparação com outros setores da economia. Reunindo preceitos constitucionais, da Politica Nacional de Medicamentos e do Código de Defesa do Consumidor foi possível estabelecer a venda fracionada de medicamentos regulada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 80/2006 da ANVISA como paradigma de uma política de venda justa, equilibrada e que atende os interesses da coletividade, garantindo o acesso e respeitando o direito fundamental à saúde. Por fim, trouxemos a lume ação civil pública promovida pelo Ministério Público de Mato Grosso visando a adequação da indústria aos parâmetros estabelecidos pela RDC nº 80/2006 e os efeitos de seu julgamento.
O cenário de crise econômica vivenciado no Brasil já algum tempo, em conjunto com a rigidez da austeridade fiscal implantada recentemente pela Emenda Constitucional n. 95/2016 (conhecida como Emenda do “Teto dos Gastos Públicos”), a qual vem promovendo um “congelamento” das despesas com a saúde pública ao longo de duas décadas, deflagrou o interesse na pesquisa por um modelo de gestão hospitalar que possibilite maior eficiência para o Poder Público, não só sob o manto da economicidade, mas da qualidade da prestação da assistência à saúde e do seu controle pelo usuário do serviço. Objetivamente, pretendeu-se analisar a gestão integral do serviço público de saúde hospitalar (clínicos e não clínicos) por meio de uma empresa privada, através do modelo “bata branca” de Parceria Público-Privada. O trabalho foi desenvolvido através do estudo de caso do Hospital do Subúrbio, único hospital no Brasil com o escopo da PPP no modelo “bata branca”, até o presente momento. Para avaliar sua eficiência foi necessária a utilização do método comparativo, o qual permitiu fazer um paralelo com o desempenho de um hospital público com gestão direta, o Hospital Geral Roberto Santos. À guisa de conclusão, a PPP sugeriu, em linhas gerais, um maior comprometimento na promoção da eficiência na gestão hospitalar, seja com sua racionalidade econômica, seja na qualidade da prestação da assistência à saúde, e, por fim, com o controle social do seu desempenho.
Tem se observado que que os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), tendem a procurar os serviços de urgência e emergência para serem atendidos quando a maioria das queixas poderia ser perfeitamente resolvida na rede de atenção básica, fato que pode causar aumento da demanda no pronto socorro prejudicando o atendimento de urgência e emergência. Assim, o presente estudo teve como principal objetivo avaliar os fatores que interferem no uso inadequado do serviço de emergência de Cubatão /SP por usuários do SUS. Para tanto foi realizada uma pesquisa qualitativa, de natureza compreensiva e explicativa realizada no Pronto Socorro Municipal de Cubatão, durante o primeiro semestre de 2018, através das fichas dos atendimentos realizados no Pronto Socorro (P.S.) por médicos plantonistas das 7:00 às 19:00 horas, em dias uteis, aleatoriamente. Os resultados apontaram que dos 32 pacientes selecionados para essa pesquisa, apenas 34% deles eram casos de urgência e que realmente deveriam ser atendidos no Pronto Socorro Central enquanto que 66% poderiam se atendidos nas Unidades Básicas de Saúde por tratarem-se de doenças crônicas. A grande maioria dos atendimentos ocorreu em horários em que os pacientes poderiam estar recorrendo às UBSs o que reforça o uso inadequado do pronto socorro ou, por falta de informação e desconhecimento dos serviços prestados nas UBSs, ou a conveniência de utilizar o pronto socorro como consultório médico.
Esta pesquisa teve como intuito fazer uma investigação sobre a judicialização da saúde pública, financiada pelos Entes Federados, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, em nível nacional. A Carta Política de 1988, por meio dos seus artigos 6o, 196 a 200, dá garantias ao direito à saúde ao cidadão brasileiro e estrangeiro que aqui reside. Foram apontados, também, alguns fatores externos que estão diretamente relacionados à saúde humana, tais como: educação, ambiente de trabalho, condições de vida, tratamento de água e esgoto, etc., tudo isto causa impactos diretos e indiretos na vida humana. Como problematização da pesquisa foram levantados os seguintes questionamentos: no processo de judicialização da saúde há políticas públicas, por meio do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, para a diminuição e controle de ações judiciais nos últimos anos? O CNJ tem poderes para agir, no caso da judicialização da saúde pública e privada, normatizando de forma positiva, o Poder Judiciário para controlar a judicialização? O que tem feito para resolver as demandas excessivas? Há resoluções e portarias regulamentando o fenômeno da judicialização pelo CNJ? A hipótese deste trabalho baseia-se no fato de que o Poder Judiciário não é o único responsável pela judicialização da saúde pública no Brasil. Há má gestão do SUS em algumas regiões do país, sendo que os recursos do Sistema Único de Saúde são finitos. Quanto à metodologia aplicada ao trabalho proposto, procura-se utilizar o método empírico, as decisões dos Tribunais Superiores, tais como: STF, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça Estaduais, resoluções e recomendações do CNJ - como exemplificação de controle do fenômeno da judicialização no setor da saúde pública. Por fim, pode-se concluir que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ – mediante ao número alarmante de ações judiciais, com relação ao direito à saúde, nos últimos anos, em específico após a crise econômica e financeira do país, no final de 2014 aos presentes dias, lançou várias resoluções, dentre as quais a de número 238, de setembro de 2016. Essa resolução prevê a criação de Núcleos de Apoio ao Poder Judiciário nos Tribunais Estaduais e Regionais Federais, denominados NAT-JUS ou Natjus. Esses núcleos são constituídos por uma equipe multidisciplinar para dar apoio aos magistrados de primeiro e segundo graus nos respectivos territórios onde atuam, sejam eles nos Estados da Federação ou nos Tribunais Regionais Federais nas cinco regiões do país. O resultado da pesquisa apontou que, por meio do Relatório Analítico Propositivo, do CNJ, publicado em fevereiro de 2019, assinala que as resoluções criadas pelo órgão ligado ao Poder Judiciário, denominado CNJ, é apenas sugestivo, e não obrigatório. Sendo assim, os Natjus ainda estão sendo implantados nos Tribunais Estaduais e Tribunais Federais Regionais, mas sem a observância efetiva sugerida pelo CNJ. O Relatório Analítico Propositivo apontou que as decisões judiciais ainda se dão pelo livre convencimento do julgador, conforme vem operando há décadas, e que pouca coisa mudou, após as resoluções do CNJ.
A promulgação da Constituição Cidadã de 1988 é o marco temporal para a conquista e consolidação de direitos sociais e fundamentais relacionados ao trabalho digno (artigo 1º, incisos III e IV da CRFB/88), saudável, seguro (artigo 7º, inciso XXII da CRFB/88) e sustentável. O foco deste trabalho é avaliar a Gestão Sustentável da jornada de trabalho no Sistema Bancário, enquanto direito e política de saúde pública, levando em considerações as alterações da Reforma Trabalhista e os impactos para o direito à saúde do trabalhador, tendo por estudo de caso, em específico, o conglomerado econômicofinanceiro Banco do Brasil S.A, numa espécie de compliance trabalhista. As normas e diretrizes relacionadas à duração e controle da jornada de trabalho são de ordem pública e impactam diretamente a saúde ocupacional. Numa revisão sistemática de literatura e à luz do método histórico-dialético, percebe-se que a Gestão Sustentável da Jornada de Trabalho (com fundamento no artigo 170, inciso VI; 200, inciso VIII e 225, caput da CRFB/88), enquanto direito e política de saúde pública, preconiza a implantação de medidas de qualidade de vida, a melhora do clima organizacional e a construção ética das relações que permeiam os contratos de trabalho, visando corrigir as distorções laborais (agravos, lesões e acidentes profissionais) causadas pelas iniquidades sociais que atingem o trabalho do bancário, classe de trabalhadores quem mais sofrem com doenças relacionados ao Estresse Ocupacional, Síndrome de Burnout e lesões osteomusculares. O Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista com espírito de governança pública, que tem por missão o desenvolvimento econômico e social do país, que deve investir, seja no eixo ambiental, educacional ou de assistência social, uma política empresarial de Responsabilidade Socioambiental, de forma sinérgica com seus funcionários, através da implementação, no âmbito da empresa, de Códigos de Ética e de Conduta, investimentos em formação cultural e continuada dos funcionários (respeito à diversidade cultural) e, também, com uma construção e implantação de Políticas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) que promovem a saúde integral, dentro e fora do meio ambiente do trabalho, (artigo 200, inciso II da CRFB/88), seja através de um planejamento justo e humano da jornada de trabalho, por meio de sistemas eletrônicos e fidedignos de controle (artigo 7º, inciso XIII da CRFB/88), seja combatendo o estresse ocupacional e as lesões que, se não gerenciadas de forma preventiva, geram custos sociais, judiciais e previdenciários para toda a nação, numa verdadeira violação inconstitucional ao Direito à Saúde (artigo 196 e 198 da CRFB/88) do trabalhador.
O objetivo do presente trabalho é analisar se o direito à saúde, na condição de bem jurídico, está amparado pela teoria dos mandados de criminalização. Em um primeiro momento se abordará a teoria geral das cláusulas de penalização e, posteriormente, a pretensão é discorrer sobre sua aplicação para a proteção da saúde. No caminho investigativo, o estudo faz um retorno no tempo e analisa detalhadamente os modelos de Estado, de forma a demonstrar que eles influenciam o Direito Penal, por revelarem uma intervenção penal mais autoritária ou mais liberal. A pretensão seguinte consiste em averiguar os detalhes das teorias do bem jurídico, entre as quais as pioneiras, de Feuerbach e Birnbaum, na medida em que são construções teóricas fundamentais para descortinar a finalidade do Direito Penal, estabelecer as balizas sobre o que deve ou não ser punido e conter a sanha do legislador penal, impedindo-o de criminalizar indiscriminadamente, com base em seu puro alvedrio. Considerado o desenvolvimento das teorias constitucionalistas, será explorada a íntima relação existente entre a Constituição e o Direito Penal. Por intermédio do método dialético, baseando-se em posicionamentos doutrinários, como teses e antíteses, tem-se a pretensão de investigar se a Constituição Federal é ou não imprescindível para limitar ou fundamentar o Direito Penal, se o seu conteúdo é ou não determinante para a legitimidade da intervenção penal, se existem ou não, no texto constitucional, deveres expressos e implícitos de criminalizar condutas e, existindo, em que medida isso se faz presente. A relevância dessa análise surgiu a partir da Constituição Federal de 1988, tendo em vista que fora ela, no Brasil, que inaugurou um sistema constitucional criminalizador, no qual figurariam cláusulas direcionadas ao legislador penal ordinário. Partindo-se da perspectiva de que os direitos fundamentais de um Estado Democrático de Direito apresentam uma dupla dimensão, consistentes em uma atuação negativa e em outra positiva, o trabalho buscará subsídios para definir se o dever de proteger os indivíduos da agressão de terceiros, expressão da dimensão positiva, pode se realizar por meio do direito penal. Nesse contexto aprofunda-se o estudo do direito à saúde, especialmente o seu conceito, as suas dimensões (individual e coletiva) e o seu histórico como bem jurídico penal. A finalidade é, ao final, responder se a saúde, imprescindível para uma vida com dignidade, pode ser compreendida como um bem jurídico merecedor de dignidade penal e de necessária intervenção penal, sendo a sua proteção amparada em mandados constitucionais de criminalização expressos e tácitos. Por isso será também avaliada a regulamentação de alguns assuntos relacionados ao direito penal, à saúde e a essas possíveis cláusulas constitucionais, tais como o tráfico ilícito de drogas, a falsificação de medicamentos, o meio ambiente, os Tratados Internacionais de Direitos Humanos aprovados com quórum de emenda constitucional e a Convenção sobre as Pessoas com Deficiência. Para atingir o seu objetivo, essa pesquisa amparou-se nos procedimentos bibliográfico e normativo publicados em meio escrito e eletrônico.
O presente estudo tem como objetivo analisar a utilização do compromisso de ajustamento de conduta na promoção da saúde mental e na efetivação das políticas públicas afetas à desinstitucionalização. Para tanto, a pesquisa constituiu-se de revisão bibliográfica e documental, com busca sistemática de conceitos, evolução histórica do processo de desinstitucionalização e estudo de dados acerca do estágio atual da implantação das ações e serviços de saúde mental, a partir da estruturação imposta pelo Ministério da Saúde em atos regulamentares próprios. Analisou-se também a situação da judicialização da saúde no país a fim de correlacionar com a necessidade de priorização da utilização de meios extrajudiciais de tutela do direito fundamental à saúde. A partir da análise da literatura e da análise documental puderam ser capturados os principais elementos do processo atual de desinstitucionalização e apontadas as fragilidades encontradas. O recorte geográfico foi o município de Maceió, com o aprofundamento do estudo da situação atual da política de saúde mental na referida unidade federativa, bem como o estudo da efetividade dos meios utilizados pelo Ministério Público e Defensoria Pública para implantação de parte dos serviços componentes da rede de saúde mental local. Os resultados apresentados contribuem para demonstrar a necessidade de utilização de medidas mais efetivas de tutela do direito à saúde mental, priorizando-se a autocomposição dos conflitos, dentre as quais o compromisso de ajustamento de conduta se insere como mecanismo dotado de exeqüibilidade, a fim de propiciar a satisfação dos direitos de forma mais célere e favorecer o processo de desinstitucionalização.
Trata-se de dissertação decorrente de pesquisa de revisão, exploratória e descritiva do descaso ao direito à saúde e ao saneamento básico nos estabelecimentos carcerários. Explicita o estado de coisas inconstitucional e identifica as principais causas pelas quais as políticas públicas não alteraram o nefasto quadro da saúde prisional. O norte crítico da investigação fundou-se, ainda, na amplitude proposta para o direito à saúde dos prisioneiros no âmbito global. Em 2015, as Regras Mínimas para Tratamento de Presos (elaboradas em 1955, no “1.º Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e Tratamento de Delinquentes”) foram atualizadas e denominadas Regras de Mandela. Tal atualização forneceu orientações para se compreender a aludida amplitude internacional almejada para o direito à saúde do preso. Dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2015) revelaram um crescimento da população carcerária brasileira de 83 vezes em 70 anos. Segundo o diagnóstico elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, ainda em 2014 o Brasil possuía a quarta população carcerária mundial (com 563.526 presos), atrás apenas dos Estados Unidos (2.228.424), da China (1.701.344) e da Rússia (676.400). Se computadas as prisões domiciliares, o Brasil assumiria a terceira posição, contando 711.463 pessoas encarceradas. Em 2018, o Estado brasileiro, independentemente de tal cômputo, assumiu de vez a terceira posição no aludido ranking mundial. Mais de 40% da população encarcerada representam pessoas sem condenação definitiva. Trata-se de contingente carcerário atingido ou exposto a doenças como AIDS, tuberculose, pneumonias, dermatoses, transtornos mentais, hepatites, traumas, diarreias infecciosas, hipertensão arterial, diabetes e sarnas, às epidemias de piolho, pulga e carrapato. Muitos presos vivem despidos entre fezes e urina, em celas desprovidas de colchões, de água potável e da adequada ventilação. A saúde prisional é uma preocupação normativa nacional assegurada no artigo 14 da Lei n.º 7.210/1984. A Constituição Federal de 1988 e a Lei n.º 8.080/1990 não trataram especificamente da saúde no cárcere, mas asseguram a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual, portanto, deve desenvolver políticas dirigidas à redução dos riscos de doenças e de outros agravos, provendo condições indispensáveis ao pleno exercício desse direito fundamental. Em 2003, o Estado brasileiro elaborou o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. Essa política tornou-se algo programático, sem a superação efetiva da inadequação de recursos humanos e materiais. Faltam equipes de saúde, remédios, além de transportes para que os presos tenham o atendimento - fora da unidade prisional - em tempo hábil. Foi substituída pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional. Em 2016, o CNJ lançou o programa Saúde Prisional. Essas ações não alteraram a realidade violadora da dignidade humana, enfim, a situação de afronta aos princípios de Direito Sanitário e à garantia de seu objeto no âmbito carcerário, evidenciando efeitos da seletividade e do sistema penal subterrâneo. Do ponto metodológico, buscou-se a abordagem crítica de dados oficiais e a sistematização de argumentos verificados em selecionados estudos científicos e obras pertinentes ao tema.
O presente trabalho tem por objetivo, sob a perspectiva da saúde coletiva, analisar aspectos importantes da atuação do Ministério Público na área da saúde mental, com vistas à efetivação dos direitos humanos e resgate/garantia da cidadania das pessoas com transtornos mentais, tendo em vista o complexo processo da Reforma Psiquiátrica, as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental, e o papel de destaque desta instituição após a Constituição Federal de 1988, transformadora da realidade social, a quem incube zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos nela assegurados, entre os quais, o direito à saúde, bem como defender o regime democrático, os interesses sociais, os interesses individuais indisponíveis e os direitos difusos e coletivos. Buscou-se evidenciar as principais atribuições e características do Ministério Público e como a instituição desempenha suas funções na área da saúde mental. A pesquisa qualitativa constituiuse de análise legislativa, bibliográfica e documental sobre a garantia do direito à saúde, a Política Nacional de Saúde Mental, os objetivos propostos pela Reforma Psiquiátrica e o papel do Ministério Público neste complexo movimento. Os dados coletados sobre as ações efetivas do Ministério Público na área da saúde mental foram levantados no site do Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Ministério Público do Estado do Paraná, Ministério Público do Rio de Janeiro e Ministério Público de São Paulo. A análise dos documentos (Ações Civis Públicas, Inquéritos Civis, Recomendações, Termos de Ajustamento de Conduta, Termos de Cooperação, Cartilhas, entre outros) permitiram contextualizar a atuação do Ministério Público na temática da saúde mental, como importante ator na indução de políticas públicas na referida área e articulador na solução de problemas e efetivação do direito à saúde das pessoas com transtornos mentais. Os resultados apresentados são uma contribuição inicial para a construção de instrumentos de interesse da Saúde Coletiva, e para o fortalecimento da atuação do Ministério Público brasileiro na área da saúde mental.
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído pelo poder estatal como ferramenta garantidora de um direito social, qual seja, o acesso aos serviços de saúde de forma universal, sem distinção, tampouco restrição. A crescente demanda pelo serviço público de saúde denota que fatores como planejamento da oferta e critérios de execução devem estar emparelhados com práticas de integralidade e equidade; urge pontuar que a saúde não é uma ciência exata e carece regrar-se por igualdade proporcional – assistência equânime - sendo distribuída em partes diferentes a pessoas distintas, agindo na simetria da disparidade. O presente estudo de abordagem retrospectiva, descritiva, analítica, realizou-se, na Secretaria de Saúde do Município de Goiânia, capital do estado de Goiás, e teve como objetivo precípuo conhecer o perfil do paciente que aguarda Cirurgia Eletiva do Sistema Osteomuscular, selecionando casos de Fratura ainda não realizados, no período de 2014 a 2018. Foram levantados dados quanto a idade, gênero e resolutividade das cirurgias. Os resultados apresentam que “o SUS é universal”, haja vista que, dentro do grupo estudado infere-se pacientes de ambos os sexos e de diferentes idades, todavia, não se vislumbrou com clareza critérios equânimes quanto a execução final de assistência ao paciente. Sob esta perspectiva, aclama-se a Regulação do Acesso à Assistência como instrumento ordenador, orientador, definidor e garantidor ao acesso da população a ações e serviços de forma simétrica aos dispares
Esta pesquisa tem por finalidade estudar a doença do trabalho Síndrome de Burnout ou síndrome do esgotamento profissional que constitui um dos danos laborais de caráter psicossocial mais importante da sociedade atual. Decorre de um estresse laboral crônico e está relacionada a desordens emocionais, físicas e mentais, e tem como fator de risco a organização do trabalho. Caracterizada por ser o ponto máximo do estresse profissional, pode ser encontrada em qualquer profissão, mas em especial nos trabalhos em que há impacto direto na vida de outras pessoas. O presente estudo teve como objetivo compreender os fatores que contribuem para o surgimento da Síndrome de Burnout em trabalhadores, e com agravos, no local de trabalho insalubre. Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa a partir de: a) pesquisa bibliográfica (livros, periódicos jurídicos nacionais) e documental (leis, jurisprudências, manuais públicos, pareceres, normas regulamentadoras) constituindo vertentes específicas do tema investigado; b) Levantamento das demandas judiciais sobre a Síndrome de Burnout apurado nos últimos 10 nos junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São Paulo durante o mês de junho de 2018. Os resultados apontaram que dos 49 processos estudados, 29 foram iniciados por mulheres, sendo 10 com decisões procedentes, e 19 com sentenças de improcedentes. Já os homens totalizaram 20 ações dentre as 49, onde cinco decisões receberam procedência e 15 tiveram seus pedidos negados. Essa pesquisa observou, ainda, que as mulheres são mais atingidas pela SB, e as razões apontadas, recaem sobre a dupla jornada, trabalho e família. Pode-se concluir que a doença ocupacional – Síndrome de Burnout, como analisado nesse estudo, embora afete cada vez mais os trabalhadores, o seu reconhecimento no mundo do trabalho é de difícil prova por falta de publicidade.
2024
Esta pesquisa analisa a Delegacia de Polícia como porta de acesso à rede de atenção psicossocial, promovendo encaminhamentos de pessoas com deficiência intelectual e/ou transtorno mental para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). A interação entre segurança pública e saúde mental é refletida, considerando as situações em que essas pessoas atuam como vítimas, testemunhas, suspeitos ou autores de infrações penais. A pesquisa delimita-se ao estudo do direito à saúde, especialmente das pessoas com transtornos mentais e/ou deficiência intelectual, quando sujeitas aos serviços policiais. A problemática central consiste em avaliar se as ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, que são direitos de todos e dever do Estado, podem (ou devem) ser aplicadas no âmbito da segurança pública, oportunizando o acesso ao serviço de saúde mental. Inicialmente, são contextualizados os aspectos históricos e jurídicos relacionados às pessoas com deficiência, com uma análise específica das pessoas com deficiência intelectual e/ou transtorno mental. Em seguida, reflete-se sobre a vulnerabilidade dessas pessoas e o dever do Estado de promover a igualdade e o acesso à saúde como direito fundamental. A pesquisa examina os instrumentos jurídicos que garantem direitos fundamentais às pessoas com deficiências, destacando o papel do SUS, a Lei nº 10.216/2001, e o trabalho em rede dos RAPS e CAPS. O estudo aborda o funcionamento da Polícia Civil, sua missão e relação com pessoas com deficiência intelectual, em diversos papéis. Foram analisadas situações de encaminhamento de pessoas da área de saúde para a Polícia Civil, em casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos e violência, e a análise legal e administrativa do encaminhamento da Delegacia de Polícia para a área da saúde mental de pessoas com deficiência intelectual e/ou transtorno mental. Adota-se o método dedutivo, com procedimentos bibliográficos e documentais, consultando legislação, doutrina e artigos científicos. A pesquisa é qualitativa, comparando fontes, conceitos e normatividade jurídica, à luz do referencial teórico. Concluiu-se que há uma carência de dispositivos normativos que viabilizem expressamente o encaminhamento de pessoas da Delegacia de Polícia para a área de saúde mental. No entanto, isso não impede que os Delegados de Polícia realizem tais encaminhamentos, aproveitando a atividade interpretativa e o contexto de integração dos serviços para promover o direito à saúde mental. Normas legais e administrativas, especialmente no Estado de São Paulo, já permitem o encaminhamento de pessoas com deficiência mental ou transtornos para a rede de proteção. O Estado precisa estabelecer um comando legal claro para facilitar esses encaminhamentos pelas unidades policiais.
O presente trabalho trata da análise da atuação das cortes superiores do poder judiciário na efetivação do direito à saúde com foco no fornecimento de medicamentos que não estão contemplados nas listas de fornecimento obrigatório pelo Poder Público. Foi feito um recorte metodológico dos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal utilizando como marcadores de pesquisa, nos sites oficiais dos referidos tribunais, as palavras-chave: “dever” + “Estado” + “fornecer” + “medicamentos” encontrando os seguintes resultados relevantes: Recurso Especial n° 1.657.156/RJ (tema 106 do STJ) e os Recursos Extraordinários 657.718/MG (tema 500 do STF) 1.165.959/ SP (tema 1161 do STF) e 556.471/RN (tema 06 do STF). O objetivo do trabalho é desenvolver uma reflexão sobre a atuação do poder judiciário na efetivação do direito à saúde considerando as ideias de supremacia da constituição e sua força normativa, Estado de Direito e separação de poderes, efetivação dos direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana e mínimo existencial. A abordagem metodológica emprega técnicas de pesquisa bibliográfica, documental e exploratória, conduzindo uma análise qualitativa e aplicando o método dedutivo para compreender e interpretar as premissas estabelecidas pelas cortes superiores. Conclui-se que a instituição de parâmetros interpretativos vinculantes resulta em uma resposta à crescente judicialização da saúde, permitindo que a tomada de decisões seja guiada por critérios e limites claramente definidos.
O presente trabalho objetiva analisar o aspecto constitucional da saúde, se é um direito fundamental, se é um serviço público e, se positivo, se continua sendo direito fundamental e serviço público quando prestado por particular no âmbito da saúde suplementar, investigando o alcance de sua prestação particular e universalidade, trazendo a problemática da não comercialização de planos individuais para pessoas físicas. O método adotado é o dedutivo, mediante análise bibliográfica, legal e jurisprudencial. Como resultado constatou-se que a saúde é um direito fundamental e um serviço público mesmo quando prestado no âmbito da saúde suplementar, com fundamento nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal e a Lei 9.656/98.
O presente estudo aborda a incidência dos poluentes emergentes nas águas tratadas no Brasil, indicando o rol das principais substâncias, descrevendo seus impactos ambientais e seus efeitos adversos à saúde humana, destacando a deficiência da regulamentação destes no Brasil, demonstrando a necessidade de novos paradigmas para a temática. A metodologia utilizada consiste num estudo exploratório com base em levantamento bibliográfico. Os objetivos deste trabalho foram indicar o rol dos principais poluentes emergentes presentes nas águas de superfície, seus impactos ambientais, seus efeitos adversos à saúde humana, destacar a carência da regulamentação destes no Brasil, e indicar a necessidade de novos paradigmas sobre o tema. O trabalho foi titulado como “A potabilidade da água e os contaminantes emergentes: a necessidade de um novo paradigma”, estruturado em quatro capítulos, assim sequenciados: 1) contaminantes emergentes; 2) impactos ambientais e à saúde; 3) legislação, portarias, controle, vigilância e desafios acerca da potabilidade da água e 4) direito do cidadão à água potável. Conclui-se pela necessidade de alteração normativa em relação à potabilidade da água, com ênfase em métodos efetivos para a remoção dos contaminantes emergentes, em consonância com o marco temporal estabelecido pelo novo sistema regulatório do saneamento básico no Brasil (Lei nº 14.026/20), a PEC que disciplina o acesso à água potável como direito fundamental, e os compromissos assumidos pelo Brasil ao subscrever a Agenda 2030 da ONU.
No presente estudo, o fenômeno da concentração no setor de Saúde Suplementar é analisado em relação às suas causas, consequências, e, em especial, em relação à atuação do CADE, Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, em relação às fusões e aquisições no setor. Apesar do crescimento do setor, é possível observar, ao longo das últimas décadas, a diminuição do número e aumento do tamanho das maiores operadoras. Parte deste crescimento se dá através da aquisição de carteiras de convênios menores, em um franco processo de consolidação. Estas aquisições atraem a apreciação do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE), cuja atuação busca evitar condutas anticompetitivas como cartéis e dumping, evitar o abuso do poder de mercado. Ao mesmo tempo, o setor de saúde suplementar está sujeito ao controle exercido pela ANS, que impõe às operadoras uma série de obrigações para com os beneficiários dos planos, como maior cobertura, maior rede, mais procedimentos. Com estas exigências progressivamente maiores, muitas operadoras pequenas não conseguem prosseguir no mercado, ao mesmo tempo que as grandes só conseguem se manter através da verticalização. O estudo tem por objetivo descrever o que é o fenômeno da concentração, verificando se este fenômeno está ocorrendo no setor de saúde suplementar no Brasil, com suas possíveis consequências para o mercado, para os consumidores e para os trabalhadores deste setor. Para esse mister, foi adotada como metodologia de abordagem o método dedutivo, que parte do geral e desce ao particular valendo-se de princípios, leis ou teorias consideradas verdadeiras para predizer a ocorrência de casos particulares, e como procedimento a análise de fontes bibliográficas diversas, entre estas doutrina especializada, artigos científicos, legislação internacional e nacional, relatórios das agências especializadas, e decisões do CADE. Os resultados sugerem que as particularidades do mercado de Saúde Suplementar escapam das ferramentas de análise empregadas pelo CADE, e que a concentração tem potencial de permitir exercício abusivo do poder de mercado, prejudicar o direito de escolha dos consumidores, que passam a contar com menor gama de serviços disponíveis, e uniformizar também os salários, prejudicando o mercado de trabalho neste setor.
Considerada como direito indisponível, a saúde é consagrada como um bem precioso de todos nós, e graças à medicina temos condições fáticas para garantir e zelar por este bem tão significativo. Nesse sentido, o presente estudo analisa especificamente os desafios regulatórios da telemedicina na perspectiva do Direito Comparado do Brasil e União Europeia, tendo como base normas e diretrizes gerais vigentes e leis específicas. Para a demonstração acerca dos desafios da telemedicina no Direito Comparado Brasil e União Europeia abordamos a evolução normativa da telemedicina desde a primeira manifestação regulatória explanada pela Assembleia Geral da Associação Médica Mundial no ano de 1999, elucidando toda a evolução normativa no Brasil, disciplinada pelo Conselho Federal de Medicina até os dias atuais, e na União Europeia, através das Comunicações da Comissão Europeia, incluindo o Tratado de Funcionamento da União Europeia e a Carta do Direitos Fundamentais da União Europeia. Ilustramos algumas problemáticas normativas no que tange à preservação dos direitos dos pacientes, à responsabilidade em relação ao tratamento de dados pessoais sensíveis, sobre os dispositivos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre a Resolução CFM nº 2.314/2022, bem como sobre a comprovação de danos decorrentes de vazamento de dados. O objetivo do estudo tem por objeto analisar lacunas específicas das normas previstas no Brasil e na União Europeia a fim de elucidar possíveis inseguranças jurídicas dos pacientes na telemedicina. Adota-se à pesquisa o método bibliográfico através de procedimento de coleta e análise narrativa com base em livros, artigos científicos e legislação disponível na internet. O resultado aponta os desafios regulatórios da telemedicina, indicando algumas omissões normativas, todavia com plena possibilidade de aplicação do conjunto de normas prevista no ordenamento jurídico brasileiro bem como aplicação das diretivas e comunicações da União Europeia.
Objetivos: Abordar a interseção entre o direito à saúde como um direito humano fundamental e a liberação do uso de canabidiol como tratamento médico legítimo. Analisar a tutela legal que respalda o direito à saúde, evidenciando a normativa que reconhece a saúde como um direito social, econômico e cultural, assegurando o acesso universal a serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. Verificar a validade do uso terapêutico do canabidiol, explorado como uma alternativa de tratamento em diversas condições médicas, incluindo epilepsias refratárias, dores crônicas e transtornos neuropsiquiátricos. Discutir a regulamentação do uso medicinal do canabidiol no Brasil, destacando desafios e avanços, questões legais e regulatórias relacionadas à produção, distribuição e prescrição são discutidas, considerando a necessidade de equilibrar a segurança dos pacientes com o acesso a tratamentos inovadores. Metodologia: a pesquisa foi realizada através de recursos bibliográficos, com consulta à doutrina e legislação nacionais e estrangeiras, de forma qualitativa, em abordagem descritiva. Resultados: Conclui-se que a integração adequada do canabidiol no contexto regulatório brasileiro pode representar um passo significativo na garantia do direito à saúde, proporcionando opções terapêuticas mais amplas e eficazes para a população. Encontrando barreiras na regulamentação devido a manipulação dos insumos e o caráter recreativo do seu uso, classificado como droga ilícita. Dentre os obstáculos superados, verifica-se que há o claro reconhecimento da validade do canabidiol como medicamento, capaz de trazer inúmeros benefícios à saúde e boa resposta no tratamento de diversas doenças. Contudo, ainda resta superar os obstáculos de legalidade da manipulação dos insumos, bem como, ainda, estabelecer os critérios de fiscalização de sua comercialização.
A simbiose entre saúde e meio ambiente do trabalho está literalmente destacada no artigo 200, inciso VIII, da nossa Constituição Federal, que prevê: “ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições [...] colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho”. Essa intersecção também fica estampada na Convenção OIT n. 155, “sobre segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho”. Grande parte dos ambientes de trabalho se encaixa numa moldura clássica, na qual empregador e empregado interagem num local previsivelmente definido, estanque, praticando atos que geram consequências estritamente endógenas. No âmbito portuário, porém, há uma série de entrelaçamentos dinâmicos que moldam a realidade laborambiental. Nessa peculiar gestalt os empregados interagem com trabalhadores avulsos. Esses distintos grupos precisam se alinhar na movimentação de cargas das mais diversas espécies, em meio a máquinas e veículos de grande porte, realizando atividades a bordo dos navios e nas instalações portuárias. A estreita conexão com o mar, a fauna, a flora e as populações locais (relação porto-cidade) gera, para os atores sociais do trabalho portuário, uma responsabilidade extralaboral. Poluições no campo laborambiental portuário podem facilmente se espalhar pelo meio ambiente urbano e pelo meio ambiente natural; degradando, por exemplo, a qualidade do ar e da água. Para além da dimensão regional, o ambiente de trabalho degradado num determinado porto pode causar danos ambientais em mar aberto, ou em portos de outros países. O contexto em referência exige um olhar especial sobre a preservação do meio ambiente no trabalho portuário, que possui uma série de especificidades regulatórias e operacionais. A efetividade do direito ao meio ambiente saudável no trabalho portuário passa, necessariamente, pela observância das medidas tuitivas previstas nas normas da OIT. Este trabalho objetivou identificar, através de pesquisa bibliográfica e documental, se as principais convenções e recomendações da OIT sobre meio ambiente do trabalho portuário foram incorporadas ao sistema normativo brasileiro. Constatou-se que essa assimilação ocorreu ao longo da década de 1990, com a formação específica de um microssistema de tutela labor-ambiental portuária.
O fenômeno do adiamento da maternidade é um reflexo das mudanças sociais e econômicas que têm impactado as decisões reprodutivas. A crescente inserção feminina no mercado de trabalho, o avanço educacional e a busca por estabilidade financeira e pessoal são fatores que contribuem para que muitas mulheres posterguem a maternidade. Contudo, esse adiamento traz uma série de implicações, especialmente no que tange à saúde, ao acesso à parentalidade e às técnicas de reprodução assistida, o que torna o tema de grande relevância nas sociedades contemporâneas. A dissertação tem como objetivo principal investigar as consequências desse adiamento da maternidade, com um foco especial nas questões de infertilidade e no acesso à parentalidade. O estudo explora os fatores que levam ao adiamento, suas repercussões físicas, psicológicas e sociais, e examina as técnicas de reprodução assistida disponíveis, além de analisar a legislação brasileira sobre direitos reprodutivos. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e doutrinária com abordagem qualitativa, que permitiu uma análise abrangente das complexidades envolvidas na maternidade tardia. Os resultados da pesquisa indicam que, embora haja avanços significativos nas técnicas de reprodução assistida, as mulheres com mais de 40 anos ainda enfrentam desafios consideráveis nos âmbitos legal, social e médico, que podem dificultar o acesso à parentalidade. A dissertação, estruturada em seis capítulos mais a conclusão, aborda desde os fatores que contribuem para o adiamento da maternidade até as soluções possíveis para melhorar o acesso das mulheres aos tratamentos de infertilidade e garantir seus direitos reprodutivos, em especial para as mulheres com mais de 40 anos, reafirmando a importância de políticas públicas e suporte adequado para superar esses obstáculos, justamente por ser o público que mais busca pela parentalidade, de acordo com os dados do IBGE.
O estudo em tela aborda a complexidade emocional e psicológica enfrentada pelos profissionais da Medicina Veterinária ao lidar com perdas de pacientes, destacando a prevalência do luto e suas implicações na prática clínica. As perguntas disparadoras que orientam a pesquisa incluem indagações sobre o impacto do luto na rotina profissional dos veterinários, a intensificação dessa vivência devido às particularidades da profissão e as estratégias eficazes de apoio emocional e psicológico. A justificativa para tal investigação se baseia nos crescentes índices de transtornos mentais e suicídio entre esses profissionais, ressaltando a urgência em abordar essa temática para promover um ambiente de trabalho mais saudável e resiliente. O objetivo geral do estudo é proporcionar uma análise compreensiva do fenômeno do luto na Medicina Veterinária, contemplando os desafios emocionais e psicológicos enfrentados pelos veterinários e propondo intervenções que visem o apoio e a promoção do bem-estar. Entre os objetivos específicos, destaca-se a contextualização do luto na prática veterinária, a exploração da relação entre o luto e o aumento dos índices de suicídio na profissão, a análise das síndromes de Burnout e do Impostor e a proposição de estratégias de suporte emocional e psicológico. Assim, o trabalho se configura como uma contribuição relevante ao campo de estudo, fornecendo opiniões e direcionamentos para futuras pesquisas e práticas clínicas na Medicina Veterinária.
A presente pesquisa busca identificar garantias do direito à saúde a partir do Estado democrático de direito, da afirmação histórica dos direitos humanos e da ampliação da participação social nos processos democráticos e sua relação com a saúde global. O objetivo geral do estudo é relacionar o Estado democrático de direito, a afirmação histórica dos direitos humanos e sua relação com a revelação da saúde como direito. O objetivo específico é a identificação de direitos humanos garantidores da saúde global no âmbito regional e nacional e a relevância da participação da comunidade. Justifica-se a escolha do tema dada a reduzida efetividade da força normativa da Constituição, ocorrendo contradições sociais que atuam para a revogação de direitos inerentes historicamente consagrados. Assim, o princípio democrático e a finalidade do Estado são analisados como pressupostos garantidores do direito humano à saúde do indivíduo-cidadão-povo. Identificou-se a atuação dos agentes do capital financeiro como contradição, que se utilizam da estrutura do Estado em proveito próprio, diminuindo a eficácia dos direitos historicamente conquistados. Esses pressupostos foram aplicados aos conceitos de saúde global e de determinantes sociais de saúde, bem como a verificação dos efeitos da ação humana (antrópica) no meio ambiente e as consequências à saúde. Foram relacionados o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os direitos dos povos indígenas e a relevância da garantia da efetividade desses direitos para a saúde do indivíduo-cidadão-povo enquanto saúde global, regional e nacional e saúde socioambiental. A metodologia da pesquisa utiliza-se da análise histórica para revelar o processo social que culminou na declaração da saúde como direito. A análise histórica foi realizada através de material bibliográfico obtido de forma exploratória e posteriormente tratado como revisão narrativa. Os resultados indicam que o capital financeiro, representado pelos atores do fenômeno da globalização, utiliza a estrutura do Estado em proveito pessoal diminuindo a efetividade do direito e da força normativa da Constituição. Nesse contexto, o direito à saúde tem reduzida sua efetividade e a saúde global e socioambiental como evidência não se concretizam. As evidências demonstram que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito dos povos indígenas são desrespeitados, o que leva à produção de determinantes sociais de saúde negativas.
Decisões judiciais que concedem tecnologias de saúde não incorporadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), em especial de medicamentos não registrados na ANVISA ou registrados por rito acelerado, ocorrem em um contexto de dificuldades orçamentárias para as despesas com saúde pública e expressivo aumento do volume de ações individuais ajuizadas em face do Poder Público. A circunstância de que os orçamentos destinados ao cumprimento dessas decisões e ao sustento do sistema público provêem da mesma fonte financeira matriz provocam reflexão sobre a equidade do acesso à saúde no Brasil. Constitui-se objetivo do trabalho a análise do contexto jurídico-normativo e social dos parâmetros de concessões administrativa e judicial de medicamentos de alta tecnologia em saúde, estabelecendo-se estudo interdisciplinar acerca das possíveis contradições e consequências que se formam a partir desse cenário. Por meio de pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, analisa-se de forma comparativa as características dos parâmetros administrativos e judiciais de acesso a medicamentos e do quadro de gastos públicos da esfera federal do SUS na judicialização, no recorte de 2007 a 2021. Interpreta-se também o contexto observado a partir de pesquisa de decisões judiciais por nomes de específicos medicamentos nos portais dos Tribunais Regionais Federais e na plataforma de pesquisa Jusbrasil, no período de setembro de 2019 a agosto de 2024. Os resultados da pesquisa apontam para a predominância de visão individualista da universalidade e da integralidade do sistema público no âmbito da judicialização da saúde de tecnologias de alto custo, que produz impacto financeiro capaz de afetar a equidade no acesso à saúde. A pesquisa aponta também que decisões judiciais, em boa parte dos casos, não respeitam premissas técnicas adotadas por lei para incorporação de medicamentos na política pública de saúde. Dentre os problemas mais frequentes identificados na pesquisa como ensejadores de tal desrespeito estão a utilização do registro em agências no exterior como fundamento da concessão de medicamento não incorporado (nem registrado) no Brasil, sem considerar as diferenças entre sistemas; a confusão entre os procedimentos de registro sanitário e o de incorporação de um medicamento no SUS, sobretudo quando o registro consiste na verdade em registro acelerado (fast track), com a consequente ausência de análise desta circunstância e do critério de custo-efetividade e; a concessão de medicamento tendo como fundamento principal pedido médico apresentado pelo autor da ação individual. A pesquisa também aponta que não se adota perspectiva semelhante quanto se trata de prestações a serem concedidas via saúde suplementar. Achados também permitem identificar que o montante total de despesas com a judicialização da saúde em 2021 foi bastante impactado por um único medicamento que recebeu registro acelerado (fast track). A pesquisa das decisões judiciais concessivas deste específico medicamento revela que a ampla maioria das decisões se referiam a casos que não se enquadravam naqueles que as evidências científicas recomendavam o uso, à luz dos critérios de incorporação que vieram a ser adotados posteriormente, e algumas inclusive ignoravam as recomendações do próprio fabricante.
A crise econômica e humanitária que assola a Venezuela tem forçado milhões de cidadãos a buscar refúgio em outros países, com destaque para o Brasil. Este fenômeno migratório apresenta desafios significativos, especialmente para as mulheres venezuelanas, que enfrentam barreiras adicionais ao tentar acessar serviços essenciais como saúde. De acordo com o ACNUR Brasil (2024), o número de refugiados venezuelanos no Brasil continua a crescer, exigindo atenção especial das autoridades locais. Nesse contexto, surge a Problemática de como as políticas públicas brasileiras podem ser ajustadas para atender efetivamente às necessidades de saúde das mulheres refugiadas venezuelanas. As dificuldades enfrentadas por essas mulheres ao acessar o sistema de saúde brasileiro levantam questões cruciais sobre a eficácia das políticas públicas atuais. Dentre as principais Perguntas de Pesquisa, destacam-se: quais são os obstáculos enfrentados por essas mulheres ao buscar atendimento de saúde no Brasil? E como as políticas públicas podem ser aprimoradas para garantir um acesso mais equitativo e inclusivo? como objetivo deste trabalho é identifica e analisa os desafios enfrentados pelas mulheres refugiadas venezuelanas no Brasil em relação ao acesso à saúde. Para isso, avalia a eficácia das políticas públicas existentes e propor ajustes necessários para melhorar o atendimento. A metodologia utilizada inclui uma bibliografia de trabalhos acadêmicos, artigos, livros, blogs e plataformas acadêmicas. As plataformas utilizadas para a pesquisa incluem Google Scholar, Scielo, Scientific Electronic Library Online, Jstor, PubMed, IEEE Xplore, Scopus, Web of Science, ResearchGate, Academia.edu e DOAJ, Directory of Open Access Journals, que fornecem uma base abrangente para a compreensão dos desafios enfrentados. Informações adicionais sobre políticas públicas e saúde podem ser acessadas no portal do Governo Federal e no site do Ministério da Saúde, que fornecem uma base para pesquisas. As justificativas: Diante da vulnerabilidade extrema dessas refugiadas, é imperativo compreender e solucionar as barreiras que limitam seu acesso à saúde, promovendo assim seus direitos humanos e dignidade. Quanto as Hipóteses: A pesquisa sugere que ajustes específicos nas políticas públicas de saúde podem melhorar significativamente o acesso das mulheres refugiadas aos serviços necessários, garantindo sua eficácia e inclusão. A análise revelou a necessidade de políticas públicas mais inclusivas e adaptadas às realidades dessas mulheres, destacando a importância de estratégias que promovam a dignidade e a autonomia das refugiadas venezuelanas no Brasil. Título: O Acesso a Saúde Das Mulheres Refugiadas Venezuelanas no Brasil: Desafios e Implicaçõe.
O copagamento é um instrumento que pode contribuir à sustentabilidade financeira e/ou eficiência das políticas públicas de saúde, desde que estruturado adequadamente. Sob a ótica da Constituição Federal de 1988, o copagamento é compatível com as normas/objetivos constitucionais e com o sistema universal de saúde, inexistindo razões a priori que impeçam a sua instituição.
Este trabalho se propõe a demonstrar a grande importância do Projeto REFORSUS para a manutenção, o avanço e a consolidação do Sistema Único de Saúde. O principal objetivo do projeto à época era implementar ações estratégicas voltadas para o reforço do desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, visando contribuir para a garantia da universalidade, integralidade e equidade do acesso aos bens e serviços de saúde. O Projeto REFORSUS, constituiu-se à época como o maior projeto de investimento financeiro na área da saúde, e abarcou praticamente todas as áreas como: infraestrutura (construção e reformas de unidades de saúde, laboratórios e hospitais), informação e informática, capacitação de recursos humanos, estrutura política do sistema e modernização gerencial. Todas as instâncias dos gestores e dos conselhos de saúde do SUS participaram das discussões, elaboração e acompanhamento do Projeto. O Ministério da Saúde foi na ocasião o grande condutor do projeto, estabelecendo prioridade máxima para o êxito do mesmo. Os entes federados como Estados e Municípios foram fundamentais para a elaboração dos subprojetos e execução dos mesmos. Os gestores municipais apresentavam os subprojetos aos respectivos Conselhos de Saúde local e posteriormente encaminhados e aprovados pelas comissões bipartite (participação das Secretarias Municipais de Saúde e a respectiva Secretaria Estadual de Saúde). O mesmo ocorria com propostas regionais e estaduais, onde os Conselhos Estaduais aprovavam. Por último a Comissão Intergestora Tripartite (municípios, estados e união) juntamente com o Conselho Nacional de Saúde, davam as últimas definições. Após todos os trâmites, os recursos eram liberados aos municípios e estados, “carimbados” exclusivamente para o projeto aprovado e mediante acompanhamento e metas estabelecidas. Para uma melhor compreensão deste trabalho, apresentaremos resumidamente os resultados alcançados através de seis eixos. - Eixo 1 – Informação e Informática; - Eixo 2 – Estrutura Política do Sistema; - Eixo 3 – Economia da Saúde; - Eixo 4 – Capacitação de Recursos Humanos; - Eixo 5 – Modernização Gerencial; - Eixo 6 – Infraestrutura. Cada eixo apresentado seguiu a mesma estruturação: Nome do subprojeto 1 - Motivação; 2 - Objetivos; 3 - Operacionalização; 4 - Resultados/contribuições; 5 – Recomendações; 6 – Outras informações que julgar necessário. Passados mais de 20 anos da experiência exitosa do Projeto REFORSUS e o Sistema Único de Saúde, completando 35 anos de existência, entendemos que nossos gestores poderiam, analisar a história e a experiência do Projeto REFORSUS transportando para a atualidade projetos que alavancassem principalmente a Atenção Primária em Saúde, buscando a melhoria da equidade do sistema, ainda um dos nossos grandes “gargalos”.
2022
O presente estudo analisa a aplicação do programa de compliance também conhecido como programa de integridade ou conformidade aplicado especificamente à prevenção de erro médico e mitigação de danos à pacientes em hospital privado. Para a demonstração acerca da aplicabilidade do programa de compliance na prevenção de erro médico e mitigação de danos é abordada a origem da tutela da saúde no âmbito internacional e nacional, bem como a recepção do programa de integridade no ordenamento jurídico brasileiro trazendo à discussão a função social do hospital privado e a necessidade de estabelecimento de procedimentos e protocolos de segurança específicos para cada tipo de relação envolvendo o hospital, o médico e o paciente na medida do risco potencial de cada atividade. Nesse sentido, os direitos e deveres do hospital, do médico e do paciente são estudados na medida de cada um dos componentes dessa relação triangular a fim de proporcionar uma visão sistêmica do programa de compliance frente à variedade de atividades próprias do cotidiano hospitalar. Aplica-se ao estudo o método estruturalista com viés funcionalista e o procedimento de coleta e análise é a revisão narrativa com base em livros, artigos científicos e documentos disponíveis na internet. O resultado aponta para a plena possibilidade de aplicação e desenvolvimento do programa de compliance na prevenção de erro médico e mitigação de danos seja como instituto jurídico no caso de defesa na discussão sobre o nexo causal da responsabilidade civil ou como instrumento de redução do valor indenizatório em caso de condenação do hospital privado em demanda judicial fundada em erro médico
Trata-se de trabalho original que busca examinar as possíveis contradições entre os interesses públicos e privados na participação democrática da sociedade civil sob a gestão do terceiro setor. A pesquisa é de cunho exploratório e descritivo, fundada em levantamento bibliográfico e documental, valendo-se da análise de legislação, doutrina e artigos científicos disponíveis em meio físico e digital. Importante frisar que, a Carta Magna consagrou o direito de participação da sociedade civil na tomada de decisões pelo Estado. Todavia, também concedeu a possibilidade da gestão dos serviços públicos de saúde, que até então era de responsabilidade direta do Estado, para as Organizações Não Governamentais (ONG) – Terceiro Setor. Sendo assim, o terceiro setor incumbiu-se de administrar diversos serviços públicos de saúde no Brasil, com o slogan de “desburocratizar” a gestão. No entanto, tem-se como hipótese, que é desrespeitado o princípio da participação democrática nos setores de interesses públicos, conforme foram insculpidos na Carta Magna, devendo-se manter sob a égide da administração direta do Estado
O objetivo deste trabalho foi analisar as responsabilidades do Estado nos casos de ausência de assistência da saúde mental das pessoas condenadas com a privação de liberdade na perspectiva do direito à saúde, bem como aprofundar o tema no que diz às causas dos transtornos mentais que ocorrem no cárcere, traçando uma relação entre o surgimento de tais doenças e a omissão estatal no que diz respeito ao enraizamento dos maus tratos na estrutura física e ao tratamento (i) moral direcionado aos privados de liberdade. O método de análise e abordagem da pesquisa foi o método dedutivo, pois partimos da premissa de que o Estado não tem efetivado as políticas de saúde mental nos estabelecimentos prisionais, de forma eficiente e efetiva. Com relação ao método procedimental de coleta de dados, recorreu-se a fontes documentais, jurisprudenciais, convencionais, numa revisão de literatura sobre a temática geradora que subsidiou o aporte teórico da pesquisa. Outrossim, ao longo do estudo, detalhou - dados de pesquisas realizadas no cárcere nacional sobre o transtorno mental que acometia os privados de liberdade, em destaque para as pesquisas de Otaviano Oliveira e Paulo Teitelbaum (1999), no Estado do Rio Grande do Sul, Fábio Araújo, Tatiana Nakano e Maria Gouveia (2009) com os presos no Estado da Paraíba, Sérgio Andreoli e Elias Abdalla Filho (2012), no Estado de São Paulo, Maria Coelho (2012), da cidade de Salvador/Bahia, Fernando Damas e Walter Oliveira (2013), em Santa Catarina, Maria Minayo e Adalgisa Ribeiro (2016), do Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, bem como se traçou um diálogo de tais dados com a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE no ano de 2013, que demonstra o elevado índice de surgimento de transtornos mentais severos entre os encarcerados. Ao final, fez-se crítica a problemática do acesso a saúde mental do condenado e a respectiva responsabilização estatal pela sua não concretização.
Esta pesquisa tem a proposta de investigar o grau de integralidade do acesso aos medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, no que se refere aos disponibilizados pelo Estado, na Regional de Saúde de Vilhena, bem como, analisar o índice de judicializações desse componente em relação aos demais medicamentos demandados. Quanto à metodologia utilizada, foi observada a necessidade de uma pesquisa que é, concomitantemente, qualitativa e quantitativa. Já para a construção dos capítulos, foram adotados os métodos de abordagem sistêmico e o dialético, além das técnicas de coleta documental e bibliográfica. No que se refere ao aspecto da territorialidade abrangida, a pesquisa se circunscreveu ao Estado de Rondônia, especificamente aos municípios que abrangem a III Gerência Regional de Saúde. Concentrou-se, para tanto, o referencial documental e bibliográfico, assim como os dados estatísticos, em sua maioria, ao âmbito do Estado de Rondônia. Essas informações foram coletadas, por sua vez, não só a partir de aquisição via Portal Transparência do Estado de Rondônia, mas também por meio de leitura dos Relatórios Anuais de Gestão referente aos anos compreendidos entre 2018 e 2020, no qual constam dados referentes à III Gerência Regional de Saúde de Vilhena, com abrangência de 7 (sete) municípios. Quanto ao aspecto temporal, tanto a pesquisa que envolve a Regional de Saúde, bem como as informações recolhidas acerca do Estado de Rondônia de forma geral, limitou-se ao período entre 2018 e 2020. Foram abordados também, ao longo da pesquisa, conceitos técnicos sobre medicamentos, ciclo da Assistência Farmacêutica, RENAME e legislações sobre medicamentos. Concluiu-se que a Assistência Farmacêutica voltada ao Componente Especializado vem sendo contemplada de forma considerável, porém é possível perceber que ocorrem algumas fragilidades nesse acesso, segundo os Relatórios Anuais de Gestão da Regional, ou pelos medicamentos solicitados não contemplarem os protocolos padronizados pelo Ministério da Saúde ou por eles estarem em falta nos estoques das unidades responsáveis por esses medicamentos. Já em relação à judicialização, percebeu-se que as demandas de medicamentos do Componente Especializado na região do Cone Sul apresentam-se em percentuais consideráveis, e que as principais solicitações que envolvem esse fenômeno em Rondônia são: medicamentos que não estão padronizados em programas contemplados no SUS; medicamentos que não possuem registro na Anvisa; medicamentos de marca específica, aos quais não são permitidas alternativas ou o seu genérico; e tratamentos experimentais.
A análise de condutas de erro médico sob o prisma do direito criminal não é um caminho retilíneo, porquanto nem sempre que ocorrer um resultado indesejado pela conduta do médico, poderá se falar na responsabilização criminal do profissional. Será preciso analisar a existência de nexo causal entre conduta e resultado, se o profissional incrementou ou criou um risco com a conduta desempenhada, também será imperioso perquirir se a conduta se constituiu em erro profissional ou erro médico, bem como se o profissional seguiu a lex artis ad hoc no caso concreto. Outrossim, deve ser analisado, de acordo com o caso posto, se o profissional possuía o dever de garante ou se assumiu este dever de alguma forma. No caso de erro surgido da prática de atos em equipe, mister apurar o papel individual de cada qual, com o intuito de sancionar somente o errante. Por outro lado, tão importante quanto a criação de balizas para a responsabilização criminal de condutas de erro médico, é a mitigação dos riscos, à guisa de reduzir a incidência de erros (e, portanto, melhorar ao atendimento ao paciente), bem como a judicialização criminal em face do profissional da saúde. O criminal compliance, através da detecção e correção dos problemas que conduzem ao erro médico se mostra como uma ferramenta importante, assim como a elaboração de um prontuário médico detalhado e a criação de padrões de segurança para redução das falhas humanas, como as red rules ou red flag rules. Neste sentido, o trabalho em apreço possui a finalidade de demonstrar critérios de análise para a imputação ou não de responsabilidade criminal por erro médico. A metodologia aplicada foi exploratória aplicando o método dedutivo na análise de doutrinas jurídicas, legislações federais e normativas do Conselho Federal de Medicina. Após a análise concluiu-se que o estabelecimento de critérios objetivos para a responsabilização criminal por erro médico passa pela análise do proceder imprudente, imperito ou negligente do profissional, complementado pelo exame da lex artis ad hoc, pelo nexo causal através da teoria da equivalência das condições e da teoria da imputação objetiva, bem como que o Criminal Compliance, o prontuário médico bem elaborado, os Termos de Consentimento Informado e a adoção das Red Rules constituem importantes formas de mitigação dos riscos de uma denúncia criminal contra o profissional da saúde e, sobretudo, melhoram a prestação dos serviços de saúde a quem deles necessita.
O presente trabalho tem por objetivo reforçar a tutela da vontade do idoso mesmo após sua morte. Nessas letras, sua autonomia é compreendida como reflexo de sua dignidade e respeito social, sendo ímpar a preservação de seu poder de decisão. Para tal, foram descontruídos preconceitos sociais que ligam a velhice à doença e incapacidade nos primeiros capítulos. Com foco na explanação da tutela social do idoso, requisitos necessários a capacidade testamentária e explanação relativa à síndrome demencial, fez-se possível a compreensão da necessidade de manutenção da presunção de capacidade de testar do idoso. Em verdade, esta apenas será comprometida por doenças subjacentes que venham a desencadear quadro de senilidade, conceito desassociado da simples ideia de velhice. Em um segundo momento, cuidamos da aferição d discernimento para testar realizada pelo profissional médico e tabelião de notas, concluindo pela qualificação técnica superior do profissional médico e insuficiência da aferição realizada pelo notário para salvaguarda da segurança jurídica do testamento público realizado pelo idoso. Seguimos com a demonstração de que o judiciário fatidicamente adota a mesma conclusão, valorando a prova médica como superior à aferição de discernimento notarial, capaz de invalidar o ato público realizado pelo profissional. Por fim, propomos a compatibilização de ambas as avaliações para garantia da segurança jurídica do testamento do idoso, com a consequente validade e produção de efeitos nos termos de sua vontade mesmo em período póstumo à sua passagem terrena.
O presente trabalho tem como objetivo relacionar a relevância de se adotar políticas públicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), como uma rede ampliada e que priorize a intersetorialidade, bem estruturada, para a promoção do direito à saúde no Brasil, principalmente no caso de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Portanto, foram analisados fenômenos que influenciam diretamente para que a referida rede seja eficazmente implementada, como fatores políticos, as evoluções do direito das pessoas com TEA, a dizer pela importância da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Lei Berenice Piana), as características do transtorno e o modo de funcionamento de uma rede ampliada, na teoria e na prática, com o intuito de compreender se o projeto é passível de implementação e se é de fato eficaz e inclusivo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica, na qual foram utilizados artigos e livros pertinentes à temática, na busca de verificar a articulação intersetorial necessária para a assistência integral desta população e quais políticas públicas são oferecidas. Compreendendo a essencialidade do diagnóstico precoce e de intervenções com terapias complementares, direcionadas a particularidade de cada indivíduo com TEA, é possível refletir a respeito da articulação em rede, seus avanços e desafios, além da análise sobre a implementação de centros especializados em autismo no Brasil, que atuem de forma interdisciplinar, intersetorial, custeados pelo SUS, que ofereçam tratamento direcionado para a população autista, buscando desenvolver e potencializar habilidades, manejar comportamentos inadequados, melhorar prognósticos, além de promover bem-estar, qualidade de vida e autonomia a essas pessoas com deficiência. Como referência, cita-se a ClínicaEscola do Autista de Santos, equipamento referência no cuidado ao autista no Brasil, cem porcento custeado pelo SUS, e que serve como balizador, nesta pesquisa, para a compreensão sobre a efetividade e necessidade de políticas públicas de mesmo modelo no país.
Os adolescentes vivem uma fase de transição e são únicos em termos de desenvolvimento, com necessidades e desafios específicos que, se não forem abordados, resultarão em intervenções menos bem-sucedidas. Ao compreender a vulnerabilidade às IST/HIV/AIDS na adolescência, bem como a importância de se desenvolverem mecanismos que possam auxiliar os adolescentes em eventos adversos, os resultados deste estudo permitem subsidiar ações de promoção da saúde para adolescentes. Este trabalho tem como objetivo contribuir com novos elementos, incorporando aqueles da área do direito da saúde, para a análise das concepções/percepções de adolescentes sobre a prevenção do HIV e o tratamento daqueles já infectados, bem como, de apresentar subsídios para o aperfeiçoamento de políticas públicas acerca do tema. A metodologia utilizada consiste num estudo exploratório com base em levantamento bibliográfico. Concluindo-se que a prevenção do HIV/AIDS deve ser priorizada em populações jovens com alta incidência e especificamente em populações-chave jovens que são particularmente vulneráveis. Necessário uma nova abordagem que reduza as desigualdades que impulsionam a epidemia de AIDS e coloque a saúde das pessoas no centro das políticas públicas, priorizando os direitos humanos, respeito e a dignidade
O objeto deste trabalho é identificar os limites de cobertura assistencial no contrato de plano de saúde, sem deixar de lado as normas e os princípios jurídicos inerentes ao tema. Para tanto, a metodologia a ser adotada será a dedutiva, mediante consulta de doutrinas consagradas do Direito Privado, pesquisa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como diversos documentos relevantes (especialmente leis e atos normativos infralegais). O resultado desta pesquisa demonstra que a conciliação entre os direitos em jogo com a consagrada Teoria do Direito de saúde. Contrato de plano de saúde. Princípios contratuais dos Contratos é perfeitamente possível
As camadas mais pobres da população brasileira enfrentam constantes situações de discriminações e desvantagens, reforçando ainda mais as condições de vulnerabilidade da saúde e prejudicando o avanço da mesma. A Mistanásia surge como um problema que atinge aqueles cidadãos que não possuem condições de custear a assistência em saúde e consequentemente, dependem dos cuidados do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo geral deste estudo foi analisar a relação entre Mistanásia e a Saúde Pública brasileira, considerando os fundamentos jurídicos e sociais. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos de bases reconhecidas, teses, dissertações encontradas na Internet e as legislações sobre o tema pertinente. Este estudo demonstrou que quando o sistema público de torna ineficiente, a judicialização da saúde torna-se um instrumento para assegurar com que os cidadãos tenham acesso adequadamente aos seus direitos, sendo, portanto, uma questão ampla e diversa que ainda merece debates significativos para identificar que nem os direitos sociais da população e a atuação do poder público sejam aferidos. Conclui-se que somente com a garantia de um sistema público de saúde universal como o SUS, as necessidades de atenção à saúde da população serão supridas e efetivadas, reduzindo os casos de Mistanásia
A presente pesquisa tem o objetivo de avaliar a situação de efetivação e de descumprimento dos Direitos a saúde dos encarcerados, bem como as condições sanitárias do sistema carcerário na era da doença pandêmica “COVID-19”, um novo tipo de coronavírus (SARS-CoV-2), identificado inicialmente na China e relatado à Organização Mundial da Saúde (OMS) no último dia de 2019. Diante dos avanços altamente destrutivos, a OMS decretou em 30 de janeiro de 2020 alerta máximo por Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. No Brasil, a decretação de estado de calamidade pública ocorreu pelo Decreto Legislativo nº06, de 20 de março de 2020. A grande problemática do sistema prisional é a superlotação carcerária, no entanto desperta interesse em constatar qual foi o posicionamento do Estado e do Judiciário brasileiros em relação à crise do sistema carcerário durante a pandemia. O presente estudo foi dividido em 4 (quatro) capítulos. O primeiro capítulo relata o panorama geral das prisões Brasileiras em relação a saúde dos presos, a situação das pessoas encarceradas e o reconhecimento da violação massiva de direitos fundamentais, resultando no reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional, destacando o principal problema da superlotação carcerária. O segundo capítulo mostra os impactos sanitários da doença COVID-19 nas prisões brasileiras e o quanto a pandemia agravou a situação nefasta da saúde no sistema prisional. O terceiro capítulo mostra o que o Estado efetivamente fez para coibir a pandemia, bem como a sua fiel atuação junto à problemática da superlotação, dentre elas as recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). No quarto e último capítulo discute-se, por fim, o posicionamento do judiciário ante a cultura de encarceramento, o número de presos condenados que ja deveriam ter progredido de regime e que, infelizmente, continuaram a fazer parte da superlotação carcerária, bem como os presos provisórios que são mantidos cativos por mais tempo além do previsto em lei, expressando a manifesta tendência do Judiciário em manter a prisão como punição máxima, mesmo em casos em que ela não é necessária ou legalmente permitida. A Dissertação propõe uma reflexão a respeito das condições de saúde do sistema prisional brasileiro, cujo agravamento aumentou com a pandemia de COVID-19. A metodologia utilizada foi a técnica de pesquisa bibliográfica e documental, baseada na visão da cultura do encarceramento do sistema brasileiro, propondo um trabalho exploratório descritivo.
A presente dissertação tem como objeto de estudo o contrato de responsabilidade civil médica. O objetivo do presente estudo é analisar por meio da revisão da literatura a importância do seguro de responsabilidade civil do médico como instrumento de proteção aos riscos profissionais a que o referido profissional se encontra submetido principalmente no exercício da Telemedicina. A justificativa do presente estudo se fundamenta em demonstrar a importância social e jurídica do tema em questão, pelo fato de que a Medicina venha a ser uma profissão que cuida dos bens mais caros ao ser humano bem como ao ordenamento jurídico pátrio, ou seja, a vida. O método adotado foi a pesquisa bibliográfica e estudo de caso, sendo realizada uma revisão bibliográfica da literatura vigente, sobre o seguro de responsabilidade civil do médico em relação a telemedicina, para que assim, possa possibilitar um maior entendimento sobre o tema em questão. No estudo de caso foi realizada uma análise de um contrato de seguro de responsabilidade civil médica. Os resultados obtidos se referem a necessidade de aprimoramento do contrato, constando cláusulas específicas válidas para maior proteção das partes. As conclusões obtidas se referem a necessidade da cobertura mais ampla para o risco da telemedicina, como é o caso do vazamento de dados e as fraudes na telemedicina, além de outras situações descritas no desenvolvimento do presente trabalho.
A perda auditiva, segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS, pode ser causada por diversos motivos, como as causas genéticas, infecções crônicas no ouvido, complicações no nascimento, doenças infecciosas, uso de medicamentos específicos, exposição a ruídos e envelhecimento. A deficiência auditiva, também conhecida como hipoacusia ou surdez, consiste na perda parcial ou total da capacidade de detectar sons, causada por má-formação (causa genética), lesão na orelha ou na composição do aparelho auditivo. Na cidade de Santos, a Política de Atenção à Saúde Auditiva foi consolidada a partir de 2007, através da SECRESA - Seção Centro de Referência em Saúde Auditiva, em cumprimento às orientações da Portaria GM/MS 2.073 de 2004. Esse estudo teve como objetivo geral: avaliar a política de saúde auditiva no âmbito do SUS implantada no município de Santos através da percepção dos pacientes e funcionários acerca dos atendimentos no Centro de Referência em Saúde Auditiva e, como objetivos específicos, a) contextualizar os objetivos e finalidade da Política de Saúde Auditiva e sua relação com o fluxo do atendimento à pessoa com deficiência auditiva no município de Santos; b) analisar os atendimentos das pessoas com deficiência auditiva, atendidas no Centro de Referência em Saúde Auditiva; c) descrever a percepção dos pacientes e funcionários acerca dos atendimentos no Centro de Referência em Saúde Auditiva. Para atender aos objetivos, desenvolveuse uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e explicativa, cujos sujeitos foram nove pacientes e três funcionários da SECRESA. Os dados obtidos foram analisados para chegar-se à compreensão do problema. Os resultados da pesquisa expressam, assimetrias quanto à avaliação da SECRESA no que tange a percepção de pacientes e funcionários bem como, desafios no processo de implementação da atenção à saúde voltada às pessoas com deficiência auditiva no município de SantosSP.
Este trabalho se presta a apresentar o instituto do Testamento Vital como instrumento de lege ferenda no ordenamento jurídico brasileiro, que a par de se prestar a fomentar o exercício da autonomia privada do indivíduo ao mesmo tempo em que assegura a dignidade da pessoa humana em situações relativas à escolha de tratamento médico em fase de derradeira terminalidade de vida, também oferece aos profissionais da área de saúde a segurança necessária para fazer cumprir as decisões tomadas pelo paciente nos termos daquilo que esteja devidamente documentado, atendidas as formalidades legais previstas. Reflexões a respeito do cabimento de dispor da própria vida, do manejo dos cuidados paliativos e do ¨direito de não saber¨ um diagnóstico infausto também são levantadas. Ainda, após uma sucinta incursão sobre a origem da bioética, que lhe fundamenta e justifica, e de maneira geral às Diretivas Antecipadas de Vontade, é apresentada a incipiente experiência jurídica brasileira em discussões de âmbito contencioso, afetas ao assunto até o momento, seguido de breve apontamento sobre a matéria em sede de direito comparado. Abordou-se também na materialização do Testamento Vital, seu conteúdo, características de existência e validade, bem como o uso da linguagem do discurso possível, assim como outras questões conexas no tocante à escolha inserta do paciente frente ao sistema de saúde público e privado. Por derradeiro, fez-se referência ao uso do Testamento Vital junto às serventias cartorárias extrajudiciais da Comarca de Santos
2020
A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 422, em trâmite perante ao Supremo Tribunal Federal, discute a possibilidade do aborto até a 12ª semana de gestação, de forma a não imputar os crimes contidos nos artigos 124 e 126 do Código Penal. Para tanto, alegam que a criminalização do aborto fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da liberdade reprodutiva da mulher e outros princípios consectários. A partir dessa propositura, verifica-se um claro embate entre dois direitos fundamentais e, de certo modo, iguais entre si: os direitos reprodutivos da mulher face ao direito à vida do nascituro. Nessa pesquisa, com base no método dedutivo, desenvolvido através de uma pesquisa básica, de objetivo exploratório, e realizada por meio da coleta de dados documentais e bibliográficos, pretende-se entender as premissas básicas de cada direito fundamental, analisar a regra de proporcionalidade na colisão de direitos fundamentais, fazendo o devido enfrentamento desses direitos para, ao final, verificar qual direito deve preponderar sobre o outro
Este trabalho estudou as tendências do Poder Judiciário relativo à judicialização do direito à saúde na cidade de Santos, por meio de pesquisa de processos judiciais cíveis distribuídos nos anos de 2012 a 2017 com seus desdobramentos. Judicialização do direito à saúde é o fenômeno atribuído a solução de controvérsias de variadas prestações de saúde pública e privada pelo Poder Judiciário. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, longitudinal, com uso de técnicas mistas de levantamento e análise dos dados coletados no distribuidor cível do Fórum de Santos, junto ao site do TJSP. Foram coletadas ao todo 1840 ações, sendo 1827 referentes a saúde privada, que representam 99% do total de processos judicializados, os quais, foram analisados por amostragem 182 processos, representando 10% destas ações privadas, e na saúde pública, foram analisados os 13 processos restantes (menos de 1%), sendo propostas em face do Município de Santos e do Estado de São Paulo perante o Poder Judiciário Estadual. Também foram selecionados três processos que foram estudados mediante o uso do Estudo de Caso, com o intuito de aprofundar o foco do problema estudado. Foram coletados os resultados, que indicaram principalmente, entre tantas outras coisas, que cresce ano a ano o número de processos distribuídos no judiciário santista envolvendo o tema e a pesquisa feita nesta comarca mostra que a judicialização da saúde vem se configurando como um fenômeno das elites.
Com o avanço da luta pela Reforma Psiquiátrica buscando a humanização do tratamento dos indivíduos portadores de transtornos mentais, e da luta antimanicomial como alternativa às internações de longa duração desses indivíduos, a saúde mental passou a fazer parte da agenda política dos governos nacionais, notadamente com a criação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-ad), destinado ao tratamento de indivíduos com transtornos mentais derivados do uso, abuso ou dependência de álcool e/ou outras drogas. Contudo, após a substituição proposital pelo governo federal dos investimentos públicos na RAPS pelo subsídio em comunidades terapêuticas, destinadas ao mesmo público, tornou-se necessária a análise dessa nova política de promoção da saúde mental e tratamento de indivíduos com transtornos mentais derivados da dependência de substâncias entorpecentes para verificar se a humanização no modelo de assistência à saúde, prevista na Reforma Psiquiátrica, permanece sendo observada mesmo quando desenvolvida pelo setor privado enquanto atividade econômica para obtenção de lucro. A pesquisa observou a metodologia qualitativa de caráter exploratório e concluiu pela incompatibilidade da atual política de promoção da saúde mental desses indivíduos com os princípios e diretrizes da Reforma Psiquiátrica.
A presente dissertação propõe a reflexão sobre a prova pericial médica produzida nas demandas previdenciárias que versam sobre a concessão de benefícios por incapacidade. O estudo tem por objetivo examinar: 1. Em que medida a perícia médica judicial é uma prova objetiva suficiente na aferição da incapacidade? 2. Quais critérios devem nortear a perícia médica judicial, a fim de que essa seja meio de prova capaz de fundamentar a decisão judicial? Para responder tais questionamentos, foi desenvolvida a pesquisa exploratória, aplicando-se o método dedutivo na análise de diversas fontes bibliográficas, tais como: doutrina especializada, artigos científicos, legislação internacional e nacional, bem como o exame de documentos elaborados por vários órgãos. Ao final, constatou-se a inobservância das condições que garantem a objetividade e idoneidade das pericias médicas previdenciárias judiciais. Concluiuse, então, pela necessidade da criação de um código de conduta com o escopo de orientar a atuação médica dos peritos judiciais na perícia e na elaboração dos laudos.
O objetivo deste estudo foi apurar o quão importante para a proteção da saúde dos trabalhadores portuários avulsos é a fiscalização por parte do Poder Público, em especial a atuação do Ministério Público do Trabalho, bem como a punição imposta às empresas, com o intuito de verificar se existe uma proporção razoável e adequada com relação a infração cometida pelas empresas e a punição que sofrem. Para tanto, expõe a legislação que disciplina a saúde do trabalhador em âmbito nacional e internacional; explica os riscos no ambiente de trabalho bem como sua monetização; analisa a proteção à saúde do trabalhador, a influência trazida pela reforma trabalhista, a punição imposta às empresas e o papel do Ministério Público; e, por fim analisa a proteção à saúde dos trabalhadores portuários avulsos, com vistas a identificar o real impacto dos Termos de Ajuste de Condutas (TAC’s) e das Ações Civil Públicas (ACPs) impetradas pelo Ministério Público na contenção da ocorrência de novos agravos à saúde do trabalhador. Como metodologia foi empregada a pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica foi operacionalizada a partir da revisão de literatura realizada a partir de materiais já publicados, a exemplos de doutrinas e legislações que se dedicam ao estudo aprofundado sobre o meio ambiente do trabalho e a saúde do trabalhador. A pesquisa documental, a seu turno, referiu-se à análise de TACs e ACPs em defesa dos trabalhadores portuários avulsos do Porto de Santos, ações estas que foram analisadas com vistas a identificar as punições que foram aplicadas em caso de violações ao direito à saúde dos trabalhadores portuários avulsos com vistas a identificar se estas punições têm sido suficientes para assegurar a saúde do trabalhador portuário avulso no ambiente de trabalho
O presente estudo tem como escopo analisar o processo de globalização contemporânea e a necessidade de destacar quais são os critérios que devem ser utilizados para a formulação de políticas públicas globais em relação à saúde dos refugiados. Destaca-se como hipótese do presente problema a necessidade de criação de um protocolo adicional ao Pacto Global sobre Refugiados de 2018, capaz de vincular os Estados, direcionando-os na produção de políticas públicas desejáveis para a consolidação dos direitos humanos. Como objetivo geral, este trabalho propõe demonstrar o dever da sociedade global em se preocupar com a garantia dos direitos fundamentais, dentre os quais o direito à saúde, buscando promovê-la, especialmente para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social, os refugiados. De forma específica, pretende-se revelar as consequências positivas e negativas do fenômeno da globalização, as principais características da saúde global, as espécies de governança global, bem como os seus reflexos na criação e implantação de políticas públicas de saúde para refugiados. Para tanto, desenvolveu-se um estudo edificado com base em pesquisa bibliográfica e documental (livros, periódicos, legislação internacional e nacional), as buscas foram delimitadas pelos marcadores: “globalização”, “saúde global”, “imigrante”, “movimentos humanos” e “refugiados”. Pelo resultado obtido, a partir do diálogo das fontes oficiais e acadêmicas, pode-se concluir que se faz essencial a criação de um Protocolo Adicional ao Pacto Global sobre Refugiados de 2018, no fito de direcionar os Estados na elaboração de Políticas Públicas adequadas e desejáveis, ou seja, dotadas de eficácia no que diz respeito à garantia e promoção da saúde dos refugiados, e assentadas em um novo patamar de governança global
O aumento da população idosa, fenômeno global e contemporâneo, tem sido acompanhado por importantes demandas, dentre elas a violência contra essa camada da população. O objetivo do presente estudo consiste em descrever as causas externas de morbidade por violências através das denúncias e notificações de violência contra o idoso acima de 60 anos captadas pelo Módulo Idoso do Disque 100 no período de 2011 a 2018 e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan Net) no período de 2009 a 2017; e das causas externas de mortalidade por acidentes através das notificações inseridas no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), pela declaração de óbito por suicídio (período 2011 a 2015) e de acidentes de trânsito e quedas registrados no ano de 2018. Realizou-se estudo descritivo, retrospectivo, operacionalizado por meio de abordagem indutiva a partir da análise documental de coleta de dados sociodemográficos através das denúncias e notificações dos casos de violência física, psicológica, negligência ou abandono, financeira e sexual (raça/cor, escolaridade, idade) e das características da ocorrência (local da ocorrência), segundo o sexo dos indivíduos. Os resultados das causas externas de morbidade por violências indicam que as denúncias de violência por negligência representam 38,2% dos casos e a violência física 45,3% das notificações. Em ambos os casos a mulher idosa para a raça/cor branca é a principal vítima, o(a) filho(a) é o(a) principal agressor(a), sendo o local de ocorrência a casa da vítima na maioria dos casos. As taxas de notificação de mortalidade dos acidentes por causas externas apresentam maior incidência de óbitos no homem idoso por suicídio e acidentes de trânsito e na mulher idosa por quedas, sendo local do óbito, o hospital. Conclui-se que mesmo com os avanços dos serviços de denúncias e notificação compulsória, ainda existem inconsistências na captação, transmissão e disseminação dos seus dados essenciais ao monitoramento dos casos de violência contra o idoso e da criação de políticas públicas específicas de prevenção e proteção a essa camada da população.
O presente estudo tem como escopo analisar a saúde e a segurança do trabalhador no setor de saneamento básico, destacando a história da segurança do trabalho, as normas regulamentadoras e os artigos da CLT aplicáveis às obras de saneamento, análise de casos e exposição de critério de pesquisa. Como objetivo geral, este trabalho propõe demonstrar o dever do cumprimento das normas regulamentadoras e dos artigos da CLT aplicáveis às obras de saneamento por parte do empregador e do empregado com a garantia dos direitos fundamentais, dentre os quais o direito à segurança e à saúde mental, física, intelectual, social, psicológica, motora, etc., buscando cuidado, principalmente, àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade no trabalho. De forma específica, pretende-se revelar as consequências do cumprimento das normas regulamentadoras. Para tanto, desenvolveu-se um estudo edificado com base em pesquisa bibliográfica e documental (livros, periódicos, legislação nacional). As buscas foram delimitadas pelos marcadores: “saneamento”, “saúde”, “segurança no trabalho” e “normas regulamentadoras”. Pelo resultado obtido, a partir do diálogo das fontes oficiais e acadêmicas, pode-se concluir que se faz essencial o cumprimento das normas regulamentadoras para a garantia e promoção da saúde do trabalhador no ambiente de trabalho
Esta pesquisa objetiva investigar se a União cumpriu nos anos de 2014, 2015 e 2016 a regra do artigo 198, §2º, inciso I, da Constituição da República de 1988 (CR/1988), que estabelece caber ao Governo Federal aplicar anualmente, em ações e serviços públicos de Saúde (ASPS), recursos mínimos definidos por percentuais calculados segundo as regras vigentes às épocas pesquisadas e, constatando-se eventual descumprimento do comando constitucional, quais são os efeitos decorrentes de sua desobediência. Para alcançar seu desiderato, utilizou-se como metodologia de abordagem o método dedutivo, que parte do geral e desce ao particular valendo-se de princípios, leis ou teorias consideradas verdadeiras para predizer a ocorrência de casos particulares, e manejou-se o método monográfico como método de procedimento, pelo qual o estudo de um caso em profundidade pode ser considerado representativo de muitos outros, além de examinar o tema selecionado observando todos os fatores que o influenciam. Os resultados obtidos demonstram que em 2014 e 2015 a União cumpriu a regra constitucional de aplicação mínima em ASPS ao aplicar R$ 284,4 milhões e R$ 1,746 milhão acima do piso constitucional, respectivamente, como verificado pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) ao analisar as contas do Ministério da Saúde (MS); porém, em 2016 a União descumpriu a regra constitucional de investimentos mínimos em ASPS ao investir R$ 253 milhões abaixo do piso constitucional, implicando investimentos de 14,96% de sua Receita Corrente Líquida (RCL) e menor que os 15% da RCL definidos pela CR/1988, como verificado pelo CNS. A constatação do descumprimento da regra constitucional pela União abre discussão sobre seus efeitos, como a caracterização de crimes de responsabilidade do Presidente da República, improbidade administrativa e denúncia internacional perante a Organização dos Estados Americanos (OEA) e Organização das Nações Unidas (ONU), e também a existência de um Estado de Coisas Inconstitucional (ECI), caracterizado por um quadro de violação massiva e contínua de diferentes direitos fundamentais; omissão reiterada das autoridades públicas em cumprir direitos fundamentais; a superação dos problemas de violação de direitos fundamentais exigir expedição de remédios para diversos órgãos públicos, e; a omissão estatal gerar excessiva judicialização individual de direitos fundamentais. Em conclusão, observou-se estarem preenchidos os requisitos para a caracterização do ECI na saúde brasileira, pois o descumprimento da aplicação constitucional mínima em ASPS gera violação massiva e contínua de direitos fundamentais que atinge número amplificado de pessoas; há omissão estatal não fundamentada constitucionalmente que ampare a inércia estatal, segundo o conceito de suporte fático dos direitos fundamentais; a inércia estatal e desobediência à CR/1988 se mostrou reiterada, pelos dados pesquisados; aludido descumprimento decorre de omissão do Poder Executivo e burocratização do Poder Legislativo quanto ao orçamento público, e; há judicialização individual excessiva de direitos fundamentais pelo subfinanciamento das ASPS. Assim, propõe-se que o Poder Judiciário declare o ECI na saúde brasileira com o desiderato de instaurar uma justiça dialógica e deliberativa, que propicie amplo debate entre os atores afetados pelo descumprimento do investimento mínimo constitucional em ASPS, visando a efetivação dos direitos fundamentais à saúde e ao seu regular financiamento.
Este estudo tem como objetivo discutir o acesso aos serviços públicos de saúde e trazer a experiência do município de Praia Grande/SP quanto ao processo de agendamento e organização do sistema de saúde local. Estudar o sistema de saúde brasileiro é um grande desafio, dado que ao longo do tempo adquiriu características marcantes que acompanharam a política e a economia do País em cada momento histórico, até a construção, ainda em curso, do Sistema Único de Saúde (SUS). O problema de pesquisa visa apresentar as estratégias utilizadas no Município de Praia Grande/SP para ampliação do acesso aos serviços de saúde da perspectiva da garantia do direito à saúde a partir de uma abordagem crítica reflexiva. Justifica-se essa pesquisa pelo arcabouço jurídiconormativo da LOS n. 8.080, em seu capítulo II dos princípios e diretrizes art. 7, parágrafo II, quando reafirma o princípio da integralidade da atenção à saúde: “a integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do SUS”. (OHARA, SAITO, 2010). O objetivo geral desta pesquisa é apresentar e analisar de forma sintética o significado das ações de ampliação do acesso aos serviços de saúde no município de Praia Grande/SP. Quanto ao processo metodológico optou-se pela pesquisa quali/quantitativa. Ao longo do estudo foram apresentadas as possibilidades de ampliar o acesso nos serviços de saúde, trazendo uma reflexão sobre o aumento da cobertura da Atenção Primária à Saúde através das equipes da Estratégia Saúde da Família, educação permanente e formação em serviço, além de propor uma mudança no processo de trabalho nas unidades de saúde. Neste contexto foi apresentada a experiência do Município de Praia Grande/SP quanto à busca da garantia do acesso à atenção à saúde através da organização da agenda. Com esse propósito, ressaltou-se a importância de trazer à tona a necessidade de um agendamento flexível pautado na necessidade do usuário do SUS no momento em que ele busca o serviço de saúde
A questão enfrentada trata da aplicabilidade da Teoria da Reserva do Possível na Constituição Federal e sua repercussão no direito à saúde. Sua relevância consiste no fato de que esta teoria vem sendo constantemente utilizada para fundamentar as decisões dos tribunais superiores, limitando a atuação do Estado à sua capacidade orçamentária, principalmente na garantia do acesso à saúde. Assim, o presente estudo consiste em demonstrar que, diante da forma equivocada com que a teoria da reserva do possível foi aplicada no Brasil, ela entrou em contradição com a Constituição Federal, o que se justifica diante do fato de tanto os direitos fundamentais quanto os sociais, incluindo o direito à saúde, serem cláusulas pétreas, o que não os sujeita a qualquer teoria que pretenda restringir-lhe o alcance e a abrangência. O método empregado para alicerçar este estudo foi o dedutivo, partindo da análise histórica e de cunho jurídico-normativo, Através de consulta bibliográfica. Por fim, concluiu-se pela não aplicação da teoria da reserva do possível, diante da forma como os direitos fundamentais e sociais são tratados na atual Constituição Federal.
A Constituição de 1988 inovou ao estabelecer a garantia fundamental do direito a saúde de cunho universal e obrigação estatal. O acesso à justiça é condição essencial para o exercício dos direitos de um cidadão. As interferências com viés judicial surgem nos próprios serviços de saúde ou são agravadas por estes. O impacto das decisões judiciais merece análises sistemáticas para futuras compreensões por parte do Poder Judiciário e do próprio Poder Executivo. Objetivase descrever os fluxos administrativos e judiciais utilizados para a concessão do leito público de UTI; analisar as características das decisões judiciais, de que modo impactam nos fluxos administrativos implantados, e ao final trazer uma proposta contributiva para a tomada de decisões. A rede de assistência do SUS se organiza de forma regionalizada e hierarquizada, garantindo os princípios de universalidade, equidade e integralidade da assistência. Os princípios organizativos do SUS são objetos de estudo. O arcabouço jurídico é apresentado, a contar da Constituição Federal e perpassa pelas Lei Orgânica, Leis, Decretos Normas Operacionais Básicas, Portarias (Pactos pela Saúde, Consolidações, etc.), e Resoluções. Com respeito a autonomia de cada ente federativo, ao SUS é exigida uma dinâmica de funcionamento, por intermédio das pactuações entre si, exercidas pelos Conselhos e Comissões de todas as esferas. Sugestões e ações realizadas pelo CNJ frente a judicialização da saúde fazem parte do estudo. Para análise dos dados foi adotado um recorte transversal utilizando-se das demandas judiciais do ano de 2017, incidentes no ato regulatório médico de UTI. A estrutura e o funcionamento do Complexo Regulador e da Central de Regulação são trabalhados, o fluxo de entrada e tratamento das demandas administrativas e judiciais de UTI, também. A pesquisa é descritiva, com análise documental, valendo-se do IBGE, Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde Estadual e Municipal, da Central de Regulação Municipal, e bibliográfica com natureza qualitativa e quantitativa. Os dados e o trabalho estatístico foram tratados nas planilhas registradas no programa Excel. Os processos de transparência propiciaram um vasto acúmulo de material documental. O enfoque é no município de Goiânia, Estado de Goiás como fator limitante da amostra. A SMS Goiânia, no ano de 2017, registrou 471 unidades solicitantes, 21.495 solicitações de UTI, 846 decisões judiciais recebidas, do total 24% refere-se a UTI. Dos dados obtidos é possível inferir um caráter temerário do impacto da judicialização ao acesso integral e equânime, uma desigualdade imprime o desatendimento de situações emergenciais, comprometedoras da vida, assim como de urgências. Sob uma perspectiva de ordem pública, sugere-se, ante o direito fundamental de cada ser humano ao gozo dos serviços públicos de saúde, a elaboração de fluxos objetivos de regulação dos leitos de UTI, regulamentados e publicados, como exigência mínima de trabalho. E, a proposição de diretrizes judiciais que envolvem a concessão de mandados. As priorizações de acesso devem se dar unicamente por critérios clínicos normatizados e parametrizados pelo sistema informatização de regulação. Nos casos excepcionais, poderá ser disponibilizada a opção de priorização manual ao médico regulador.
Diante do novo recurso terapêutico para melhora na qualidade de vida da pessoa com Transtorno do Espectro Autista — TEA, o Canabidiol, extraído da maconha, alivia diversos sintomas da síndrome, tendo sido autorizada a importação da matéria prima pela ANVISA através da Resolução 335/2020. O principal objetivo desse estudo foi o de analisar questões e limites postos na judicialização brasileira ante o uso do Canabidiol no tratamento do Espectro Autista. Para tanto, contextualizou-se a síndrome, bem como as diversas classificações do TEA, apontando-se as categorias que necessitam do composto para seu tratamento e demais métodos para a melhoria da qualidade de vida da pessoa com o transtorno. O percurso metodológico constou de: pesquisa bibliográfica realizada através de artigos; livros; sítios da web institucionais; notas técnicas e resoluções acerca do Canabidiol (CDB). Na sequência, realizou-se pesquisa em base de dados do Tribunal de Justiça de São Paulo em relação ao uso do Canabidiol para verificar quais os caminhos possíveis para democratizar o acesso ao medicamento, tendo em vista que existe autorização somente para a importação da matéria prima e, aprofundar a adequação e inclusão da medida terapêutica em análise no arcabouço jurídico brasileiro, diante da Resolução 335/2020, por ser ato legislativo de efeito interno, e como age à força de lei desta. Discutiu-se, ainda, quais medidas, precauções devem ser adotadas para que haja uma futura produção da matéria prima do Canabidiol pela pesquisa interna e indústria nacional e como esta medida tornaria mais acessível o custo do medicamento para o paciente.
Este trabalho teve como objetivo evidenciar o descumprimento de preceitos legais com vistas ao direito social de saúde em relação às pessoas com deficiência. Para tanto foi utilizado o método de pesquisa qualitativa de natureza exploratória. Por meio deste método foi utilizada revisão de literatura consistente na apuração teórica sobre a temática perquirida em que se utilizou material escrito e eletrônico, além de busca no acervo jurisprudencial de diversos tribunais do país. Perpassou a pesquisa por diversos períodos históricos, de modo a demonstrar que as pessoas com deficiência foram alvos de inúmeras formas de tratamento, levantando-se ainda acervo legislativo nacional e internacional que ao longo dos tempos buscou construir um cenário mais confortável a esse grupo de pessoas. Apurou-se ainda que muito embora o Brasil possua farta legislação sobre o tema e seja signatário da Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência elaborada pela ONU em 2007, o cumprimento dos ditames de inclusão e acessibilidade à saúde ainda não são uma realidade na vida desse segmento, pois, a investigação jurisprudencial trouxe dados que demonstram com nitidez que as pessoas com deficiência ainda precisam se socorrer da tutela jurisdicional do Estado para conquistarem prerrogativas minimamente básicas.
O direito à saúde foi reconhecido como um direito humano desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, todavia no Brasil tem sido tratado efetivamente como um direito tutelado pelo Estado somente a partir da Constituição de 1988. Esta traz em seu bojo os direitos, mas não versa expressamente sobre os deveres oriundos deste direito. Considerando que todo direito pressupõe um dever, sendo ambos duas faces de uma mesma moeda, todo sujeito é detentor de direitos e deveres relacionados à saúde. Outrossim, para que as políticas públicas obtenham alto grau de efetividade, é necessário que todos os atores envolvidos cumpram seus deveres na mesma proporção que exigem seus direitos, sob pena de ineficácia dos esforços em saúde. Frise-se que as partes governo, sociedade e indivíduo não são adversas, mas sim parceiras na persecução da saúde. Não há a pretensão de excluir a responsabilidade do Estado, mas tão somente a de acrescentar deveres dos cidadãos às ações governamentais em saúde, com o desenvolvimento de uma nova ótica que permite uma evolução do direito à saúde. Considerando o método dedutivo empregado, por meio de revisão de referencial bibliográfico, artigos, estudos, leis, normas e diretrizes nacionais e internacionais, busca-se comprovar a existência do dever à saúde por parte do cidadão nas principais causas de mortalidade do mundo, conforme levantamentos como os da Organização das Nações Unidas, tendo como corte para o estudo as Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNTs –, responsáveis por mais de 70% das mortes no mundo. Estas doenças comprovadamente precisam da participação direta da pessoa no combate, sendo atitude essencial para a eficácia das políticas públicas. O presente estudo destaca também posturas mandatárias por parte do cidadão frente a estes males e normas e dispositivos legais que abarcam o dever à saúde por parte do indivíduo, que serão apontados como forma de legitimar o dever à saúde
O presente estudo tem como finalidade analisar minuciosamente por meio de pesquisa jurisprudencial, duas decisões de suma relevância no tema proposto, mesmo sendo ainda um tema tormentoso para o Supremo Tribunal Federal (STF) e para o Superior Tribunal de Justiça (STJ). A primeira é a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 1931) julgada pelo STF, sendo que a autora inicialmente teve a sua legitimidade reconhecida para ajuizar esse tipo de ação, sendo quena referida ADI, pede ao STF que seja declarada a inconstitucionalidade de vários dispositivos da Lei 9.656/98 e diversas Medidas Provisórias supervenientes que a modificaram parcialmente. O segundo é o julgamento no STJ do REsp 1.568.244/RJ, onde o Tribunal reconheceu a validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento de mensalidade conforme mudança de faixa etária do usuário, especialmente após os sessenta anos. E, ao final, se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com as decisões dos Tribunais Superiores relatados acima.
A nutrição tem um papel fundamental na garantia de um desenvolvimento neuropsico-motor desde o nascimento, sendo um dos pilares da saúde dos adultos, fornecendo micro e macro nutrientes que garantem não somente fontes de energia necessários a manutenção do funcionamento do organismo bem como secundariamente em sua atividade laborativa. Reconhecida não só pela OMS, 1948 como um direito fundamental, e corroborada pela constituição cidadã de 1988. O presente estudo tem por objetivo determinar a prevalência de pacientes que internam em um Hospital do SUS, único Hospital público no município de Guarujá, com atendimento clínico e Cirúrgico, durante o ano de 2019. Através da avaliação de um score nutricional, que leva em conta diferentes variáveis. Os pacientes foram classificados conforme a existência de Risco Nutricional (Desnutrição) ou não e o seu desfecho durante a internação: óbito ou alta hospitalar. Os resultados mostraram que de um total de 877 pacientes estudados e que foram internados no período, 296 (33,8%) dos pacientes apresentaram desnutrição ao se internar independentemente da patologia; destes 95 (32,1%) evoluíram para óbito, em comparação a 98(16,9%) nos pacientes sem desnutrição. O risco demonstrado pela medida de associação Odds Ratio (OR) foi de 2,32 vezes mais chance para o desfecho óbito no grupo desnutrido em comparação com o grupo sem desnutrição durante a internação. Ainda que o direito a uma adequada nutrição esteja garantido constitucionalmente, pouco se tem discutido sobre este tema, principalmente em relação ao ambiente hospitalar. A desnutrição ainda que possa ser observada de diversas formas em diferentes etapas da vida, nossos dados mostram que a desnutrição tem um enorme impacto nos indivíduos durante uma enfermidade e que necessitam de internação. O direito a saúde entre outros envolve necessariamente o direito a uma adequada dieta que garanta uma qualidade de vida e menores riscos a saúde, principalmente nos momentos de maior vulnerabilidade individual.
A presente obra trata da ausência de controle adequado de informações no atendimento do Sistema Único de Saúde no Município de Guarujá – SP, com base numa pesquisa empírica, observando o funcionamento de toda a rede municipal de Saúde de Guarujá-SP, com o intuito de entender a existência da captação de dados dos usuários do Sistema Único de Saúde e obter informações para confrontação de dados relacionados aos valores adquiridos pelo município no que tange ao ressarcimento aos cofres públicos pelas operadoras de saúde suplementar, de acordo com o art. 32 da Lei 9.656/98. Para tanto, dividiu-se o trabalho em três grandes temas, o primeiro com uma abordagem histórica da saúde, discorrendo sobre a história da saúde pública, da saúde suplementar e a efetivação do direito à saúde no Brasil. O segundo tema será de profunda análise jurídica acerca do ressarcimento ao Sistema Único de Saúde pelas operadoras de saúde suplementar e a caracterização de ato de improbidade administrativa pelos agentes públicos e por fim com a pesquisa empírica, com a observação de pleno funcionamento de toda a rede de saúde, captando informações de forma individual, para assim, chegar nas considerações finais acerca do controle adequado de informações no atendimento do Sistema Único de Saúde
O estudo das disposições da Lei nº 10.216/01 revela diferenciado enfoque dirigido ao tratamento das pessoas que padecem de transtornos mentais, pois esse regramento, derivado da Reforma Psiquiátrica, tem por finalidade a reinserção social do doente, que passou a ser considerado sujeito e titular de direitos reconhecidos como fundamentais e expressamente previstos na lei antimanicomial, que prevê como excepcional a situação de internação, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória. A saúde mental é uma das dimensões do direito à saúde e, ainda que se trate de pessoa que tenha cometido ilícito penal, há de se promover tratamento digno, consentâneo à ordem constitucional e alinhado a direitos fundamentais, capaz de permitir o restabelecimento da saúde mental do infrator. A lei antimanicomial prestigia os cuidados a serem prestados à pessoa com transtornos mentais em meio aberto, abandonando modelo e regra anteriores, que impunham a internação dos inimputáveis e semi-imputáveis, critério então derivado da qualidade da pena privativa de liberdade prevista para o tipo penal. Inegável o avanço decorrente do abandono do modelo hospitalocêntrico e o incremento da atenção diferenciada que deve ser dispensada aos portadores de transtornos mentais envolvidos em ilícitos penais. A internação compulsória, objeto deste estudo, deverá ser imposta em situação excepcional, se assim recomendar o tratamento do infrator conforme prognóstico médico, independentemente da espécie de infração penal cometida pelo inimputável ou semi-imputável, reconhecendo-se, desta forma, a primazia da medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial
2018
O transplante de órgãos e tecidos humanos vem evoluindo nos últimos cinquenta anos de maneira ingente, tornando-se uma das possibilidades reais de prorrogação da vida. As filas de espera são significativas e, em alguns casos, assaz extensas, sucedendo que o Estado, mais e mais, vai assumindo o controle da situação, dada a complexidade do tema e sua altíssima relevância, aperfeiçoando a legislação e criando mecanismos em prol da dinâmica afeta ao transplante, como se verá no curso deste estudo. Então, após considerações gerais sobre a responsabilidade estatal, faz-se a conjunção disso com a atividade transplantária, consideradas possíveis falhas durante o processo. Desta forma, despretensiosamente, procura-se somar forças com vistas ao aprimoramento dos estudos jurídicos nessa área. Mais especificamente, far-se-á, à luz da doutrina e da jurisprudência, exposição sobre o surgimento e evolução do Estado e de sua responsabilidade civil, passando-se à análise da questão sob o enfoque da saúde. Também serão expostos, em face da literatura e informes especializados, o sistema administrativo e os mecanismos afetos ao transplante de órgãos, assim como as dificuldades inerentes a essa atividade, para, então, finalmente, tratar-se da responsabilidade do civil interna do Estado no procedimento de transplante.
A alienação parental é uma realidade que atinge um grande número de pessoas por ano e implica em sérias consequências à higidez mental da criança vitimada, correlacionando como causas de depressão infantojuvenil e indicativos de motivação de suicídios na adolescência e em jovens adultos. A criança vitimada pela alienação parental deve digerir o duro choque causado pela ruptura do relacionamento afetivo entre seus genitores, o que é demonstrado por estudos psicológicos como extremamente impactante. Contudo, os atos alienativos produzem um nevrálgico ingrediente, posto que tentam obstar o convívio familiar entre a criança e o genitor alienado, imposição essa que decorre da frustração pelo fim do relacionamento conjugal. Nesse contexto, enraizando-se pela motivação protecionista que deriva da própria inexperiência do menor e necessidade da renovação da sociedade, a criança tem preferência aos direitos fundamentais individuais e sociais, reconhecidos pela legislação brasileira, através do arquétipo constitucional e infraconstitucional, especialmente representado pelas Leis de nº 8069/1990 e de nº 12.318/2010, as quais buscam firmar a responsabilidade solidária entre família, sociedade e Estado na proteção dos interesses da criança, sem perder de vista que a própria pátria apresenta-se no interesse da manutenção e proteção do seio familiar. Desta maneira, através de referenciais bibliográficos publicados em meios físicos e digitais, buscou-se consolidar o entendimento da nefasta situação que envolve a prática da alienação parental e as consequências à saúde mental da criança vitimada, assentando-se, pois, os problemas médicos, psicológicos e jurídicos relacionados a essa prática, bem como confirmaram-se os sérios impactos ao direito social à saúde da criança que sofre essa imposição por um adulto que tem, por imposição legal, o dever de zelar por sua integridade física e mental.
Diante dos avanços da genética, a medicina genômica preditiva apresenta-se como uma revolução em curso. O conhecimento antecipado, a cura e o tratamento de doenças estão entre os benefícios trazidos pelo Projeto Genoma Humano. No entanto, esses avanços têm suscitado várias questões de violação de direitos. O acesso e utilização das informações genéticas por planos de saúde podem conduzir indivíduos assintomáticos a discriminação e estigmatização. A pesquisa se desenvolve no âmbito da Bioética e do Biodireito, tendo como referencial os Direitos Humanos. Analisam-se os principais documentos internacionais da UNESCO, bem como algumas inovações legislativas de outros países que tratam da questão. Ao final, faz-se uma exposição de casos concretos ocorridos no Brasil em que houve violação de direitos e discriminação genética em virtude do uso indevido dos dados genéticos.
O presente trabalho busca analisar e mostrar as dificuldades da prisão em flagrante no caso das apreensões das drogas sintéticas. O direito à saúde evoluiu nas constituições brasileiras de menções acidentais até alcançar o patamar atual de direito fundamental, dotado dos princípios da universalidade e integralidade. E nesse contexto o tráfico surge como um problema de saúde pública, não só nacional, mas também internacional, o que ensejou a assinatura de diversos tratados visando o seu combate. No sistema brasileiro, dada a natureza de direito fundamental da saúde, o constituinte entendeu por fazer constar da Constituição Federal ordens veladas para proteção de bem jurídico tão caro, são os mandados de criminalização. No caso do tráfico de entorpecentes, trata-se de mandado de criminalização expresso para tutelar o bem jurídico penal de natureza difusa. No caso específico do tráfico, na classificação dos tipos de drogas, surgem as drogas sintéticas que são objeto de análise, assim como a classificação dos criminosos e o conceito de traficante, uma vez que as consequências legais para a figura do traficante e do usuário são distintas. Outra questão que mereceu atenção foram os tipos de prisões cautelares, e, em especial, a prisão em flagrante, que é justamente aquela que é prejudicada pela ausência de métodos para elaboração do laudo de constatação provisório, exigido para o decreto da prisão pela autoridade policial, sob pena de cometimento de ilegalidade. Assim, após o estudo da política de segurança pública e enfrentamento do tráfico, o presente estudo analisa as possibilidades de correção da lacuna fática existente.
A presente dissertação, apoiada no método dedutivo, traz em seu bojo o estudo sobre o arranjo federativo adotado e as problemáticas enfrentadas para a execução das ações de saúde. A partir desta análise, foi traçado como objetivo da pesquisa a definição da relação existente entre o modelo de federalismo cooperativo e as políticas sociais no Brasil, identificando os obstáculos para eficaz implementação do sistema de política pública da saúde e observando se a existência do descompasso federativo é capaz de criar barreiras para implementação das políticas públicas que competem aos municípios. Para tanto, parte-se do estudo da ampla doutrina brasileira da área jurídica e da ciência política, a fim de construir um referencial teórico que analisa a evolução do federalismo no Brasil e no mundo, estabelecendo a interação entre o desenho institucional produzido pela Constituição de 1988 e as diretrizes de universalização de políticas sociais de saúde implementadas por meio de ações federais. Diante do liame estabelecido entre os institutos, foi analisada se a falha correspondente a implementação das politicas tem ligação com o arranjo federativo adotado no Brasil e com o formato de repartição de competências constitucionalmente estabelecida. Portanto, ao final da pesquisa, constatou-se a flagrante dificuldade dos municípios brasileiros para executar as políticas públicas de saúde, o que, de certa forma, foi gerado a partir do papel centralizador assumido pela união, o que deu ensejo ao questionamento acerca da compatibilidade da formatação descentralizadora adotada no federalismo cooperativo com o arranjo de federalismo sanitário.
A saúde é um elemento inerente à preservação da vida humana, bem como da manutenção da integridade física e psicológica dos seres humanos, caracterizando-se por essa essencialidade um direito fundamental humano, sem o qual nenhum dos outros direitos poderiam ser plenamente exercitados. O Estado chamou para si o dever de efetivação do direito à saúde em face de sua fundamentalidade, não só expressamente através dos postulados constitucionais contidos nos artigos 6º e 196 e seguintes da Constituição Federal, como também inarredavelmente por intermédio dos objetivos republicanos, que - nesse propósito - declaram o ideal nacional de promover o bem de todos com supedâneo no fundamento da dignidade da pessoa humana, visando à redução das desigualdades sociais sob a aspiração de construir uma sociedade justa e solidária. Sucede que a realização da implementação da política pública de saúde depende de vários fatores político-jurídicos que constituem óbices à sua real efetivação, e nessa seara, por vezes há omissão do Estado relegando o denominado direito a uma mera expectativa. Nessa perspectiva, o objetivo das temáticas tratadas foi o de reafirmar a possibilidade de exigência do direito fundamental à saúde do Estado sob os auspícios de uma Constituição Dirigente, bem como revelar a Defensoria Pública como uma Instituição-garantia de promoção ao acesso à saúde, enaltecendo a necessidade de ampliação da instauração do controle democrático da gestão da saúde pública por Instituições que assumam o desiderato de garantir a tutela do direito à saúde, seja extrajudicial, seja judicialmente, ainda que por resultados consequenciais decorrentes de atividade sancionatória, como a que deriva de ato de improbidade administrativa, perpassando pela análise da legitimidade da Defensoria Pública para a tutela coletiva da probidade administrativa em situação de omissão da implementação de ações de saúde pública. O método abordado na construção do texto teve concepção juspositivista, centrada em perfil dedutivo, racionalista e normativista, baseando seu discurso em postulados normativos e constitucionais, bem como em argumentos doutrinários e jurisdicionais, extraindo-se derradeiramente as inferências obtidas. O conjunto de informações que serviu de base para a pesquisa consistiu na coleta de caráter bibliográfico (doutrina) e documental (normas e decisões judiciais). Alcançadas tais informações, foram analisados os argumentos de influência ou exclusão nos respectivos resultados e conclusões. Daí porque, enquanto resultados e conclusões, desvenda-se que a Defensoria Pública assume o papel de instrumento contra-hegemônico estatal de asseguração do direito fundamental e humano de acesso à proteção da saúde, eis que o Estado de Direito lhe outorga poderes de impulsionar a que o próprio Estado concretize efetivamente o direito criado abstratamente, ainda que, por via transversa, através da persecução da improbidade administrativa por meio da Ação Civil Pública a cargo da Defensoria Pública, haja vista que para haver um Estado de Direito, exige-se mais que a existência por si só de um ordenamento jurídico para balizar sua atuação, sendo imprescindível também a criação de mecanismos para assegurar o cumprimento dessas balizas normativas pelo Estado. Logo, as implicações decorrentes dos debates contrapostos no bojo deste trabalho evidenciam que a instituição pública denominada Defensoria Pública se consubstancia em mecanismo adequado a essa função de promotora do acesso ao direito à saúde, ainda que pela perspectiva consequencial da promoção da tutela da probidade administrativa, ampliando o acesso à justiça como meio de efetivação dos direitos constitucionalmente garantidos, revelando e oferecendo respostas adequadas às hipóteses propostas.
O presente trabalho trata da ocupação irregular em áreas de manguezais, dos danos ambientais e das doenças relacionadas a estes fatos pela ausência de requisitos mínimos para habitação humana. Para tanto, foi realizado recorte na área continental do município de São Vicente, litoral de São Paulo. Constatando-se uma realidade de extrema precariedade ocasionada pela omissão do Poder Público, tal evento já é encarado com naturalidade, diante de várias repetições em toda a Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) e em inúmeras regiões deste ainda belo país. A poluição e o aterramento do manguezal impõem à natureza a impossibilidade de recuperação deste ecossistema, além da debilidade e do abandono impostos aos invisíveis sociais. O resultado deste cenário já é conhecido: doenças, aumento de atendimentos ambulatoriais e internações, da demanda por medicamentos e das estatísticas de violência urbana e, por fim, o crescimento das estatísticas de morte. Minimizar o impacto ambiental, buscar a diminuição de enfermidades aos ocupantes irregulares, sem promover ou incentivar a posse irregular ou o investimento financeiro do poder público em meios fixos ou de difícil remoção para o saneamento básico foram o horizonte traçado inicialmente para este estudo
O presente trabalho tem como linha de pesquisa Estado e Planejamento Social da Saúde, tendo como tema a adoção de uma política pública de mudança da frota destinada ao transporte urbano, que elimine o uso de combustíveis poluentes, para uma alternativa ambientalmente saudável. A pesquisa apresenta uma proposta de diminuição dos níveis de poluição do ar em Santos, através da utilização de uma matriz energética baseada na eletricidade. Propõe-se que a Prefeitura de Santos dê o exemplo, implementando medidas de conscientização da população quanto à preservação ambiental e melhora da qualidade de vida. A metodologia utilizada para a realização da dissertação, foi a pesquisa de natureza qualitativa, de caráter exploratório, com base em dados bibliográficos e estatísticos. No estudo, discorre-se sobre a proteção do meio ambiente, em especial sobre as providências até então adotadas pelo município de Santos, quanto à melhora da qualidade do ar, bem como sobre uma política de transporte público que tenha esse fator como foco. Explana-se, também, sobre a qualidade do ar em Santos, com base em medições efetuadas pela CETESB.Foi feita uma abordagem sobre os impactos que a poluição do ar ocasiona ao sistema respiratório. A origem das diversas fontes poluidoras do ar na Baixada Santista foi estudada, e como paradigma para a mitigação dos seus efeitos, menciona-se o novo processo licitatório levado a efeito pelo Município de São Paulo, que impõe a troca progressiva da frota dos ônibus destinados ao transporte público urbano por uma outra, movida a energia elétrica, sendo feita uma análise dos impactos altamente positivos que essa mudança trará para a saúde. Também são sugeridas medidas no âmbito tributário, com incentivos fiscais que poderão ser concedidos pelas três esferas governamentais. Por derradeiro, defende-se um novo posicionamento por parte das instituições financeiras, no que tange à diminuição das taxas de juros cobrados nos futuros empréstimos concedidos para a aquisição dos ônibus elétricos, construindo-se um raciocínio de que essas mesmas instituições poderão ser responsabilizadas por eventuais danos ambientais que a atual emissão de gases pelos ônibus poderá causar, em especial à saúde humana. Conclui-se, portanto, que em razão da economia gerada pela queda do número de internações, atendimentos e morbidade causados pela poluição do ar, a verba que seria destinada à saúde migrará para o setor de transporte, num círculo virtuoso, obtido através da adoção de uma política municipal de mobilidade urbana baseada, principalmente, na utilização exclusiva de ônibus elétricos no transporte público de passageiros.
O que nossos ex-alunos dizem sobre nós
“Sem sombra de dúvidas, a Unisanta é um ótimo local para desenvolver pesquisas e também para se conectar com a indústria. Afinal, eu trabalho em uma operadora de petróleo, e a junção das necessidades da indústria com o desenvolvimento acadêmico é uma força da Unisanta. ”

“Eu tive a Unisanta ao meu lado durante todo o percurso, sempre me ajudando, junto com os laboratórios, que têm diversos projetos e profissionais aptos que me auxiliaram em todo o processo. Recomendo a todos este programa da universidade. ”

“Minha pesquisa só foi possível graças ao apoio de todo o corpo docente da Universidade Santa Cecília, a quem rendo minhas homenagens. Foi uma honra ser aluno desta instituição e, sempre que possível, retornarei às cadeiras acadêmicas para continuar aprendendo com os professores e colegas de curso. ”

“A Unisanta me ajudou muito. Os professores foram fantásticos, e aprendi muitas coisas aqui. Só tenho a agradecer muito pelo conhecimento que eu pude adquirir. ”

“Sou realmente muito grato à Unisanta, à minha orientadora e a todos que contribuíram para a riqueza deste momento. Estou muito feliz. ”

Estágio de Docência
O estágio de docência no mestrado da Universidade Santa Cecilia permite aos alunos vivenciarem a prática docente no ensino superior, auxiliando em disciplinas da graduação sob supervisão. Essa experiência desenvolve habilidades pedagógicas e aprimora a comunicação, preparando-os para a carreira acadêmica.
Manual de Estágio Supervisionado de Docência dos Cursos de Pós-Graduação stricto sensu UNISANTA
Requerimento à Comissão de Estágio Supervisionado de Docência para Realização de Estágio Supervisionado de Docência do Curso de Pós-Graduação stricto sensu
Plano de Atividades do Estágio Supervisionado de Docência
Relatório de Estágio Supervisionado de Docência
Bolsas
EDITAL PPGD/CPG-DIREIO (2025-2)
(Resultado) Ata - Processo Seletivo - PROSUP/CAPES Programa de Pós-Graduação em Direito (2025-2)
EDITAL PPGD/CPG-DIREITO (2025-1)
(Resultado) Ata - Processo Seletivo - PROSUP/CAPES Programa de Pós-Graduação em Direito (2025-1)
EDITAL PPGD/CPG-DIREITO (2024)
(Resultado) PROCESSO SELETIVO DE BOLSAS PROSUP/CAPES (2024)
Os auxílios para pagamentos das taxas escolares descritos no Ofício nº 276/2022-CPG/CGSI/DPB/CAPES e publicados no Art. 3º da Portaria nº 73, de 6 de abril de 2022, foram distribuídos igualitariamente entre os 3 (três) Programas de Pós-graduação acadêmicos da Universidade Santa Cecília – UNISANTA, sendo eles:
PPG em Sustentabilidade de Ecossistemas Costeiros e Marinhos;
PPG em Ciência e Tecnologia Ambiental;
PPG em Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas.
Links
PERIODICOS UNISANTA
EVENTOS
BENEFÍCIOS
CERTIFICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS
As certificações intermediárias são oferecidas para todos os alunos dos últimos anos dos cursos de graduação e para profissionais já graduados que pretendam melhorar seus currículos. São disciplinas de conclusão rápida, em média com duração de 60 dias, presencial remoto e presencial. Temos disponíveis várias disciplinas distribuídas nas mais diversas áreas do conhecimento.
Cada disciplina fornecerá um Certificado de Conclusão com a carga horária e aproveitamento do aluno. As disciplinas de extensão universitária são oferecidas no início de cada trimestre do ano: fevereiro, maio, agosto e outubro e com carga horária de 15, 30 ou 45 horas/aula, correspondendo a 1, 2 ou 3 créditos. O valor de cada crédito é R$ 400,00.
Formato presencial/ híbrido – Todas as aulas e atividades são realizadas de forma presencial, mas podem ser assistidas on-line (ao vivo), o que proporciona aos estudantes flexibilidade e interatividade. Essa modalidade permite que os alunos acessem conteúdo de alta qualidade de qualquer lugar e participem de debates e troca de ideias em tempo real, com orientação e feedback imediatos dos professores.
Relação de Disciplinas (Hibridas/Presenciais) oferecidas – 2025
CONTATO
Universidade Santa Cecília – UNISANTA
Cesário Mota, 08 – Bloco F, Sala F-81– 8º Andar
CEP 11045-040
Tel: (13) 3202-7100 ramal 7259
E-mail: strictosensu@unisanta.br