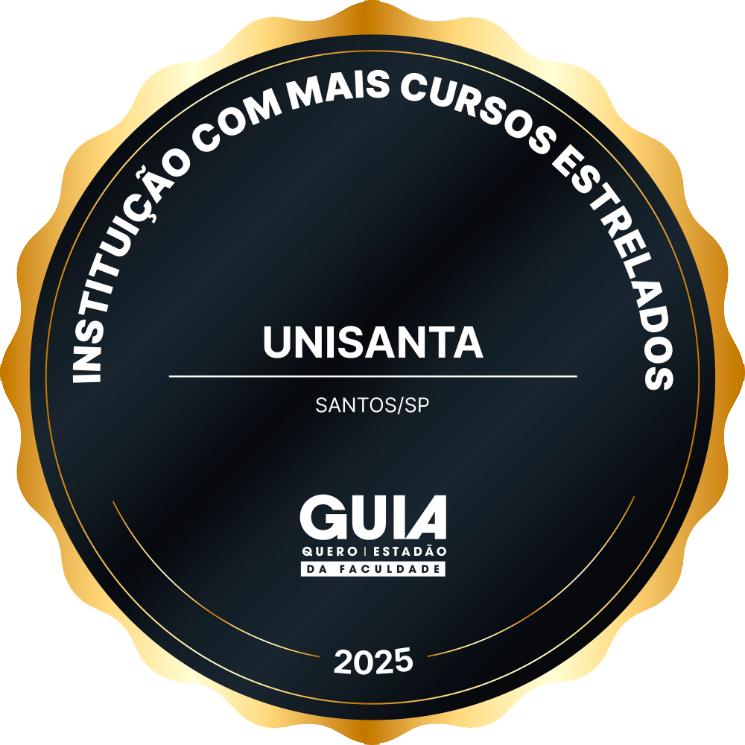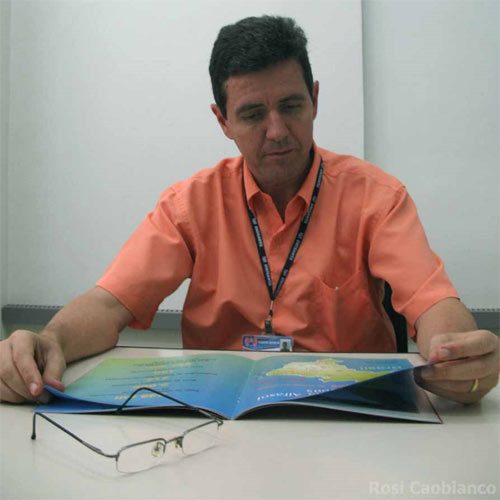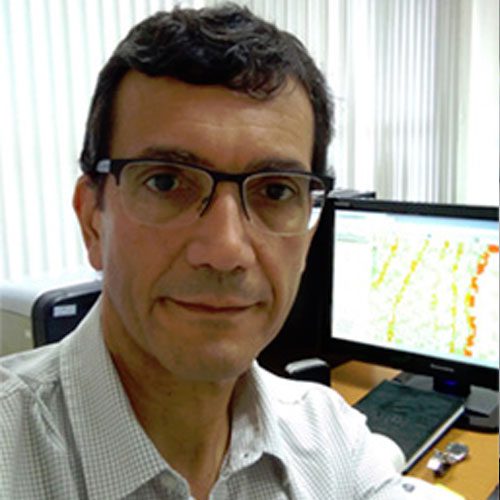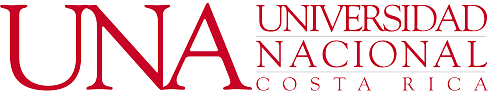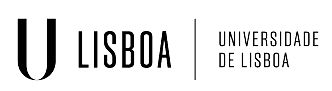Auditoria Ambiental, Portos e Governança
Sobre o Programa
Programa
O Programa de Pós-Graduação em Auditoria Ambiental, Portos e Governança (PPG-AUPG) é um curso stricto sensu de Mestrado Profissional voltado à capacitação de profissionais com sólida formação interdisciplinar para atuação estratégica na interface entre conservação da biodiversidade, gestão ambiental, atividades portuárias e políticas públicas. Alinhado às demandas contemporâneas por sustentabilidade, inovação e cumprimento das normativas ambientais, o curso busca formar mestres capazes de integrar conhecimentos técnicos e científicos com práticas de governança, auditoria e conservação da natureza em ambientes costeiros e marinhos.
Formato presencial/ híbrido – Todas as aulas e atividades são realizadas de forma presencial, mas podem ser assistidas on-line (ao vivo), o que proporciona aos estudantes flexibilidade e interatividade. Essa modalidade permite que os alunos acessem conteúdo de alta qualidade de qualquer lugar e participem de debates e troca de ideias em tempo real, com orientação e feedback imediatos dos professores.
Conheça nossos diferenciais em Inovação e Sustentabilidade
- Parceria estratégica para inovação sustentável!
- O PPG-AUPG desenvolve tecnologias aplicáveis ao setor produtivo.
- Empresas mais eficientes, sustentáveis e competitivas!
- Nossa pesquisa aplicada impulsiona sua gestão ambiental.
- Transforme desafios ambientais em oportunidades!
- Junte-se ao PPG-AUPG e desenvolva soluções inovadoras.
- Seu time mais qualificado, sua empresa mais preparada!
- Envolva seus colaboradores no PPG-AUPG e amplie sua vantagem competitiva.
- Impacto real na indústria e no meio ambiente!
- Aplicação prática de pesquisas em auditoria e gestão ambiental.
- Parceria universidade-empresa para um futuro mais sustentável!
- Conhecimento acadêmico colocado em prática no setor produtivo.
Características Principais
- Ênfase interdisciplinar, integrando conhecimentos de Ciências Biológicas com temas de auditoria, direito ambiental, economia ecológica, infraestrutura portuária e governança;
- Foco na aplicação prática do conhecimento, com produção de dissertações técnico-científicas ou produtos técnicos (manuais, patentes, planos de ação, indicadores, relatórios, modelos de auditoria, entre outros);
- Articulação com atores públicos e privados, incluindo empresas do setor portuário, agências ambientais, órgãos de controle e organizações não governamentais;
- Abrangência territorial, com abordagem sobre ecossistemas costeiros, estuarinos, marinhos e hinterlands logísticos;
- Compromisso com a inovação e a sustentabilidade, integrando ferramentas como inteligência artificial, geotecnologias e indicadores ambientais.
Objetivos
- Capacitar profissionais para atuar na identificação, avaliação e mitigação de impactos ambientais relacionados a atividades portuárias, logísticas e outras em regiões costeiras;
- Formar mestres capazes de participar de auditorias ambientais, especializados na verificação de conformidade legal, desempenho ambiental e gestão de riscos ecológicos em áreas sensíveis e/ou com riscos à conservação da biodiversidade;
- Desenvolver competências em governança ambiental, com foco em políticas públicas, regulação ambiental, licenciamento e participação social;
- Articular saberes multidisciplinares para solução de problemas complexos, promovendo a conservação da biodiversidade em territórios afetados por atividades antrópicas;
- Fomentar a inovação técnica e tecnológica, com a produção de produtos e processos que contribuam para a sustentabilidade e o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Público-Alvo
Profissionais graduados que atuam ou têm interesse nas áreas de:
- Meio ambiente;
- Gestão portuária e costeira;
- Engenharia ambiental e sanitária;
- Biologia, ecologia e geociências;
- Administração pública ou privada;
- Direito ambiental e políticas públicas;
- Logística, transporte e planejamento territorial.
Perfil do Egresso
O egresso será um profissional habilitado para:
- Participar de auditorias ambientais especializadas, considerando aspectos legais, técnicos e socioambientais.
- Desenvolver e implementar práticas sustentáveis para a conservação da biodiversidade em ambientes costeiros e portuários.
- Atuar na governança ambiental, integrando políticas públicas, gestão empresarial e demandas sociais para promover o uso sustentável dos recursos naturais.
- Gerenciar dados ambientais e biológicos, apoiando a tomada de decisão baseada em evidências e em conformidade com normas ambientais.
- Promover a inovação tecnológica e metodológica em auditorias ambientais e na gestão de impactos ambientais associados ao setor portuário.
Aplicação Prática e Mercado de Trabalho
O mestrado tem foco profissionalizante, alinhado às demandas do mercado, em setores públicos e privados, incluindo:
- Órgãos ambientais e reguladores.
- Administração portuária e logística.
- Consultorias ambientais e auditorias especializadas.
- Empresas de exploração de recursos naturais e conservação da biodiversidade.
- Instituições de pesquisa aplicada e de desenvolvimento tecnológico.
A partir de outubro, duas novas disciplinas relativas à área portuária serão ofertadas:
- Planejamento Estratégico e Modelos de Negócio para Portos
Docente: Prof. Roberto Paveck Pinheiro
Executivo da Autoridade Portuária de Santos em operações logísticas, representante da Autoridade Portuária no Centro de Excelência Portuária de Santos - CENEP
- Gestão Socioambiental e Sustentabilidade: Práticas integradas para gestão socioambiental em contextos industriais e portuários
Docente: Prof. Carlos Roberto dos Santos
Gerente Executivo de Gestão de Pessoas e Saúde na CLI - Corredor Logistica e Infraestrutura
*Os selos representam as avaliações do Ministério da Educação (MEC) – ENADE, Conceito Preliminar de Curso (CPC) e Reconhecimento – além da avaliação por estrelas do Guia da Faculdade, do jornal O Estado de S. Paulo.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
MATRÍCULAS ANTECIPADAS: 25% de desconto na 1ª. parcela (matrícula). Promoção por tempo limitado, sujeita a encerramento sem aviso prévio.
5% de DESCONTO ATÉ O DIA 5 DE CADA MÊS PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES.
DESCONTOS ESPECIAIS
– 20% nas mensalidades para ex-alunos formados de graduação e pós-graduação da Unisanta.
-13% de desconto para antecipação do pagamento total das mensalidades, cumulativos com desconto de pontualidade e outro desconto, caso o aluno possua.
-Descontos para empresas conveniadas, grupo de amigos e outros descontos.
– 50% de desconto para o corpo docente da Unisanta.
*Obs.: Os descontos especiais não são cumulativos, caso o aluno já possua outro benefício.
Auditoria Ambiental, Portos e Governança
Presencial
Mensalidades por
Avise-me!
Este curso está com as matrículas encerradas no momento. Preencha seus dados que entraremos em contato quando as matrículas estiverem abertas.
Condições de Pagamento
MATRÍCULAS ANTECIPADAS: 25% de desconto na 1ª. parcela (matrícula). Promoção por tempo limitado, sujeita a encerramento sem aviso prévio.
5% de DESCONTO ATÉ O DIA 5 DE CADA MÊS PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES.
DESCONTOS ESPECIAIS
- 20% nas mensalidades para ex-alunos formados de graduação e pós-graduação da Unisanta.
- 13% de desconto para antecipação do pagamento total das mensalidades, cumulativos com desconto de pontualidade e outro desconto, caso o aluno possua.
- Descontos para empresas conveniadas, grupo de amigos e outros descontos.
- 50% de desconto para o corpo docente da Unisanta.
*Obs.: Os descontos especiais não são cumulativos, caso o aluno já possua outro benefício.

Conheça o nosso corpo docente

Profa. Alessandra Aloise de Seabra
Direito Ambiental e Gerenciamento Costeiro e Marítimo
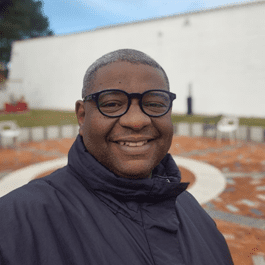
Prof. Carlos Roberto dos Santos
Auditoria Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Logística

Prof. Elio Lopes dos Santos
Engenharia Industrial, Engenharia Urbana e Controle da Poluição
Áreas de Concentração
Conservação e gestão
A área de concentração em Conservação e Gestão aborda a auditoria e a gestão ambiental aplicadas a ambientes costeiros e portuários, a governança, a biodiversidade e as políticas públicas, bem como o planejamento territorial e a conservação em zonas portuárias e na região costeira.
Matriz Curricular
Nesta disciplina serão ministrados os conceitos teóricos que embasam as auditorias
ambientais, a definição de seu conceito e suas aplicações. Será explorado o uso da Auditoria
ambiental como ferramenta no processo de prevenção, eliminação e mitigação dos impactos
ambientais provenientes de empreendimentos já implantados ou projetos futuros. Será
proposto o estudo e aplicabilidade das normas e da legislação nacionais e internacionais que
baseiam as auditorias ambientais, ISOs, e aspectos legais da auditoria ambiental. Assim, a
disciplina visa definir o papel do profissional em auditoria ambiental no atual contexto do meio
ambiente.
ABNT. Normas NBR ISO série 14.000. Rio de Janeiro: ABNT: 1996-2002
ABNT. Normas NBR ISO série 19.000. Rio de Janeiro: ABNT: 2002
ANTUNES, P.B. Auditorias Ambientais: competências Legislativas. Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 35, nº 137, jan./mar. 1998, pp. 119-124. Disponível em:
D'AVIGNON, A.; LA ROVERE, E.L. Manual de auditoria ambiental. 2.ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001.
KRONBAUER, C.A. et. al. Auditoria e evidenciação ambiental; um histórico das normas brasileiras, americanas e europeias. Revista de Contabilidade e Controladoria, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, v. 2, n. 2, p. 30-49, mai./ago. 2010. Disponível em: .
PIVA, A.L. Auditoria Ambiental: Um Enfoque Sobre a Auditoria Ambiental Compulsória e a Aplicação dos Princípios Ambientais. Artigo publicado no II Seminário sobre sustentabilidade promovido pela FAE Centro Universitário de Curitiba, em 2007. Disponível em:
SALES, Rodrigo. Auditoria ambiental e seus aspectos jurídicos. 1ª. Ed. São Paulo: LTr, 2001.
Projeto e desenvolvimento de trabalho relacionado com a área de auditoria ambiental e a aplicação do método científico. Procedimentos para elaboração de um plano de trabalho, levantamento de informações científicas, plano amostral e levantamento bibliográfico.
KREBS, J.C. Ecological Methodology. New York: Harper & Row Publ. 1989.
LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. São Paulo: Atlas, 2013. 228p.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. Estudo de impacto ambiental – EIA, Relatório de impacto ambiental – RIMA: Manual de orientação. São Paulo: CPLA-SMA, 1991. 30p.
SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2007. 304p.
A disciplina visa fornecer as bases teórica e prática das análises quantitativas de poluentes empregadas em ecossistemas aquáticos, oferecendo embasamento para o aluno interessado no desenvolvimento de novas tecnologias que visem à implantação de melhorias no sistema de monitoramento ambiental de ecossistemas aquáticos. Serão realizadas aulas teóricas, através da apresentação da fundamentação teórica das técnicas analíticas tradicionalmente utilizadas para essas medições, bem como a discussão de artigos científicos relacionados com os temas abordados. A disciplina também contempla aulas práticas a fim de se consolidar o conteúdo teórico discutido em sala de aula.
APHA; AWWA; WEF. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 22st ed. Washington, USA: 2012.
BRASIL. CONAMA, resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, v. 2, n. 1, p. 33, 17 mar. 2005. Seção 1, p. 33-36.
CETESB. Relatório de monitoramento de emissários submarinos. Relatório Técnico. 2007.
CETESB. Significado ambiental e sanitário das variáveis de qualidade das águas e dos sedimentos e metodologias analíticas e de amostragem. 2008.
CETESB. Qualidade das águas superficiais no estado de São Paulo. 2010. Relatório Técnico. Disponível em: .
CETESB. Qualidade das águas salinas e salobras no estado de São Paulo. 2014.
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). Method 1694: Pharmaceuticals and Personal Care Products in Water, Soil, Sediment, and Biosolids by HPLC/MS/MS. 2007.
HARRIS, D.C. Análise química quantitativa, 8ª ed. LTC, Rio de Janeiro, Brasil. 2012.
HOLLER, F.J. Princípios de análise instrumental, 6ª ed. Bookman, Porto Alegre, Brasil. 2009.
MANAHAN, S.E. Química ambiental, 9ª ed. 2013. Bookman, Porto Alegre, Brasil.
- Entender e caracterizar o conceito de Desastre Ambiental e suas consequências ambientais e sociais, assim como reconhecer os piores Desastres ambientais do Brasil e do Mundo;
- Estudar e compreender os conceitos de bioindicadores e biomarcadores;
- Compreender, através da apresentação de Plano Diagnóstico de Monitoramento Ambiental, o processo de diagnóstico, avaliação e estudo de importantes impactos ambientais no Brasil.
Amiard-Triquet C, Amiard J-C, Rainbow PS. 2013. Ecological Biomarkers. Indicators of Ecotoxicological Effects. CRC Press Taylor and Francis Group.
Buss DF, Baptista DF, Nessimian JL. 2003. Bases conceituais para a aplicação de biomonitoramento em programas de avaliação da qualidade da água de rios. Cad Saude Publica 19:465–473.
Laboratório de análise ambiental e geoespacial. 2014. Gestão e prevenção de riscos as áreas de desastrea naturais.
Sadauskas-Henrique H. 2014. Efeitos subletais da poluição por petróleo e derivados sobre peixes da Amazônia (Amazonas, Brasil ). Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA. Tese de Doutorado.
Sadauskas-Henrique H, Duarte RM, Gagnon MM, Almeida-Val VMF. 2017. Validation of a suite of biomarkers of fish health in the tropical bioindicator species, tambaqui (Colossoma macropomum). Ecol Indic 73.
Silva DCVR da, Pompeo M, Paiva TCB de. 2015. A ecotoxicologia no contexto atual no Brasil. In: Ecologia de reservatórios e interfaces. São Paulo. p 340–353.
Desenvolvimento de projetos em campo visando a prática de metodologias de ecologia em áreas naturais. Metodologia para obtenção de dados em campo nas áreas de: zoologia, botânica e ecologia de ambientes costeiros; pesca, ecologia humana e etnoecologia aplicada aos recursos pesqueiros.Objetivo: Apresentar a importância de estudos de campo na formação profissional de ecologia.
Discutir sobre algumas técnicas de amostragem e de desenho experimental;
Coletar dados e amostras necessárias para responder perguntas e testar hipóteses em Ecologia;
Analisar dados coletados, interpretá-los e gerar trabalhos científicos.
Barnes, R. S. K.; Mann, K. H.. Fundamentals of aquatic ecology. 2.ed. Blackwell Science. Oxford. 1991. 270 p.
BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin; HARPER. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 4.ed. Porto Alegre, RS; Editor(es): Artmed. 2007. 740 p.
Brower, E.J. & J.H. Zar. Field and Laboratory Methods for General Ecology. WCB Publish. Dubuque. 1984.
Gardner, Robert H. et al. Scaling relations in experimental ecology. New York. 2001. 373 p.
Gevertz, R. et AL. Em busca do conhecimento ecológico: uma introdução à metodologia. São Paulo. Ed. Edgar Blücher Ltda. 1995.
Green, R.H. Sampling Design and Statistical Methods for Environmental Biologists. John Wiley & Sons Inc. New York. 1979.
Jones, W. E.; Bennell, S.; Beveridge, C.; McConnell, B.; Mack-Smith, S.; Mitchell, J. Methods of data collection and processing in rocky intertidal monitoring. In: PRICE, J.M. et al. eds. The shore environment. London, Academic Press. v. 1 p.137-70. (Syst. Assoc. Spec. 17a). 1980.
A Educação Ambiental é aqui compreendida como processo de ensino-aprendizagem para o exercício da responsabilidade social, política e da cidadania no sentido da construção de outras relações sociais, além de novas relações entre os homens e a natureza. Portanto, há necessidade que o educador ambiental se aproprie de um conhecimento complexo, que extrapole os limites de sua formação inicial. A atuação profissional do futuro biólogo na elaboração de projetos em Educação Ambiental também é buscada. Os projetos desenvolvidos na disciplina buscam desenvolver uma prática educativa capaz de deflagrar reflexão crítica que permitirá ao educador ambiental compreenda possíveis formas de resguardar não somente a sobrevivência, mas, sobretudo, a convivência entre as espécies; Desenvolver no aluno a habilidade de elaboração de projetos na área de Educação Ambiental; Proporcionar aos alunos, uma visão geral sobre as principais questões ambientais discutidas na atualidade, desde a dimensão global até o foco nos problemas regionais; Resgatar conceitos das Ciências Naturais já estudados em várias disciplinas e articulá-los na prática educativa; Desenvolver práticas e estudos de casos com os alunos para possibilitar a inter-relação dos fatores socioeconômicos, políticos, culturais que interferem na qualidade de vida das espécies.
Conteúdo Programático: Pressupostos teóricos sobre Educação Ambiental: marcos conceituais; A Educação Ambiental e seus marcos institucionais; A Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA; A Educação Ambiental e o Currículo Escolar; Educação e Meio Ambiente: Formação de educadores ambientais; Agenda 21 na teoria e na prática; A interdisciplinaridade na Educação Ambiental; Elaboração de projetos de Educação Ambiental.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC-SEF, 1997.
DIAS, G.F. Atividades Interdisciplinares de Educação Ambiental. 2. ed. São Paulo: Gaia, 2006.
DIÁZ, A.P. Educação Ambiental como projeto. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.
PHILIPPI JR., A.; PELICIONI, M.C. Educação Ambiental: desenvolvimento de cursos e projetos. 2. ed. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2002.
SMA-SP – Cadernos de Educação Ambiental 1 a 17.
A disciplina tem como foco fornecer uma ampla discussão sobre manejo de recursos naturais e as diversas vertentes relacionadas a conservação que o manejo implica. As aulas serão baseadas em diferentes aspectos, históricos, conceituais e atuais, sobre a inteiração do Homem e do Meio Ambiente na busca pelo desenvolvimento sustentável. Alguns temas que farão parte da disciplina serão: histórico das inteirações entre populações humanas e recursos naturais; teoria dos recursos naturais de uso comum; co-manejo, manejo participativo e adaptativo. Abordagem de iniciativas locais, regionais, nacionais e internacionais de manejo dos recursos naturais; integração entre o conhecimento científico e o conhecimento das populações ecológico local e etnoconservação; resiliência, entre outros. A disciplina tem por objetivo também, desenvolver o potencial que cada dissertação de aluno participante tem, na sua área de pesquisa, para abordar as questões de conservação e manejo dos recursos naturais dentro de seu tema especifico.
ADGER, W.N. Social and ecological resilience: are they related? Progress in Human Geography v. 24, n. 3, p. 347–36, 2000.
BEGOSSI. A; LOPES, P.F. (org.). Comunidades Pesqueiras de Paraty: Sugestões para manejo. São Carlos: RIMA, 2014.
CARLSSON, L. & BERKES, F. Co-management: concepts and methodological implications. Journal of Environmental Management. v. 75, p. 65-76, 2005.
LOPES, P.F.M.; ROSA, E.M.; SALYVONCHYK, S.; NORA, V.; BEGOSSI, A. Suggestions for fixing top-down coastal fisheries management through participatory approaches. Marine Policy n. 40, p. 100–110, 2013.
RUDDLE, K; DAVIS, A. What is ‘‘Ecological’’ in Local Ecological Knowledge? Lessons from Canada and Vietnam. Society and Natural Resources, n. 0, p. 1–15, 2011.
TUCKER, M. CATARINE Learning on Governance in Forest Ecosystems: Lessons from Recent Research. International Journal of the Commons? Vol. 4, no 2 August 2010, pp. 687–706. URL: http://www.thecommonsjournal.org
O licenciamento ambiental, seu histórico e princípios fundamentais; as normas legais que
regem o licenciamento ambiental e os principais tipos de licença. Procedimentos e
documentação necessária para o encaminhamento de um processo de licenciamento nos
órgãos ambientais; as etapas do licenciamento ambiental.
BRASIL/CONAMA. Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. Disponível em .
BRASIL/TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Cartilha de licenciamento ambiental. 2ª ed., Brasília: TCU. Disponível em . 83p. 2007.
D'ÁVILA-ARAÚJO, T. C. Licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de energia elétrica a partir de fonte eólica em superfície terrestre (onshore wind farms). FDUA - Fórum de Direito Urbano e Ambiental, ano 14, n. 82, p.9, 2015.
FARIAS, T. Q. Licenciamento ambiental e responsabilidade empresarial. Âmbito Jurídico, Rio Grande, IX, n. 30, 2006.
FONTENELLE, M. & AMENDOLA, C.M. O licenciamento ambiental do petróleo e gás natural. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Programa Nacional de Capacitação de gestores ambientais: licenciamento ambiental. 2ª ed., Brasília, MMA, 2009. 90p.
MOREIRA, E.C.P. O licenciamento ambiental e a participação dos entes federativos interessados. Revista de Direito Ambiental, ano 20, v. 79, p. 77, 2015.
MOTTA, D.M. & PÊGO, B. (Orgs.) Licenciamento ambiental para o desenvolvimento urbano: avaliação de instrumentos e procedimentos. Rio de Janeiro, IPEA. Disponível em . 2013.
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. Estudo de impacto ambiental – EIA, Relatório de impacto ambiental – RIMA: Manual de orientação. CPLA-SMA, São Paulo, 1991.
Os habitats costeiros podem ser afetados pelas mudanças climáticas e pela ocupação humana, causando modificações e impactos na linha de costa, interferindo nos ecossistemas naturais adjacentes terrestres ou de água doce. A disciplina visa entender a estrutura e funcionamento das populações e comunidades em ecossistemas costeiros e avaliar os impactos antrópicos e climáticos, através do monitoramento de aspectos dos ecossistemas (Manguezais e Marismas) e/ou biologia populacional de diferentes espécies indicadoras (costões rochosos), além de aspectos da estrutura de comunidades (Praias Arenosas).
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Proposta de Plano Nacional de Gestão para o Uso Sustentável do Caranguejo-Uçá, do Guaiamum e do Siri-Azul. J. Dias-Neto (Org.), Brasília, DF: IBAMA. 2011.
MCLACHLAN, A.; DORVLO, A. 2005. Global Patterns in Sandy Beach Macrobenthic Communities. Journal of Coastal Research, 21(4): 674-687.
MELO, G.A.S. Manual de identificação dos Brachyura (caranguejos e siris) do litoral brasileiro, 1a. ed. São Paulo: Plêiade. 1996.
MELO, G.A.S. Manual de identificação dos Crustacea Decapoda do litoral brasileiro: Anomura, Thalassinidea, Palinuridea e Astacidea. 1. ed. São Paulo: Plêiade. 1999.
SCHAEFFER-NOVELLI, Y. Grupo de ecossistemas: manguezal, marisma e apicum (Programa Nacional da Diversidade Biológica – Pronabio. Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira – Probio. Subprojeto Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha). São Paulo. 1999.
TURRA, A.; DENADAI, M.R. (Orgs.). Protocolos para o monitoramento de habitats bentônicos costeiros – Rede de Monitoramento de Habitat Bentônicos Costeiros – ReBentos [online]. São Paulo: Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, 2015. ISBN 978-85-98729-25-1.
Técnicas de RAD (recuperação de áreas degradadas); A questão do solo nos processos de RAD; Espécies vegetais adequadas para RAD; Participação de populações locais em processos de recuperação ambiental; Políticas públicas relacionadas aos processos de restauração.
ALMEIDA, D.S. de. Recuperação ambiental da Mata Atlântica. Ilhéus: Editus, 2000.
BRANCALION, P.S.; Gandolfi, S.; RODRIGUES, R.R. Restauração Florestal, v. 1.1. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2015.
FLORES, T.B.; COLLETTA, G.D.; SOUZA, V.C.; IVANAUSKAS, N. M.; TAMASHIRO, J. Y.; RODRIGUES, R. R. Guia Ilustrado para identificação das plantas da Mata Atlântica, v. 1. 1. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2015.
FRANKHAM, R.; BALLOU, J.D.; BRISCOE, D.A. Fundamentos da genética da conservação. Ribeirão Preto, SP: SBG (Sociedade Brasileira de Genética). 2008.
MARTINS, S.V. Restauração ecológica de ecossistemas degradados. Viçosa: UFV. 2013.
LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil vols. 1,2, 3. Instituto Plantarum, Nova Odessa. 2009.
PRIMACK, R.B. & RODRIGUES, E. Biologia da conservação. Londrina: Planta. 2001.
RODRIGUES, R.R.; BRANCALION, P.H.S.; ISERNHAGEN, I. Pacto para a restauração da Mata Atlântica: referencial dos conceitos e ações de restauração florestal. São Paulo: Instituto BioAtlântica, 2009.
RODRIGUES, R.R.; JOLY, C.A.; BRITO, M.C.W.; PAESE, A.; METZGER, J.O.; CASATTI, L.; NALON, M.A.; MENEZES, N.A.; BOLZANI, V.S. & BONONI, V.L.R. Diretrizes para a conservação e restauração da biodiversidade no estado de São Paulo. Programa BIOTA/FAPESP & FAPESP & Secretaria do Meio Ambiente. 2008.
RODRIGUES, R.R.; LEITÃO FILHO, H.F. Matas Ciliares: Conservação e Recuperação, 3. ed. São Paulo: EDUSP/FAPESP, 2004.
SCHWARCZ, K.D.; SIQUEIRA, M.V.; ZUCCHI, M.I.; BRANCALION, P.; RIBEIRO, R.R. O uso de recursos fitogenéticos na preservação e restauração da biodiversidade. In: VEIGA, R.F.A; QUEIROZ, M.A. de (Org.). Recursos fitogenéticos: a base da agricultura sustentável no Brasil. Viçosa, MG: UFV, 2015, p. 314-325.
SOUZA, V.C.; LORENZI, H. Botânica Sistemática: guia ilustrado para identificação das famílias de fanerógamas nativas e exóticas no Brasil, baseado em APG III. Instituto Plantarum, Nova Odessa. 2012.
Estudo dos modelos de governança, participação social, políticas públicas e instrumentos legais para a gestão sustentável.
Métodos para avaliação dos impactos ambientais nas zonas portuárias e estratégias de mitigação.
Legislação ambiental específica para portos e instrumentos jurídicos para proteção ambiental.
Práticas integradas para gestão socioambiental em contextos industriais e portuários.
Procedimentos para controle e licenciamento ambiental aplicados ao setor portuário.
Aplicação prática de auditoria e consultoria em contextos ambientais aquáticos e portuários.
Ferramentas digitais, SIG, sensoriamento remoto e gestão de dados ambientais para auditoria e governança.
Organização, análise e uso de dados biológicos para suporte à auditoria e conservação da biodiversidade em portos.
Evolução das tecnologias, segurança, gerenciamento de riscos e normas pertinentes.
Identificação de riscos, mecanismos de controle e mitigação.
ESG aplicado à logística, cenários futuros, portos inteligentes, políticas públicas e desenvolvimento regional.
Dissertações e teses
2025
O transporte rodoviário de produtos perigosos representa um dos maiores desafios da logística moderna, pois envolve riscos à segurança, à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente. A adoção de sistemas de gestão integrada que unam qualidade, prevenção e responsabilidade socioambiental é essencial para reduzir esses riscos. Como aplicação prática desses princípios, o estudo resultou na elaboração de uma cartilha educativa destinada aos motoristas, com foco no reforço das boas práticas e na ampliação do conhecimento sobre a ISO 39001, configurandose como produto aplicado voltado à segurança viária e ambiental. O objetivo geral foi analisar a importância da adoção de sistemas integrados de gestão da qualidade e da segurança viária e propor ferramentas que contribuam para a mitigação dos riscos ambientais decorrentes de acidentes no transporte rodoviário de produtos perigosos. Foram avaliados dados de acidentes e violações registrados entre abril e maio de 2025 em uma operação de distribuição de gases medicinais e industriais no Brasil, envolvendo três transportadoras, denominadas A, B e C, além da aplicação de uma pesquisa com 350 motoristas profissionais baseada nos requisitos da ISO 39001 para avaliar a cultura de segurança. Os resultados mostraram que, apesar das diferenças entre as empresas, os acidentes graves, médios e leves permaneceram abaixo da proporção teórica da Pirâmide de Bird, demonstrando consistência na gestão de segurança. A pesquisa evidenciou bom nível de conhecimento e engajamento dos motoristas em condutas preventivas, embora persistam desafios relacionados ao relato de riscos e à fadiga. A análise comparativa por método multicritério de decisão (MCDA) não identificou associação direta entre a cultura de segurança e os registros de violações e acidentes. O estudo também analisou um acidente com impacto ambiental, envolvendo a explosão de um caminhão-tanque de oxigênio líquido, demonstrando a importância de planos de ação consistentes e do monitoramento ambiental. Conclui-se que a cultura de segurança dos motoristas é sólida e que o estudo atingiu seus objetivos, contribuindo ainda para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 4, ODS 8 e ODS 15.
2023
Os meios bióticos e abióticos no seu estado de equilíbrio geram resíduos inerentes às atividades dos ciclos biogeoquímicos durante os processos de transpiração de plantas e animais, absorção de nutrientes, decomposição de matéria orgânica, atividade vulcânica, dentre outros. Quando em equilíbrio são absorvidos de forma coesa e transformados em minerais e nutrientes. As ações antropogênicas geram resíduos oriundos de diferentes atividades sejam elas industriais, rurais, domiciliares, comerciais dentre outras, em qualquer estado físico (sólido. líquido ou gasoso) e de diferentes classes de periculosidade ou inércia. Esses resíduos produzidos de forma exacerbada e sem gestão definida colocam em risco o equilíbrio ambiental. Àqueles periculosos são os mais visados, mas os recicláveis podem ser nocivos, quando tratados com descaso e displicência, causando problemas não só ambientais como sociais. Durante o período da Pandemia Corona Vírus Disease - COVID 19 estima-se que houve um aumento nos serviços de e-commerce e por sua vez de delivery, proporcionalmente o volume de resíduos recicláveis de origem domiciliar tenderam a aumentar. Mas, será que o aumento realmente foi evidenciado pelas cooperativas de reciclagem? Este estudo procura traçar um panorama do aumento de resíduos recicláveis recebidos pelas cooperativas no período da Pandemia COVID 19 em decorrência do aumento das atividades de delivery e e-commerce e se realmente esse aumento foi percebido pelas cooperativas da Região Metropolitana da Baixada Santista – RMBS. O estudo foi elaborado a partir de Pesquisa Aplicada Qualitativa com a submissão de questionários às cooperativas de recicláveis da RMBS. O aumento da geração de resíduos de delivery e e-commerce na RMBS não significou proporcionalmente aumento na produção das empresas de reciclagem, pelo contrário realçou as debilidades que o processo da reciclagem urbana apresenta e os fatores econômicos repercutido durante a pandemia. Quase unânime o posicionamento das cooperativas entrevistadas com relação a redução dos resíduos no período da pandemia. O período da pandemia, apesar de ótima oportunidade comercial que gerou às cooperativas, na realidade não funcionou. Grande parte das cooperativas destacam que a crise econômica gerada pela pandemia, lojas e empresas fechadas e consequente desemprego fez com que o número de catadores que utilizam os resíduos como meio de sustento, aumentasse consideravelmente. Neste período também ficou evidente as fragilidades e a ausência do comprometimento da população quanto a segregação dos resíduos recicláveis gerados nos domicílios. A necessidade de políticas que fomentem a reciclagem desses resíduos pelas cooperativas, não só reduzem a pressão sobre a vida útil dos aterros sanitários, como principalmente beneficia as comunidades que vivem dessa atividade. Sugere-se a aplicação de pesquisas na população, procurando entender quais as dificuldades ou o que poderia ser feito para que as mesmas pudessem aumentar a segregação nos domicílios e o envio para a reciclagem, assim obtendo-se com este estudo parâmetros comparativos entre o gerador - munícipe e o receptor – cooperativas, amparando a possível reestruturação dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos da RMBS.
A exploração dos recursos marinhos na Baixada Santista do litoral do estado de São Paulo exerce um papel relevante na captura de crustáceos, especialmente do camarão branco Litopenaeus schmitti. O objetivo deste estudo foi investigar as variações na CPUE da espécie e sua relação com alguns fatores ambientais, devido a tal fato, esta dissertação buscou em banco de dados e estudos, expor a produção do camarão branco Litopenaeus schmitti. Foi utilizado como critério, o levantamento realizado através de fonte bibliográfica e informações disponibilizadas através do Instituto de Pesca do Estado de São Paulo – PROPESQ. Os dados foram coletados nos anos de 2008 a 2017, sendo o ano de maior produção foi o de 2017, com 79526,15 Kg e o de menor foi no ano de 2008 com 20298,80 Kg. Os Municípios de Bertioga e Santos-Guarujá foram os com as maiores produções registradas durante o período. Destaca-se a importância do período de defeso citado no escopo nos bancos de dados, como período principal de preservação e cuidados com a espécie, o qual demonstraram potencial para influenciar na captura de outras espécies marinhas, através de funções de autocorrelação e correlação cruzada entre os dados de produção pesqueira e as variáveis ambientais.
Embora seja conhecida a importância dos manguezais e os impactos que esses ecossistemas têm sofrido nos últimos anos em decorrência de ações antrópicas ainda não há um protocolo de monitoramento que relacione parâmetros abióticos e bióticos para o estudo e acompanhamento desses ambientes. Desta forma, considerando as diferentes intensidades de exposição sofridas pelo manguezal do Rio Itapanhaú, e seu grau de conservação dentro do perímetro do Parque Estadual Restinga de Bertioga, teve-se como objetivo desenvolver um estudo relacionando variáveis físico-químicas da água, físicas e matéria orgânica do sedimento, assim como variáveis biológicas (aspectos morfológicos e biométrico das folhas) e análises de processamento remoto (Índice De Vegetação Por Diferença Normalizada) nesse ambiente. Com o objetivo de analisar a relação tanto destas variáveis entre sim, como destas com os níveis de antropização do local. Para por fim, entender se essas podem ser consideradas indicadores para o monitoramento de ecossistemas de manguezal. Para a realização do estudo foram coletadas amostras em cinco transecções dispostas à margem esquerda do rio. As amostras de água foram coletadas em três momentos diferentes durante a enchente da maré. Foram realizadas duas campanhas amostrais. As análises de água indicaram influência da maré sobre a interação e concentração dos descritores estudados. As maiores variações entre os parâmetros do estudo foram obtidas em T05, a transecção visualmente mais exposta à atividade antrópica e mais a jusante no corpo hídrico. Para a análise granulométrica obtevese que os sedimentos são compostos principalmente por areia fina com, os resultados do teor de matéria orgânica variaram entre 13,58±6,6% e 53,09±4,22%. O NDVI variou entre 0,46±0,13 e 0,83±0,02, com os maiores valores obtidos no T01, transecção mais a montante do estudo. Obteve-se folhas de três espécies de mangue: Avicennia schaueriana, Laguncularia racemosa e Rhizophora mangle para as 5 estações de coleta. Foi observada, em geral, maior ocorrência de para todos os caracteres morfológicos no período seco para as três espécies. Os maiores resultados de clorose se deram para L. racemosa e R. mangle em T01, tanto herbivoria (T03), como anomalias (T01) e necrose (T01 e T04) apresentaram maior ocorrência foi para L. racamosa. Para a análise biométrica, em geral, obteve-se os maiores valores de área e teor de umidade para a três espécies também no período seco. Tanto a Correlação de Spearman como a Análise de Componentes Principais indicou em geral (para as três espécies), fortes relações entre as características foliares e descritores ambientais relacionados à textura do sedimento (as três classes encontradas (areia fina, média e silte e argila)), e da qualidade da água (temperatura, potencial de oxirredução e concentrações de nitrato e agentes surfactantes, principalmente). Embora não tenha sido possível estabelecer um claro gradiente antrópico para a região estudada, ainda assim, os resultados obtidos neste estudo indicam a existência de relações entre os descritores bióticos e abióticos estudados. Assim sendo, aponta-se para importância de se relacionar essas variáveis para análise e entendimento dos bosques de manguezal. No entanto, ainda se faz necessária a ampliação do esforço amostral, principalmente na região estudada, e também considerando outros manguezais com diferentes características para o entendimento e verificação dessas respostas e interações. Assim como para que seja possível relacioná-las diretamente a atores antrópicos e, desta forma propor um protocolo de monitoramento universal, que considere as particularidades dos diferentes tipos de manguezal.
O petróleo e seus derivados desenvolvem um papel importante para a evolução global, entretanto, como consequência, geram impactos ambientais. Na auditoria ambiental, a avaliação de repercussões físicas, ecológicas, além dos efeitos econômicos, sociais e culturais originados pelos danos ao meio ambiente, geram um campo de trabalho multidisciplinar em torno dos riscos envolvidos. A contaminação do solo por óleo diesel pode ter alcances variáveis de acordo com o volume da contaminação e características do solo em que se propaga, podendo alcançar grandes extensões, atingindo o subsolo de edificações. Diante disso, o objetivo do trabalho foi entender os impactos ambientais e as consequências para o homem, plantas e organismos do solo, além de estudar o comportamento da estrutura geológica de dois tipos de solos encontrados na Baixada Santista, quando contaminados com óleo diesel. Esses solos foram contaminados nas concentrações de 0,5%, 1,5%, 3,5%, 7,5% e 15,5%, além da amostra controle. Através de uma extensa revisão da bibliografia, é possível afirmar que a contaminação por óleo diesel afeta o equilíbrio natural do ecossistema, afetando os serviços ecossistêmicos naturalmente prestados pela biota existente. Já os ensaios de caracterização, identificaram os solos que apresentaram variações em suas propriedades conforme os avanços nos níveis de concentração de óleo diesel. As amostras foram submetidas aos ensaios de compactação, resistência à compressão e adensamento. As avaliações das relações entre densidade e resistência demonstraram que as deformações em função do avanço do tempo, provocam comportamentos distintos para cada solo. Este estudo baseou-se em evidências, que de forma objetiva apontam riscos à integridade das edificações e de quem as habita, demonstrando que a contaminação por óleo diesel em altos níveis pode gerar comprometimento de suas fundações, incorrendo em sérios danos estruturais. Portanto, esse trabalho contribui significativamente com a melhoria do desempenho da auditoria ambiental como ferramenta de gestão, aprimorando a avaliação de impactos e riscos significativos através da implementação de análises críticas, bem como demonstrar a necessidade de melhorias nos controles operacionais de contaminação dos solos por óleo diesel.
Os bens e recursos ambientais atualmente são considerados na economia como insumo provido de utilidade e escassez. Uma vez que, com a constante degradação do meio ambiente e diminuição dos bens e recursos ambientais se torna necessário sua valoração. A valoração econômica dos recursos ambientais (VERA) é uma classificação dos bens e recursos naturais. Essa classificação tem a sua subdivisão em valor de uso e valor de não-uso. O valor de uso pode ser ainda subdividido em valor de uso direto, valor de uso indireto, e valor de opção. O valor de não-uso também é chamado de valor de existência que está dissociado do uso. Desta classificação podem-se precificar os bens e recursos ambientais através do estudo da economia especificamente à microeconomia. A microeconomia estuda a função produção e função demanda. A função produção estuda produtividade marginal e mercado de bens substitutos como custo de reposição, custo evitado, custo de controle e custo de oportunidade. A função demanda estuda mercado de bens complementares e valoração contingente. Os bens complementares estudam o método de custo de viagem e método hedônico. O objetivo deste trabalho é estudar o comportamento do método hedônico, verificando em que situações podem ser aplicadas, e qual é a relação de precificação de bens e recursos naturais que podem ser aplicadas por este método.
É iminente a possibilidade de colapso do equilíbrio ambiental do planeta. Há muitos anos já sentimos os seus efeitos e consequências do aquecimento global tendo como um dos principais contribuintes a emissão dos gases de efeitos estufa que geram grandes impactos tais como, danos a biodiversidade e sua extinção, derretimento das geleiras e aumento do nível do mar, dentre outros. E, da mesma forma causam danos à saúde humana causados pelo grande número de partículas suspensas no ar oriundas dos veículos a combustão. Sem dúvidas a cadeia logística do transporte é um dos maiores contribuidores destas emissões. O desenvolvimento de novas tecnologias, investimento e fomento nas suas implantações são ferramentas necessárias na busca pela reversão deste cenário atual de degradação ambiental. Assim sendo, este estudo objetiva verificar a viabilidade do veículo elétrico (VE) como modelo de transporte alternativo na redução dos impactos ambientais, identificando os fatores aceleradores e desaceleradores, bem como os benefícios e as dificuldades encontradas para a implementação deste modal. O presente trabalho foi desenvolvido a partir de Revisão Bibliográfica Explicativa Integrativa selecionando 13 estudos na íntegra em língua portuguesa e inglesa, atendendo ao período temporal de 2015 a 2021. Foram identificadas diferentes barreiras no processo de implantação deste veículo, tais como questões tecnológicas, de infraestrutura, cultural, econômica, governamental e até mesmo ambiental, como a necessidade de determinação de políticas que discursem sobre o descarte e destino das baterias. Essas barreiras não inviabilizam a implantação de projetos de VE, já que seus benefícios, como a notória redução de emissões de CO2 eq na atmosfera justificam os investimentos e alcançam o principal objetivo que é o ganho ambiental em escala mundial. Sugere-se o incentivado de estudos que realizem a análise das baterias utilizadas em veículos elétricos considerando seus riscos em carácter social, econômico, ambiental, de segurança e saúde em todo o seu ciclo de vida, desde a sua concepção na obtenção dos insumos e matérias-primas até o seu descarte final.
2021
O aumento exponencial da queima de combustíveis fósseis ao longo dos últimos três séculos por meio de atividades antrópicas, tem se tornado um dos principais fatores de desordens ambientais globais. Reduzir os gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera, como o gás carbônico (CO2), tem se mostrado um dos maiores desafios de organizações internacionais e autoridades científicas. Considerando o cenário emergente e inflamado acerca do debate energético, bem como o curto lapso temporal para a implementação das metas brasileiras assumidas diante do novo orçamento atmosférico global, o objetivo do trabalho é apresentar o potencial brasileiro para o desenvolvimento da técnica de sequestro, captura e armazenamento de CO2 – CCS, o que será desenvolvido a partir da demonstração da viabilidade da utilização da forte estrutura petrolífera nacional no desenvolvimento do CCS, além das considerações sobre as condições geológicas nacionais para o armazenamento. A importância ambiental dessa proposta mitigatória está associada à construção paralela de novos modelos sociais, cujo objetivo está na definição de uma estrutura industrial transitória capaz de redefinir os contornos entre a atual indústria excessivamente carbonizada e uma economia mais verde. Uma vez demonstrado referido potencial, ao lado dos respectivos objetivos internos e comerciais externos, será discutido o principal entrave para a realização em larga escala da atividade no país, a ausência de um marco regulatório da atividade.
A responsabilidade humana decorrente da emissão de gases de efeito estufa vem sendo amplamente debatida em atendimento ao princípio das responsabilidades comuns porém diferenciadas, o qual prevê a responsabilização das nações de acordo com suas contribuições históricas para o regime climático, tornando-se sinônimo de justiça social. Os esforços políticos internacionais deram origem a compromissos assumidos por diversos países na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Tendo em vista a impossibilidade de adequação dos atuais modelos de produção aos prazos estabelecidos pelo orçamento atmosférico global vigente a partir do Acordo de Paris, a tecnologia de sequestro de carbono apresenta-se como importante instrumento de transição entre uma economia carbonizada e um modelo econômico mais verde. A presente pesquisa analisou o modelo jurídico da tecnologia de captura e armazenamento de carbono (CCS) utilizado nos Estados Unidos tendo em vista que o país desenvolve a atividade há 50 anos, razão pela qual detém 14 das 28 instalações em atividade consideradas de larga escala no mundo. Paralelamente, foi analisada a legislação petrolífera brasileira, dada a experiência nacional na produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, e na técnica de recuperação avançada de petróleo (EOR) que consiste em injeção de carbono em reservatórios para liberação do petróleo residual e armazenamento do CO2. A partir de uma abordagem jurídica e da utilização de instrumentos como banco de dados da Agência Internacional de Energia, Instituto Global de CCS, relatórios oficiais obtidos junto a órgãos nacionais, além da legislação correspondente, verificou-se que a tecnologia CCS representa grande oportunidade para o Brasil em razão da tecnologia e estrutura provenientes de seus empreendimentos petrolíferos, além do potencial geológico e das bacias existentes. O desenvolvimento da atividade é capaz de aliar benefícios ambientais com geração de emprego e renda. Entretanto, a falta de legislação Federal ainda é o principal entrave no desenvolvimento da atividade, em que questões como participação da sociedade civil mediante consultas públicas, acesso à informação, monitoramento de instalações e transferência de responsabilidade são indispensáveis no estabelecimento da segurança jurídica e social capaz de atrair investimentos. Neste sentido, apresenta-se como resultado da pesquisa, de forma colaborativa, minuta de projeto de lei para regulamentação da atividade através da Política Energética como instrumento para a promoção da captura e armazenamento de carbono no Brasil.
O forte empuxo das bombas hidráulicas de refrigeração, que realizam a sucção da água, a qual é necessária para gerar na usina nuclear de Angra I vem afetando em especial as tartarugas marinhas. Para evitar a morte de diversas tartarugas sugadas, foi realizado o projeto de construção de uma barreira marítima com a finalidade de preservar a vida das tartarugas, assim, garantindo o funcionamento da usina. Contextualizar o projeto da barreira de contenção. O objetivo do presente estudo foi analisar o projeto da barreira instalada e manutenção de redes de metal (grades de carbono) tanto para proteger a usina, quanto para evitar mortes dos animais marinhos com foco principal nas tartarugas. A metodologia utilizada para análise do projeto da barreira, foi quantitativa segundo dados obtidos pelo processo judicial nº 0031063- 82.2016.4.02.5111 para a obtenção dos dados relacionados à mortalidade das tartarugas evidenciadas dentro do processo, além de paralelamente constar com a divulgação de informações sobre o ocorrido. A barreira demonstrou uma eficiência comparado a dados anteriores evitando qualquer mortalidade após sua construção, em conjunto com o projeto. Como conclusão do trabalho, a barreira demonstrou eficiência significativa comparado a dados anteriores evitando qualquer mortalidade após sua construção.
Considerando a grande produção de Resíduos da Construção Civil (RCC) em todo Brasil, bem como sua representatividade dentre as maiores indústrias geradoras de resíduos sólidos do mundo, encontramos uma dimensão inicial dos impactos socioambientais da atividade. Nesse contexto, o presente estudo visou desenvolver uma avaliação sobre a Gestão dos RCC nos Municípios de Guarujá e Praia Grande, a partir de uma análise comparativa entre os Planos de Gestão de Resíduos de Construção Civil (PGRCCs) de ambos municípios e suas conformidades à RESOLUÇÃO CONAMA 307/02. No PGRCC de Guarujá foram constatados pontos fracos e necessidade de correções quanto a definições de termos importantes, melhora de objetivos, disciplinas dos geradores e de transportadores além dos pontos de gestão, fiscalização e penalidades. Praia Grande apresentou uma falha nas definições, não definindo reciclar e reutilizar, o que é de extrema importância, pois, nem tudo se recicla e nem tudo se reutiliza. Como resultado o estudo apresenta subsídios técnicos e legais capazes de auxiliar na atualização do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos de Construção Civil do Município de Guarujá em atendimento ao que fora solicitado pela Secretaria de Meio Ambiente do município, cujo finalidade é garantir maior segurança para os munícipes e para o meio ambiente.
O presente trabalho destina-se investigar a questão da sustentabilidade em terminais portuários pela perspectiva dos impactos ambientais, sociais e financeiros. Sugere uma proposta de implantação de alternativa de energia renovável, mais especificamente, a energia eólica. Este estudo se norteia pelo seguinte questionamento: Quais são os ganhos de sustentabilidade que podem ser obtidos pela implantação de energia eólica em terminais portuários? O objetivo central é analisar os impactos da proposta de sustentabilidade a partir da substituição da energia hidrelétrica por eólica em terminais portuários na Baixada Santista. Para tanto, foi empregada uma metodologia exploratória, com abordagem qualitativa, a partir do método de estudos de multicascos, além da pesquisa bibliográfica, pesquisa documental. O instrumento de coleta de dados foi aplicado por meio da técnica da observação direta e participante em dois terminais do Porto de Santos. Os resultados apresentados tornaram evidente que há possibilidade de implantação da energia eólica em terminais no Porto de Santos, e que já vem sendo sinalizado a necessidade dessa propositura pela Autoridade Portuária. Todavia, há que se identificar empresas que apresentem competências essenciais, no que tange à instalação da estrutura, geração e transmissão de energia eólica. Os desafios são a implementação de projetos sociais e ambientais como forma de mitigação de impactos ambientais negativos pertinentes a implantação da estrutura de parque eólico em terra, o que se soma a redução de custos que gerará a ecoeficiência da proposta. Dentre os impactos, destaca-se a estrutura a ser implantada, a partir da instalação da torre aerogeradora e da adequação da transmissão em ambiente de operações portuárias, o que oferece a oportunidade de transformação de Itatinga em área de recuperação ambiental.
2019
O objetivo deste estudo foi proporcionar um olhar crítico e questionador sobre o aprimoramento da qualidade da gestão ambiental em instalações portuárias brasileiras em função do Índice de Desempenho Ambiental (IDA). Foi portanto, realizada uma análise da pesquisa descritiva com enfoque qualitativo e quantitativo em 30 portos públicos brasileiros que responderam ao questionário do IDA aplicado pela ANTAC (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) no período de 2012 a 2017. Posteriormente, tais informações obtidas na pesquisa foram comparadas com algumas das melhores práticas adotadas em diversos portos na Europa, América do Norte e Ásia. Concluímos que houve uma significativa variação do valor do IDA para os portos, sendo o pior, o porto de Porto Alegre/RS com média de 19,5 e o melhor, o porto de Itajaí/SC com média de 94,37 dentre os 30 portos avaliados. Durante este estudo, foram observadas diversas correlações paradoxais, como a ocorrência de acidentes ambientais em períodos de nota máxima do IDA, assim como, houve portos que afirmaram fornecer energia para embarcações sendo que tal fato jamais ocorreu. Conclui-se que, as avaliações do índice IDA revelaram que ele ainda tem muito a melhorar se comparado com os padrões utilizados em outros países, principalmente na questão de credibilidade das informações.
A Área de Proteção Ambiental Municipal Capivari-Monos - APAMCM é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, localizada no extremo Sul do município de São Paulo. Representa aproximadamente 25% dos 1.523,278 km² da cidade de São Paulo, com várias nascentes que contribuem para os mananciais das represas Billings e Guarapiranga, fundamentais para o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo. Diante de tais potenciais, observa-se o crescente desenvolvimento de diversas atividades econômicas na região, entre elas o ecoturismo. Sendo esta atividade comumente realizada em áreas frágeis, deve-se observar os planos de manejo que determinem limites de uso e ocupação, a fim de que a atividade ecoturística mantenha o meio ambiente em padrões que atendam tanto às expectativas dos turistas, quanto às necessidades da população hospedeira. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi de propor o uso correto da educação ambiental “não formal”, conforme preconizado pelo Programa Nacional de Educação Ambiental, como instrumento de preservação da área nas atividades de ecoturismo, modalidade trilha monitorada na APAMCM. O estudo foi realizado através de interpretação da legislação específica, acompanhamento como observador participante das atividades, aplicação de questionários e entrevistas com 56 praticantes e 8 monitores ambientais, propondo a elaboração e a aplicabilidade de um formulário prático que possa servir como ferramenta para evidenciar tal circunstância em possíveis auditorias ambientais. Observou-se que apesar de possuírem alto grau de escolaridade, o público predominante nesta modalidade considerou ter pouco (ou nenhum) conhecimento sobre a legislação e o tema. Afirmaram ter sim ocorrido educação ambiental durante as atividades, sendo esta considerada pouco impactante ao meio ambiente e tendo alta influência dos monitores ambientais. Concluiu-se, porém, que a ausência de um referencial prático pode levar a confundir a educação com interpretação ambiental e que dificulta tanto mensurar e evidenciar o nível de educação ambiental aplicada, quanto padronizar o grau de aprendizagem.
A poluição da água é perigosa para a saúde dos diversos organismos, devendo assim ser respeitados os padrões de lançamento de efluentes em corpos de água. Desta forma, a detecção de poluentes em ambientes aquáticos é de grande importância para o monitoramento da qualidade da água. A espectroscopia Raman tem sido estudada para a identificação de diferentes compostos, fornecendo os resultados em um menor tempo e por um menor custo operacional, além de não gerar resíduos. Este trabalho objetivou o estudo da aplicação de uma nova técnica para o monitoramento de compostos orgânicos e inorgânicos em amostras de água provenientes de Estações de Tratamento de Efluentes, através do emprego da espectroscopia Raman. Com isso, busca-se propiciar a implantação de melhorias no sistema de monitoramento ambiental, incentivando a adoção de programas governamentais regulares, identificando soluções para a redução da carga destes compostos para o meio ambiente. Especificamente, o objetivo foi realizar a detecção e quantificação de compostos orgânicos e inorgânicos em amostras líquidas coletadas em quatro períodos diferentes, em uma Estação de Tratamento de Efluentes, localizada na cidade de Peruíbe, litoral de São Paulo. As amostras foram coletadas em triplicatas, armazenadas em frascos de vidro âmbar sob refrigeração até o momento da análise, e filtradas em sistema a vácuo, com papel filtro de 0,45 µm para a retirada de interferentes. As análises das amostras e de padrões de referência de nitrato, fosfato dentre outros contaminantes foram realizadas num sistema Raman dispersivo portátil com excitação de 830 nm. Os espectros brutos foram calibrados, pré-processados e analisados utilizando o software Microsoft Excel. Nos espectros Raman das amostras, foram encontrados picos na região de 1050 cm-1, característicos do íon nitrato, compatível com dados previamente descritos na literatura e também com os padrões de nitrato. Picos entre 683 e 1532 cm-1 também foram encontrados, compatíveis com o padrão de fosfato. Foi possível identificar também picos nas regiões de 483 e 1111 cm-1, característicos de deformação e estiramento esquelético C-C, respectivamente, possivelmente a partir de alcanos de cadeia normal nestas amostras, descritos na literatura. Outro pico encontrado, baseado na literatura foi na região de 1310 cm-1, possivelmente ligado ao enxofre (S), derivado de deformação simétrica de S-CH3. Por fim, o pico na região de 1471 cm-1, característico de deformações CH3 e CH2, possivelmente a partir de alcanos de cadeia normal, também comparados com a literatura. Foi realizada a quantificação do íon nitrato nas amostras coletadas, através do método adição-padrão, com a preparação de padrões de referência e utilização do software Origin®. Os valores de concentração obtidos encontraram-se abaixo de 10 mg/L, limite das legislações utilizadas pela SABESP para o íon nitrato. Os resultados obtidos abrem novas perspectivas para a utilização da espectroscopia Raman em análises ambientais.
O jabuti-piranga é um quelônio terrestre encontrado tanto em vida livre nas regiões sudeste e centro oeste do Brasil, quanto em cativeiro, zoológicos e centros de pesquisa e triagem de animais silvestres (CEPTAS). Em cativeiro, o manejo adequado é importante para garantir a sanidade desses animais. Nesse sentido, o objetivo desse relatório foi o de avaliar as práticas de manejo de jabuti-piranga mantidos no CEPTAS e a sanidade desses animais. Para tanto foi aplicado um laudo técnico de perícia em bem estar animal e realizada coleta de sangue de 22 indivíduos por meio da punção da veia jugular para a determinação de parâmetros hematológicos e bioquímicos (contagem total de eritrócitos, dosagem de hemoglobina, hematócrito e cálculo dos índices hematimétricos, contagem total de leucócitos e diferencial heterofilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos, glicose, ureia, ácido úrico, aspartatoaminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina, cretatinafosfoquinase (CPK), amilase, proteínas totais e frações e ferro, a fim de avaliar a sanidade do plantel. Os resultados hematológicos e bioquímicos foram satisfatórios e semelhantes aos encontrados na literatura para jabutis em cativeiro. O laudo técnico demonstrou que o recinto se encontra em conformidade com a legislação brasileira. Sendo assim, as práticas de manejo para Chelonoidis carbonarius adotada pelos CEPTAS estão coerentes com a espécie, garantindo o bem-estar e sanidade desses animais.
Os produtos de higiene e cuidados pessoais (PCPs) são amplamente utilizados pela sociedade e os resíduos desses produtos atingem as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), sendo essa a principal via de introdução para o ambiente aquático, uma vez que estas não possuem tecnologia para reter ou degradar na totalidade essas substâncias. Os PCPs são considerados poluentes emergentes, uma vez que não possuem regulamentação na legislação vigente. Dentre os PCPs, a classe dos conservantes, tais como Metilparabeno (MP), Propilparabeno (PP) e o Butilhidroxitolueno (BHT) compreendem produtos comumente utilizados em formulações de xampus, condicionadores, filtro solar e creme dental, devido a eficiente ação antimicrobiana e antioxidante. No presente estudo foi utilizado o ouriço-do-mar Echinometra lucunter para avaliação de toxicidade aguda (taxa de fertilização) e crônica (desenvolvimento embriolarval) do MP, PP e BHT, de acordo com o protocolo da USEPA e a norma técnica NBR 15350. Além disso, com os resultados obtidos nos ensaios, as substâncias podem ser classificadas quanto à toxicidade no âmbito da diretiva 93/67/CEE da União Européia. Nos ensaios para avaliação de toxicidade aguda, o BHT apresentou o menor valor de CI50 (38,14 mg/L), enquanto MP e PP apresentaram valores de 74,47 e 73,20 mg/L, respectivamente, sendo as três substâncias classificadas como “nocivas”. Nos ensaios para avaliação de toxicidade crônica, o BHT novamente apresentou maior toxicidade de CI50 (6,85 mg/L) sendo este classificado como “tóxico”, enquanto MP e PP apresentaram valores de 20,09 e 15,57 mg/L, respectivamente, sendo estes classificados como “nocivos”. Os resultados obtidos contribuem para um melhor entendimento do potencial tóxico das substâncias estudadas sobre o sucesso reprodutivo de invertebrado marinho e podem subsidiar avaliações de risco e decisões com relação à continuidade do uso desses conservantes. As empresas de produtos de higiene e cosméticos tem a necessidade de desenvolver moléculas menos perigosas ao ambiente e buscarem avaliar os efeitos das substâncias.
O desenvolvimento da pesca esportiva pode proporcionar benefícios sociais e econômicos às populações locais, contudo gera impactos negativos ao meio ambiente se não houver gestão efetiva da atividade. A presente pesquisa teve como objetivo analisar as contribuições do conhecimento ecológico local para o ordenamento da pesca esportiva e conservação de robalos na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra Do Una, Peruíbe/SP. Foram entrevistados 27 pescadores artesanais, maiores de 18 anos, envolvidos com a pesca esportiva, utilizando questionários semiestruturados contendo questões sobre dados socioeconômicos, atividade pesqueira, conhecimento ecológico local e as relações com a pesca esportiva, especialmente sobre prestação de serviços e aspectos referentes a conservação dos robalos. A pesca esportiva tem se tornado uma alternativa de renda para as famílias de pescadores artesanais da Barra do Una, os quais aplicam seus conhecimentos sobre os recursos pesqueiros nesta nova prática. A pesca esportiva na RDS Barra do Una tem potencialidades como atividade de lazer e geração de renda através das atividades associadas ao turismo de pesca. Essa característica é bastante representativa tanto para os turistas que visitam a região quanto para os próprios moradores locais. Porém, fica clara a necessidade de ordenamento desta atividade para o alcance do seu potencial de conservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico local. Assim, foram propostas medidas de ordenamento com base no conhecimento ecológico local dos pescadores artesanais, na legislação vigente e informações técnicas já existentes para o setor.
Embora a água potável seja amplamente utilizada, a sua preservação, constitui ação de sustentabilidade. Nesse sentido, o aproveitamento de água da chuva é um sistema simples e eficaz, para contribuir e evitar o desperdício. Em nosso país existe uma Normativa para o aproveitamento de água de chuva, para fins não potáveis, que é a norma ABNT 15.527:2007. O Brasil costuma passar por crises hídricas, indicando a necessidade de implantar políticas públicas para o reaproveitamento de água com objetivo de conscientizar sobre o uso racional dos recursos hídricos. Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo analisar a viabilidade técnica da implantação do sistema de captação de água pluvial em um dos Viveiros do Orquidário Municipal de Santos. No desenvolvimento desta pesquisa foi apurado o cálculo do reservatório de armazenamento, que atende à demanda do local utilizada atualmente. A análise comparativa dos métodos de dimensionamento, demonstrou diferença entre os valores. Além disso, do ponto de vista da qualidade da água captada, foi apurado um grau de satisfação bom. Todos os parâmetros analisados atenderam a norma ABNT 15.527:2007. As análises desses fatos justificam o presente trabalho, que busca trazer alternativa para mitigar o desperdício dos recursos naturais. As análises do volume do reservatório e qualidade da água captada, projetaram resultados que indicaram que a implantação do sistema de captação de águas pluviais no Orquidário Municipal de Santos, certamente seria viável.
Embora a água potável seja amplamente utilizada, a sua preservação, constitui ação de sustentabilidade. Nesse sentido, o aproveitamento de água da chuva é um sistema simples e eficaz, para contribuir e evitar o desperdício. Em nosso país existe uma Normativa para o aproveitamento de água de chuva, para fins não potáveis, que é a norma ABNT 15.527:2007. O Brasil costuma passar por crises hídricas, indicando a necessidade de implantar políticas públicas para o reaproveitamento de água com objetivo de conscientizar sobre o uso racional dos recursos hídricos. Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo analisar a viabilidade técnica da implantação do sistema de captação de água pluvial em um dos Viveiros do Orquidário Municipal de Santos. No desenvolvimento desta pesquisa foi apurado o cálculo do reservatório de armazenamento, que atende à demanda do local utilizada atualmente. A análise comparativa dos métodos de dimensionamento, demonstrou diferença entre os valores. Além disso, do ponto de vista da qualidade da água captada, foi apurado um grau de satisfação bom. Todos os parâmetros analisados atenderam a norma ABNT 15.527:2007. As análises desses fatos justificam o presente trabalho, que busca trazer alternativa para mitigar o desperdício dos recursos naturais. As análises do volume do reservatório e qualidade da água captada, projetaram resultados que indicaram que a implantação do sistema de captação de águas pluviais no Orquidário Municipal de Santos, certamente seria viável.
Este trabalho teve como objetivo avaliar a situação da arborização no bairro do Gonzaga, inventariando e mapeando as árvores e arbustos, além de determinar aspectos como saúde e porte das espécies existentes. Também foram registrados locais viáveis para a realização de novos plantios, a partir da indicação da largura das calçadas. Foi desenvolvida uma análise crítica sobre todo o Marco Regulatório Arbóreo – Constitucional, Federal, Estadual e Municipal - a fim de questionar os desafios e as oportunidades existentes na Gestão Arbórea da Cidade de Santos, contrastando situação fática e situação de direito.As informações foram obtidas através de levantamento in loco em 47 ruas e avenidas do bairro, as quais foram posteriormente transferidas para o Mapa de Geoprocessamento QGIS 3.14, a partir do qual foram confeccionados gráficos e tabelas. Foram registradas 944 árvores e arbustos, além de e 776 locais viáveis para plantios, totalizando 1711 árvores. As ruas mais arborizadas, proporcionalmente a sua extensão são: Pernambuco (52), Djalma Dutra (17), Luiz de Faria (79), Alagoas (34), Galeão Carvalhal (35) e Pasteur (44). As ruas menos arborizadas, em proporção ao seu comprimento, são: Goytacazes (zero), Marcilio Dias (zero), Quintino de Bocayuva (um), José Caballero (três) e Goiás (17). Foram identificadas 50 espécies, sendo as mais abundantes: Sapindus saponaria (177), Inga laurina (149), Handroanthus crhysotrichus (104), Calophyllum brasiliense (83) e Lagerstroemia indica (74). Quanto à procedência, 71% são nativas, 27% são exóticas e 2% não foi possível identificar. Em relação à saúde, 80% delas apresentam algum tipo de patologia, algumas delas de forma extrema e 20% estão sadias. Quanto ao estágio de desenvolvimento, 69% são adultas, 28% são jovens e 3% mudas. Esse estudo verificou a existência de falhas, bem como de descumprimento da legislação analisada. A desconexão entre a realidade fática e a realidade jurídica arbórea na cidade de Santos resulta no comprometimento da saúde e estabilidade das espécies. Grandes extensões de calçadas sem árvores, guias rebaixadas para entrada de automóveis com comprimento além do permitido por lei, levantamento da sarjeta para a entrada de automóveis, ao invés do rebaixamento das guias, podas severas, infraestrutura urbana não respeitando a arborização, concretagem de raízes, placas de publicidade pregadas nas árvores, construção de muretas envolta das covas, manejo da vegetação sem autorização do órgão responsável. Finalmente, o trabalho se propõe apontar novos caminhos, a fim de contribuir com a gestão arbórea da cidade de Santos e a criação do Plano Diretor de Arborização.
O conhecimento sobre a assembleia de peixes, no tocante a organização dos componentes ictiofaunísticos, constitui um instrumento para auxiliar na gestão adequada desses recursos naturais. Dentro de uma perspectiva mais ampla, tais informações, podem auxiliar no ordenamento integrado dos sistemas estuarinos, sendo imprescindíveis para subsidiar as ações de manejo pesqueiro baseado no ecossistema. O presente estudo tem como objetivo descrever a composição da comunidade de peixes no alto estuário de Santos-São Vicente – SP - Brasil, através de descritores de diversidade e suas variações espaciais e temporais, bem como verificar suas relações com os aspectos abióticos. Foram totalizadas 24 campanhas de amostragens mensais entre março de 2013 e fevereiro de 2015. As amostragens foram realizadas em quatro pontos distintos no entorno da Ilha dos Bagres, utilizando rede de espera de 150m de comprimento e malha 70mm, durante um período de oito horas. Buscando avaliar as diferenças sazonais e espaciais foram realizadas ANOVAs “two-way” onde os fatores foram os pontos de coleta e as quatro estações do ano entre os valores diversidade, riqueza e abundância. A ictiofauna foi composta por 83 espécies, 32 famílias, 20 ordens e duas classes, sendo a elevada riqueza observada relacionada às características oceanográficas do estado de São Paulo. A comunidade apresentou elevada dominância numérica, sendo que as 05 espécies mais representativas corresponderam a 52,2% do total. A maior parte das espécies apresenta ampla distribuição ao longo do Oceano Atlântico ocidental, possuem hábitos alimentares carnívoros (generalistas), ampla capacidade de osmorregulação e valor comercial. Existem espécies em diferentes graus de ameaça à conservação, além de um número representativo de espécies com dados deficientes e uma espécie invasora. Foram observadas variações sazonais da riqueza, abundância e diversidade, sendo as duas últimas com variações também espaciais. Dentre os parâmetros ambientais analisados, apenas a salinidade foi diferenciada espaço-sazonalmente, sendo também identificada alterações espaciais para a profundidade e sazonais para a temperatura. Os parâmetros físico-químicos corresponderam 56,93% da distribuição das espécies registradas. Devido a grande quantidade de estressores na área de estudo, sugere-se o monitoramento constante, visando ações de conservação e manejo, pois a região apresenta elevada importância ecológica, econômica e social para todo o litoral centro do estado de São Paulo.
O propósito deste estudo foi analisar os impactos positivos e negativos da atividade petrolífera no município de Ilhabela, com ênfase no recebimento e utilização de royalties de petróleo e gás pelo município. Para tanto foram verificados dados censitários sobre população total, população urbana, população rural, IDHM, IDHMs Renda, Educação e Longevidade, percentual de pobreza e níveis de escolaridade do Ensino Fundamental ao Superior entre os anos de 1991 a 2010, analisando o Ibeb com alcance de metas. Foram discorridos dados sobre densidade demográfica entre os anos de 1991 a 2018, bem como segurança pública entre os anos de 2001 a 2018. Todavia, foram analisados dados sobre arrecadação de royalties entre os anos de 2009 a 2018, grau de dependência na receita do município. O método de pesquisa utilizado foi transversal, mediante a técnica exploratória, com coleta de dados de Organizações Governamentais do IBGE, SEADE e não-Governamentais (ONGs) Atlas Brasil. Os resultados obtidos demonstraram que a chegada da exploração do petróleo em Ilhabela representou desenvolvimento ao município ao longo da década com melhoria nos índices socioeconômicos e educacionais. O município não apresentou sintomas da maldição dos recursos naturais, porém, foi observada a dependência orçamentária da verba petrolífera, que no ano de 2018 representou 58% do orçamento total do município. Foram apresentados os acidentes ambientais ocorridos no arquipélago entre 1977 a 2007. A expectativa para a próxima década de 2020-2030 aponta para a melhoria dos índices socioeconômicos, como segurança, educação e renda, tornando o desenvolvimento municipal mais célere. Finalmente, destaca-se a importância da gestão das verbas advindas da atividade petrolífera, concepção de políticas públicas que preparem a cidade para a fase pós-petróleo e gás.
A poluição marinha é uma preocupação mundial. Estudos têm demonstrado a influência humana na degradação ambiental através do descarte inadequado de fármacos e drogas ilícitas em corpos d'água após a descarga de efluentes tratados e não tratados. A cafeína é classificada como um contaminante emergente e está presente em vários fármacos, bebidas e alimentos. Após o consumo, a cafeína é introduzida pelo esgoto no mar através dos emissários submarinos. Vários estudos mostraram que a cafeína é um indicador de contaminação antrópica, pois, quando encontrada, pode acompanhar patogênicos para a biodiversidade marinha e até para a saúde dos banhistas. Os objetivos deste estudo foram: (i) detectar e quantificar as concentrações de cafeína em águas superficiais marinhas da Baía de Santos, SP; (ii) verificar se as concentrações encontradas na Baía de Santos são capazes de causar efeito tóxico aos organismos marinhos de acordo com estudos pretéritos; (iii) analisar o perigo ambiental (HQ) com as concentrações de cafeína encontradas; (iv) verificar a relação entre a contaminação por cafeína e a balneabilidade em zonas costeiras; (v) propor cafeína como marcador químico de contaminação de efluentes domésticos na Baía de Santos, SP; (vi) propor alternativas para tratamento de esgoto. Para a determinação da cafeína foram coletadas amostras em 14 pontos da Baía de Santos. As amostras de água foram submetidas à extração em fase sólida. Em seguida, as análises foram realizadas por Cromatografia Líquida acoplada ao Espectrômetro de Massa. Uma revisão da literatura foi realizada sobre os efeitos crônicos e agudos em organismos aquáticos após a exposição à cafeína. Os resultados de classificação das praias foram verificados de acordo com os critérios de monitoramento das Agências Ambientais de cada localidade. Durante a análise, verificou-se que a maior concentração encontrada na área amostral foi 1322 ng.L-1, a menor concentração encontrada foi de 260 ng.L-1. Foi observado quociente de perigo ambiental (HQ>10) para organismos marinhos com as concentrações encontradas na baía de Santos. Foi constatada a balneabilidade própria das praias estudadas, apesar das concentrações de cafeína presentes. Finalmente, foi constatado que existem alternativas para o tratamento de esgoto mais eficientes para contaminantes emergentes como a cafeína, além daqueles atualmente utilizados. Demonstrou-se, portanto, que há uma real urgência de investimentos públicos para melhorar o tratamento de esgoto, a fim de eliminar ou reduzir a ocorrência e os efeitos desse contaminante no meio aquático.
A crescente urbanização sem planejamento e a destruição do ambiente natural tem proporcionado a ocupação de áreas urbanas por animais silvestres, assim verifica-se um crescente número de acidentes em áreas urbanas. Compreender os padrões de distribuição da avifauna em um ecossistema urbano é importante para o planejamento sustentável das cidades, assim como para a conservação dos recursos naturais. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a variação sazonal e espacial (relacionada aos níveis de urbanização e vegetação) dos resgates de aves no município de Praia Grande – SP, Brasil, com base nos relatórios de ocorrências com fauna da guarda civil municipal, do período de 2014 a 2017. Foram avaliadas a composição, riqueza, abundância e similaridade entre os anos, estações climáticas e áreas definidas com base na urbanização e vegetação. A similaridade da composição foi avaliada pelo índice de Jaccard e a riqueza através de curvas de rarefação. A abundância foi verificada quanto a normalidade (teste de Shapiro-Wilk), posteriormente avaliada pelo teste de Kruska-Wallis e pelo teste de Mann-Whitney pareado e corrigido por Bonferroni. A similaridade da abundância foi verificada através de análises de cluster exploratórias, e com base na categorização das áreas também foi realizada uma análise de componentes principais. Foram realizadas regressões entre o número de espécies resgatadas com o número de habitantes e tamanho de cada área categorizada. Foram identificadas 83 espécies, pertencentes a 18 ordens e 32 famílias, totalizando 401 exemplares resgatados, sendo as mais abundantes A. cunicularia (n=40), seguida por P. sulphuratus (n=38), S. caerulescens (n=32), D. viduata (n=27), V. chilensis (n=24), C. plancus (n=18), F. sparverius (n=14) e N. griseus (n=13), que juntas representaram 51% do total observado. A maior parte das espécies observadas são onívoras, porém quando consideramos a abundância verificamos a dominância de espécies insetívoras, sendo também observadas espécies com diferentes graus de ameaça a conservação. A riqueza foi homogênea, porém a similaridade evidenciou heterogeneidade. Não houve variação sazonal significativa, porém entre os anos e áreas foram verificadas diferenças. A maioria das espécies não apresentou relação com as áreas definidas, sendo evidenciada a correlação entre número de resgates com o número de habitantes e com o tamanho das áreas. Também foi observado que áreas urbanizadas com presença de vegetação são responsáveis pela maior parte dos incidentes. Assim, sugerimos que campanhas de conscientização ambiental sejam realizadas principalmente nos bairros com alta densidade populacional e presença de remanescentes florestais.
As ocupações desconformes são submetidas a vulnerabilidades no consumo da água, no saneamento, higiene, uso e ocupação do solo que impactam e transformam o ambiente urbano. A falta de legitimação fundiária não confere segurança jurídica e inviabiliza investimentos para mudança no cenário socioambiental. O presente estudo realizado no ano de 2018, teve por objetivo analisar a qualidade do corpo d’água Rio Lenheiros no município de Santos/SP, antes e após a passagem pelo Núcleo Vulnerável Pantanal e com contribuições do sistema de drenagem urbana, em período de alta e baixa pluviosidade. O estudo avaliou a taxa de crescimento médio anual do núcleo e do município de Santos/SP, que extrapolou 6% ao ano, superior a outras partes do mundo, assim como, nas áreas regulares de Santos com 0,26% ao ano e 1,28% ao ano na Região Metropolitana da Baixada Santista, assim como a prevalência de doenças ambientais. A maioria das amostras analisadas encontravam-se em desacordo com os limites estabelecidos pela resolução CONAMA 357/05 e 430/11. As ações de redução de perdas e coleta de esgotos representam uma alternativa viável se alavancadas pela atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo para mudança no cenário em 2018.
2024
Portos são consideráveis infraestruturas de transporte, fundamentais para o comércio e logística nacional e internacional. No Brasil o aumento no volume de movimentação de cargas, impulsionado pelo agronegócio e o atendimento às exportações e importações, fomenta o crescimento do setor. O Porto de Santos é destaque no cenário portuário brasilieiro por seu posicionamento estratégico e representatividade comercial. O nível de produtividade do complexo portuário santista atrai investimentos para a melhoria operacional e expansão de suas atividades. Por estar instalado numa área estuarina de relevante sensibilidade ambiental e permeado por uma grande concentração urbana, o Porto de Santos enfrenta o desafio de manter uma agenda socioambiental propositiva na relação porto-cidade. Dentro desse cenário, o objetivo desse trabalho foi analisar a gestão socioambiental do Porto de Santos a partir dos programas e projetos desenvolvidos pela administração portuária e empresas portuárias. A metodologia aplicada no estudo foi bibliográfica e documental com levantamento e estudo de documentos oficiais, legislações, instruções normativas, planos de gestão socioambiental e materiais publicitários de domínio público. Os resultados apresentaram as iniciativas socioambientais propostas nas agendas ambientais (locais e institucionais) da Autoridade Portuária de Santos, os programas socioambientais executados pelas empresas concessionárias e permissionárias e o desempenho da infrastrutura portuária santista na linha socioambiental do Índice de Desempenho Ambiental (IDA). Para analisar os resultados, o trabalho avaliou a aderência entre os programas socioambientais executados pelas empresas e as agendas ambientais oficiais da Administração Portuária.
A geração de resíduos sólidos (RS) tem aumentado de forma significativa em todo o mundo, principalmente devido ao crescimento populacional e ao aumento da demanda por bens de consumo. No Brasil, grande parte desses resíduos não recebe tratamento adequado, favorecendo a proliferação de pragas, a liberação de odores desagradáveis, a emissão de gases poluentes, a intensificação do efeito estufa, a contaminação do solo e da água, e a poluição visual. Como consequência, ocorre um desperdício de energia e do valor dos materiais descartados. Assim, existem duas problemáticas a serem analisadas: o aumento dos resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados e a grande demanda por energia sustentável. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi analisar o aumento e o tipo de RSU gerado na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS); verificar se a tecnologia de tratamento de RSU por incineração pode ser uma alternativa capaz de atender às demandas da região e às necessidades de manutenção dos biomas locais, assim como analisar os impactos ambientais, sociais e econômicos. A base de análise deste trabalho foi o cenário brasileiro, especificamente a Baixada Santista, pertencente ao estado de São Paulo. Para a realização deste trabalho, utilizou-se o método de pesquisa bibliográfica, que permitiu o levantamento bibliográfico e documental disponível na literatura. Observouse que o processo de incineração cumpre com os requisitos ambientais e pode ser incorporado a um sistema abrangente de gestão de resíduos sólidos urbanos, incluindo a reciclagem de resíduos e a criação de novos empregos. Vale destacar que Unidades de Recuperação Energética de RSU (URE) receberam da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) a Licença de Instalação (LI) na região Sudeste. Dessa forma, serão necessários novos estudos para gerar subsídios para a tomada de decisão, promovendo discussões para a formulação de políticas públicas voltadas à conservação e à educação ambiental.
2022
No presente trabalho foi realizado um levantamento das concentrações dos HPAs prioritários definidos pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (U.S. EPA) e União Europeia (E.U.), mais especificamente contaminantes tóxicos derivados do petróleo sendo estes, benzo[a]pireno e o somatório dos 4 HPAs: benz[a]anthraceno, Criseno, benzo[b]fluoranteno e benzo[a]pireno, em tecidos de peixes não defumados provenientes de cultivo e de pesca comercial e artesanal. Esses valores foram relacionados com período temporal, localidade (país e região) os hábitos de vida e alimentar das espécies e os outros tipos de ambientes a fim de verificar se as concentrações encontradas estariam de acordo com os limites estabelecidos pelas duas agências regulatórias acima mencionadas. Os dados adquiridos no estudo foram obtidos por meio de uma revisão sistemática, aplicando a metodologia PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyzes). Foram selecionados 41 arquivos para esta revisão. Os resultados da dissertação demonstraram que os países onde foram encontrados mais estudos, no período de 1982 a 2020, foram a China, Nigéria e Iran; as espécies que apresentaram maiores concentrações de HPAs foram Pseudomonas elongatus, Netuma bilineata, Johnius bela ngerii; provavelmete associado aos hábitos de vida, pois as maiores concentrações de HPAs foram encontradas nos organismos representantes do demersal e pelágico, e os tipos de ambiente mais estudados foram o continental e o marinho. E por fim, a maior parte dos trabalhos avaliados na presente revisão apresentaram concentrações do benzo[a]pireno e da somatória dos 4 HPAs em tecido de peixes abaixo dos limites definidos pela Legislação Europeia para consumo humano.
Os pneus inservíveis com sua dificuldade de compactação, descarte irregular através dos anos, a complexidade da sua composição que impossibilita seu reaproveitamento para produção de uma nova unidade, estabeleceram-no como um dos maiores problemas de ordem ambiental e sanitária, já que, sua destinação final constitui um problema de dimensões globais. Este trabalho compara os resultados obtidos pelos programas de tratamento e destinação dados aos pneus inservíveis em quatro países, sendo, Brasil, Portugal, Espanha e França. Os programas determinam ações específicas e detalhadas para o tratamento e destinação dos pneus inservíveis com objetivo de reduzir o impacto ambiental. A pesquisa realizada após as análises de conteúdo, considerou os resultados alcançados neste último biênio nos quatro países citados como positivos, pois, foi possível constatar que a eficiência dos programas na coleta e retirada de unidades inservíveis tem se mostrado superior a geração e descarte de novas unidades inservíveis. Com este quadro e mantendo a relação entre o total de unidades novas produzidas e o índice geral de performance de coleta das unidades inservíveis, o passivo ambiental existente anterior a criação destes programas e das atividades envolvidas, entrará em processo de reversão a médio prazo.
Este estudo teve como objetivo central desenvolver uma proposta de gestão ambiental integrada de resíduos proveniente dos insumos utilizados em processos industriais em plantas/unidades de processos químicos que façam utilização de filtragem industrial para separação de líquidos e/ou sólidos, propondo soluções voltadas ao transporte, armazenamento, manuseio, utilização, separação e plano de manejo, como também um sistema que represente o estado da arte da logística reversa no Brasil, inicialmente aplicada aos insumos filtrantes e extensiva a todo o seguimento de filtragem industrial. A aplicação e elaboração de um PELR – Plano estratégico de logística reversa com base no sistema de gestão ambiental é ponto fundamental para o sucesso desta estratégia voltada ao retorno à origem fabricante dos insumos onde os participantes tem responsabilidade estendida em todas as etapas até o consumidor final. A eficiência dos custos envolvidos é primordial na aplicação de uma estratégia de logística reversa, onde este estudo viabiliza as formas de sua absorção e cumprimento de responsabilidades sócio ambientais
O descarte irregular de resíduos sólidos é um dos grandes problemas da atual sociedade, principalmente porque os oceanos e praias são os seus destinos finais. Pellets são grânulos de plástico que constituem a principal forma com que as resinas plásticas são produzidas e comercializadas, servindo de matéria prima na indústria de transformação. Produzidos em Cubatão e transportados através do Porto de Santos, os pellets plásticos alcançam as praias de Santos pela movimentação da maré no canal do estuário do porto. Vários estudos que buscam analisar e quantificar pellets plásticos nas praias em todo o mundo e alguns tiveram como objeto praias da Baía de Santos, que estão relacionadas com o maior porto da América Latina e o maior polo petroquímico do estado de São Paulo, onde, desde 1958, produz-se grânulos de polietileno de baixa densidade. Assim, este estudo tem por objetivo determinar a atual distribuição espacial de pellets plásticos na praia de Santos, tanto ao longo do eixo longitudinal da praia como ao longo da linha das marés, avaliar a quantidade da entrada desse material e caracterizá-los quimicamente e morfologicamente. Para determinar a distribuição espacial de pellets plásticos, foram coletados 108 elementos amostrais de área quadrada de 1,0 m de lado retirado do sedimento com 10 cm de profundidade, totalizando 0,1m3 . A amostragem ocorreu no verão de 2020, entre os dias 08/01 a 21/03. No total foram coletados 11.979 pellets e observou-se a maior densidade numérica próximo a entrada do Porto de Santos onde ocorre o transporte ativo destes microplásticos (trecho 9 = 2337 pellets/0,1 m3 e trecho 8 = 1951 pellets/0,1 m3 ). Os pellets também foram encontrados em abundância na região central da praia devido à hidrodinâmica e às correntes marinhas que influenciam a baía (trecho 5 = 2379 pellets/0,1 m3 ). Ao analisar a densidade numérica de pellets por zonas, a zona “linha do deixa”, onde ocorre a deposição de material trazido pelas correntes marinhas, apresentou a maior abundância (9423 pellets/0,1m3 ). Cerca de 54% do pellets foram compostos por Polietileno de Baixa Densidade; 65% tinham a forma cilíndrica achatado; o tamanho médio foi cerca de 2,1 a 2,5mm de altura e 3,6 a 4,0mm de diâmetro; 66% tinham coloração amarelo claro e a maior parte dos pellets apresentou-se relativamente preservado. Os resultados apontam que a zona deposicional de pellets ocorra entre os canais 3 e 4 e Ponta da Praia.
2020
A gestão de resíduos é hoje um dos maiores desafios enfrentados pelos municípios; oferecer destino final, ambientalmente adequado, para os resíduos gerados por sua população, é tarefa vital nesse processo. Em todo o mundo, um grande número de países vem apresentando alternativas e soluções à disposição em aterros sanitários, trazendo assim respostas rápidas, modernas e com resultados satisfatórios sob as óticas ambiental, social e econômica. No Brasil, apesar dos esforços e iniciativas adotados, ainda não se evidenciam resultados satisfatórios. A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, é o grande marco legal no país, mas apenas a existência de normas legais não garante os impactos esperados, as ações de participação, envolvimento e integração dos governos, das entidades e da coletividade são essenciais para que se obtenham os efeitos desejados. A cidade de Santos/SP, além dos desafios com vistas à redução da geração de resíduos e atendimento à PNRS, enfrenta a questão do esgotamento de seu aterro sanitário, e, por este motivo, há necessidade de se criarem alternativas para a redução do volume de resíduos sólidos enviado para aterro, que representa parcela significativa de resíduos orgânicos, que devem ter destinação mais adequada, em conformidade com a legislação. Este trabalho propõe oferecer alternativa ambiental, econômica e social justa e adequada aos resíduos orgânicos produzidos pela realização de feiras-livres em Santos, por meio de processo de compostagem descentralizada, com início para o ano de 2021, o que resultará na redução de 4.900 toneladas de resíduos enviadas ao aterro por ano, e também auxiliará o poder público municipal com a disponibilização de ação estratégica em educação ambiental. De forma a oferecer uma visão mais ágil dos procedimentos, o plano foi detalhado em um Sumário Executivo.
Os robalos são muito importantes para pesca artesanal, esportiva e na aquicultura comercial, entretanto poucas informações científicas sobre a exploração deste recurso são disponíveis. O objetivo deste estudo foi analisar alguns aspectos da reprodução de Centropomus parallelus capturados pela atividade pesqueira da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Barra do Una (Peruíbe/SP). Foram analisadas as gônadas de robalos capturados pela pesca artesanal e esportiva, em relação ao sexo, os estádios de maturação gonadal e período reprodutivo através do Índice Gonadossomático. Dos 350 exemplares, 75% foram capturados pela pesca artesanal e 25% pela pesca esportiva, com uma biomassa total de 258 kg. A maioria foi de indivíduos fêmeas, com maior captura no mês de janeiro. Os 123 machos foram mais frequentes em fevereiro e 52 imaturos ocorreram principalmente em agosto. A amplitude de variação do comprimento total foi de 13 a 65 cm, com predomínio da classe 41 a 47 cm para os três grupos. Foram amostrados 52 indivíduos no estádio imaturo, 123 em maturação, 162 maduros e 13 fêmeas no estádio esgotado. Machos com gônadas em maturação foram observados principalmente, nos meses de julho e agosto, enquanto maduros ocorreram no período entre dezembro e março. As fêmeas maduras seguiram o padrão dos machos e em maturação ocorreram durante todos os meses, com maior frequência em agosto e setembro. Os pontos de pesca com maior representatividade de captura, maiores valores de comprimento médio e indivíduos maduros foram localizados na região estuarina, principalmente na Ilha do Ameixal. O período reprodutivo se estendeu por aproximadamente seis meses, de novembro a abril, com maior incidência de indivíduos maduros nos meses de verão com maiores índices de pluviosidade. A RDS Barra do Una é um ecossistema relevante para o ciclo de vida do C. parallelus, em especial, para a reprodução da espécie. Os resultados obtidos sobre os períodos de desova, áreas de reprodução e os pontos de pesca utilizados sugerem ações de gestão voltadas ao monitoramento e fiscalização mais intensos, nos períodos de desova para assegurar a conservação dos robalos. Para a pesca esportiva, cotas, tamanhos mínimos e máximos de captura podem ser mais restritivos, na área da RDS, do que os permitidos pela legislação federal.
O presente trabalho se refere a um estudo que analisa o desenvolvimento de determinadas atividades voltadas à conscientização ambiental dos alunos da Educação Infantil, já que está é a primeira etapa da educação escolar. A Educação Ambiental (EA) representa um desafio na construção de valores, conservação da biodiversidade e integração do homem como protagonista na mudança do cenário da degradação ambiental. As práticas de EA nas escolas estão fundamentadas na construção de sociedades justas e sustentáveis, nos valores da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade, sustentabilidade e educação como direito de todos e todas. (MEDEIROS et al, 2011). O estudo mostrou através da prática e da observação realizada por crianças de 4 a 5 anos formas de preservação e de sustentabilidade. Dessa forma puderam ser exploradas as questões ambientais através da ação e observação, manipulação, experimentação, descobertas, compartilhamento de informações e mudança de hábitos. Foi trabalhado também o cuidado com as plantas, animais e o meio que cerca a criança, nos espaços escolares e fora dele. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, feita por meio da análise documental, que buscou encontrar pontos convergentes entre a referida norma e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (Brasil. CNE, 2012), utilizando (SIRAJ-BLATCHFORD, et al, 2010) O trabalho tem como objetivo iniciar a EA em crianças da educação infantil, a partir de atividades lúdicas, a fim de estimular a percepção dos alunos do que é o meio ambiente, e despertar e a consciência crítica assim como a responsabilidade do futuro adulto sobre suas ações perante o planeta. Como resultados foram confeccionados dois painéis, onde um continha a mata atlântica saudável, com diversas árvores, flores, animais, insetos e vegetação e o outro representava a degradação ambiental causada pelas ações humanas. Foi trabalhada a pintura com as crianças três vezes por semana para que elas obtivessem prazer com a arte, onde foi feita a proposta para que elas mostrassem através da mesma, as utilizações de cores para diferenciar as situações relacionadas à degradação ambiental e conservação da biodiversidade e do meio ambiente. Em relação ao lixo reciclado, foi realizada uma oficina, baseada nas visitas nos jardins da escola, onde foi separado o material (embalagem de ovos, papelão do rolo de papel higiênico e de papel toalha), e organizadas entre as vinte crianças, divididas em cinco grupos com quatro alunos cada, atividades que reproduzissem os animais e plantas que elas entraram em contato e que estão ameaçados de extinção. As práticas ambientais é uma peça importante nessa nova maneira de se pensar em educação ambiental, todas as mudanças no que diz respeito ao meio ambiente, com certeza mudam nossa visão sobre o verdadeiro sentido da palavra conservação e preservação ambiental. Ficou evidenciado que as crianças puderam extrapolar os muros da escola fazendo da comunidade do entorno um elemento fundamental e participativo na construção da cidadania para todos. Essas atividades auxiliaram na construção de valores, especialmente o de responsabilidade com o bem comum, valorização do seu bairro e, por extensão a sua cidade, promovidas através da mediação lúdica e artística e da construção de valores relacionados à conservação do ambiente e da biodiversidade que as cerca
Os efluentes oriundos das estações de tratamento de esgoto são geralmente despejados em rios, estuários e oceanos. Com o aumento da população humana, esse volume tende a ser cada vez maior, fazendo-se necessário estudos que avaliem os impactos causados nos ecossistemas aquáticos bem como em sua biota. Efluentes tratados contêm carga de matéria orgânica e componentes sintéticos, que apresentam uma gama de xenobióticos que ocasionam efeitos negativos sobre a biodiversidade aquática. Os testes ecotoxicológicos são utilizados para avaliar os impactos em ambientes aquáticos, sendo o microcrustáceo Daphnia similis e o peixe Poecilia vivipara modelos biológicos amplamente empregados nesses estudos. Nesse sentido, este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do despejo de efluente doméstico tratado nestes dois organismos quando expostos à diferentes gradientes de concentração de efluente tratado (100%, 75%, 50%, 25%, 0%), visando avaliar os efeitos em sua reprodução, sobrevivência e alterações histopatológicas no tecido branquial das larvas de peixe. Para os ensaios com o microcrustáceo D. similis, adotamos as diluições (100%, 75%, 50%, 25%, 10% e 0%), para no teste agudo avaliar a imobilidade e mortalidade enquanto no teste crônico avaliar a reprodução do número de neonatas por fêmea. A exposição ao efluente tratado nas diluições 100% e 75% ocasional mortalidade dos organismos e promoveu alterações nos tecidos branquiais das larvas de P. vivipara em todas as diluições testadas. Os dados de CE50 para níveis de toxicidade nos ensaios com os organismos Daphnia spp. caracterizaram-se como moderadamente tóxica e, quando diluído (10%, 25% e 50%), o efluente tratado não afetou a sobrevivência desses organismos e ocasionou acréscimo na taxa de reprodução. Desta maneira, reforçamos que são necessárias mais pesquisas conduzidas tanto in situ quanto testes laboratoriais, visando compreender de forma holística as consequências que o despejo do efluente tratado neste ponto do Rio Itapanhaú e em seu entorno.
A Serra do Mar em Cubatão, São Paulo, é cortada por duas estradas de rodagem, Anchieta e Imigrantes, e uma ferrovia, ligando Jundiaí a Santos. À construção da ferrovia Santos-Jundiaí (1867) e Anchieta (1947) acarretou invasão da Serra do Mar e, assim, trazem, até os dias atuais, problemas graves à biodiversidade. O Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de Cubatão desenvolveram o projeto de recuperação socioambiental da Serra do Mar que explicita retirada das pessoas dos bairros-Cota e reflorestamento da área. Em face a isso, o objetivo da pesquisa foi analisar a aplicação da Gestão do Conhecimento e Economia Sustentável sobre o projeto de recuperação socioambiental da Serra do Mar para verificar o alcance das metas do Projeto, e propor pontos inovadores para eficácia da sua gestão. Realizou-se o estado da arte do tema, e usou-se à pesquisa exploratória qualitativa e técnica com os moradores dos bairros-cota. Os resultados apresentaram que as metas do Projeto estão sendo alcançadas e mantém-se em execução contínua, social está praticamente resolvida e ambiental em fase regenerativa de sua cobertura vegetal. Conclui-se que há necessidade contínua de monitoramento do processo de recuperação socioambiental da área, evitando, assim, assentamentos irregulares que iriam comprometer a recuperação ambiental: vegetal, mananciais e qualidade da água captada no rio Cubatão.
O presente estudo objetivou avaliar a existência de efeito agregativo e de diversidade de duas ilhas costeiras paulistas (Ilhas das Cabras e do Arvoredo, Guarujá-SP) sobre a comunidade de peixes demersais, considerando as variações sazonais e a relação com as variáveis abióticas. As amostragens foram realizadas trimestralmente durante um período climático completo, com a utilização de bote camaroeiro com tangones, equipado com duas redes de arrasto de fundo. Os dados foram avaliados através de análises: de variância bifatoriais (Tukey a posteriori), similaridade de Jaccard, de agrupamento (Cluster), componentes principais e de correspondência canônica. Foram capturados 9.726 indivíduos de 47 espécies. Perciformes, Anguilliformes, Clupeiformes, Pleuronectiformes e Scombriformes foram as ordens que apresentaram as maiores representatividades no número de famílias e Scianidae, Ariidae, Engraulidae e Haemulidae as famílias com maior número de espécies. As espécies mais abundantes do presente estudo demonstraram elevada similaridade com o observado em vários estudos de comunidades de peixes em estuários tropicais e temperados. Apenas 14 espécies ocorreram em todas as estações climáticas, sendo o verão e a primavera os períodos com maior riqueza exclusiva e o outono com maior abundância. A riqueza observada no presente estudo não apresentou variações espaciais, porém evidenciou alterações sazonais. A composição foi diferenciada, com baixa similaridade sazonal e espacial, além da presença de espécies exclusivas. A densidade e a diversidade não apresentaram variações sazonais ou espaciais, porém foram maiores próximo as ilhas. O ciclo hidrológico explicou grande parte da relação entre os fatores bióticos e abióticos. O efeito de agregação e de alterações sobre a diversidade de peixes demersais não foi observado com o distanciamento das ilhas e entre os períodos climáticos, demonstrando uma ictiofauna demersal bem adaptada as condições ambientais regionais.
O presente estudo teve como objetivo analisar a prferencia alimentar do baiacu-deespinhos, Chilomycterus spinosus (Diodontidae) e do baiacu arara, Lagocephalus laevigatus (Tetraodontidae) no litoral do estado de São Paulo, com enfoque nas variações sazonais, sexuais e reprodutivas. Os exemplares foram capturados mensalmente durante um período anual, pela frota de parelhas do estado de São Paulo. Foram avaliadas as relações peso-comprimento, gonadossomática, hepatossomática e índice gonadal, assim como verificada a distribuição das frequências dos estádios de macro maturação gonadal entre machos e fêmeas. A proporção sexual foi avaliada pelo teste do qui-quadrado e a similaridade da composição dos itens alimentares pelo índice de Jaccard. A abundância numérica dos itens foi testada quanto a normalidade (teste de Shapiro-Wilk), e posteriormente avaliada pelos testes de Kruska-Wallis e Mann-Whitney pareado e corrigido por Bonferroni. Também foi avaliada a sobreposição alimentar através do índice de Pianka. Foram analisados 733 exemplares de C. spinosus e 511 exemplares de L. laevigatus, sendo observados 109 itens alimentares para C. spinosus e 73 para L. laevigatus. C. spinosus aprsentou dieta malacofágica, desova única (anual) e populacional dispersa, formando haréns de fêmeas. L. laevigatus demonstrou dieta carnívora com tendência a ictiofagia e malacofagia, equivalência sexual e desova aparentemente múltipla e dispersa. Foram observadas diferenças significativas na predileção dos itens alimentares para ambas as espécies em relação aos períodos climáticos, sexo, classes de comprimento e estádios de desenvolvimento gonadal, embora muitas vezes a similaridade da composição dos itens e a sobreposição alimentar tenham evidenciado altos valores. As diferenças na preferência alimentar das duas espécies estão associadas a fatores intrínsecos, que podem ser resumidos na disponibilidade de recursos alimentares ou nas necessidades nutricionais específicas em relação ao período reprodutivo, além do tamanho da abertura bucal. Ambas as espécies não apresentaram estratégias definidas para alimentação em relação a reprodução.
O que nossos ex-alunos dizem sobre nós
“Sem sombra de dúvidas, a Unisanta é um ótimo local para desenvolver pesquisas e também para se conectar com a indústria. Afinal, eu trabalho em uma operadora de petróleo, e a junção das necessidades da indústria com o desenvolvimento acadêmico é uma força da Unisanta. ”

“Eu tive a Unisanta ao meu lado durante todo o percurso, sempre me ajudando, junto com os laboratórios, que têm diversos projetos e profissionais aptos que me auxiliaram em todo o processo. Recomendo a todos este programa da universidade. ”

“Minha pesquisa só foi possível graças ao apoio de todo o corpo docente da Universidade Santa Cecília, a quem rendo minhas homenagens. Foi uma honra ser aluno desta instituição e, sempre que possível, retornarei às cadeiras acadêmicas para continuar aprendendo com os professores e colegas de curso. ”

“A Unisanta me ajudou muito. Os professores foram fantásticos, e aprendi muitas coisas aqui. Só tenho a agradecer muito pelo conhecimento que eu pude adquirir. ”

“Sou realmente muito grato à Unisanta, à minha orientadora e a todos que contribuíram para a riqueza deste momento. Estou muito feliz. ”

Estágio de Docência
O estágio de docência no mestrado da Universidade Santa Cecilia permite aos alunos vivenciarem a prática docente no ensino superior, auxiliando em disciplinas da graduação sob supervisão. Essa experiência desenvolve habilidades pedagógicas e aprimora a comunicação, preparando-os para a carreira acadêmica.
Manual de Estágio Supervisionado de Docência dos Cursos de Pós-Graduação stricto sensu UNISANTA
Requerimento à Comissão de Estágio Supervisionado de Docência para Realização de Estágio Supervisionado de Docência do Curso de Pós-Graduação stricto sensu
Plano de Atividades do Estágio Supervisionado de Docência
Relatório de Estágio Supervisionado de Docência
Regimento
Área de Concentração:
Auditoria Ambiental, Portos e Governança
Título Concedido:
Auditoria Ambiental e Conservação
O Programa de Pós-Graduação de Auditoria Ambiental (PPGAUDB) engloba uma Área de Concentração: Auditoria Ambiental e Conservação. Para a obtenção do Título de Mestre, o aluno deverá perfazer um total de 50 créditos, sendo 30 créditos obtidos em disciplinas e publicações e 20 créditos relativos à aprovação da apresentação da dissertação de mestrado.
Além disso, o aluno de mestrado necessita de aprovação na Avaliação da Qualificação de Mestrado e no Exame de Suficiência em Língua Estrangeira.
O Exame de Suficiência em Língua Estrangeira deverá ser feito no primeiro ano de matrícula no PPGAUDB. São obrigatórias as disciplinas de formação básica. A complementação dos créditos é realizada pelo aluno, que deverá selecionar com seu orientador, entre as disciplinas eletivas oferecidas, aquelas que estejam diretamente relacionadas ao seu tema de dissertação.
Links
PERIODICOS UNISANTA
EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA PÓS-GRADUAÇÃO (PROEXT-PG)
EVENTOS
BENEFÍCIOS
CERTIFICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS
As certificações intermediárias são oferecidas para todos os alunos dos últimos anos dos cursos de graduação e para profissionais já graduados que pretendam melhorar seus currículos. São disciplinas de conclusão rápida, em média com duração de 60 dias, presencial remoto e presencial. Temos disponíveis várias disciplinas distribuídas nas mais diversas áreas do conhecimento.
Cada disciplina fornecerá um Certificado de Conclusão com a carga horária e aproveitamento do aluno. As disciplinas de extensão universitária são oferecidas no início de cada trimestre do ano: fevereiro, maio, agosto e outubro e com carga horária de 15, 30 ou 45 horas/aula, correspondendo a 1, 2 ou 3 créditos. O valor de cada crédito é R$ 400,00.
Formato presencial/ híbrido – Todas as aulas e atividades são realizadas de forma presencial, mas podem ser assistidas on-line (ao vivo), o que proporciona aos estudantes flexibilidade e interatividade. Essa modalidade permite que os alunos acessem conteúdo de alta qualidade de qualquer lugar e participem de debates e troca de ideias em tempo real, com orientação e feedback imediatos dos professores.
Relação de Disciplinas (Hibridas/Presenciais) oferecidas – 2025
DOCUMENTOS
Manual de Teses e Dissertações
Manual Relatório Técnico
Defesa - Formulário para Solicitação de Agendamento de Defesa de Pós-Graduação stricto sensu
Defesa - Roteiro para agendamento da apresentação final de mestrado
Defesa - Termo de Homologação de Convidado Externo
Qualificação - Formulário para Solicitação de Agendamento de Exame de Qualificação de Pós-Graduação stricto sensu
Qualificação - Roteiro para agendamento de exame qualificação de mestrado
CONTATO
Universidade Santa Cecília – UNISANTA
Cesário Mota, 08 – Bloco F, Sala F-81– 8º Andar
CEP 11045-040
Tel: (13) 3202-7100 ramal 7259
E-mail: strictosensu@unisanta.br