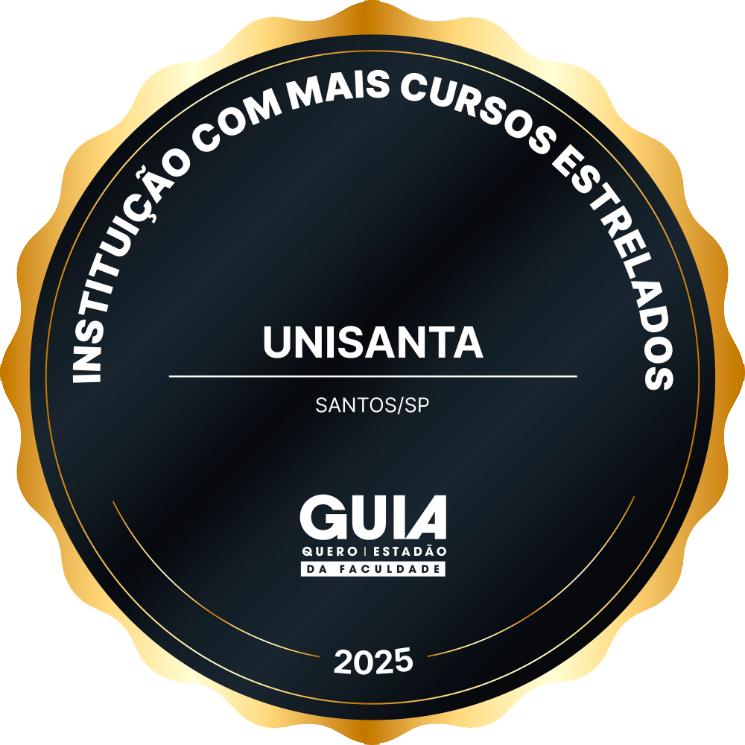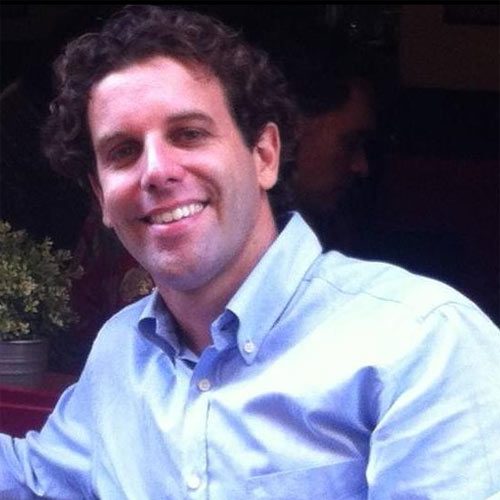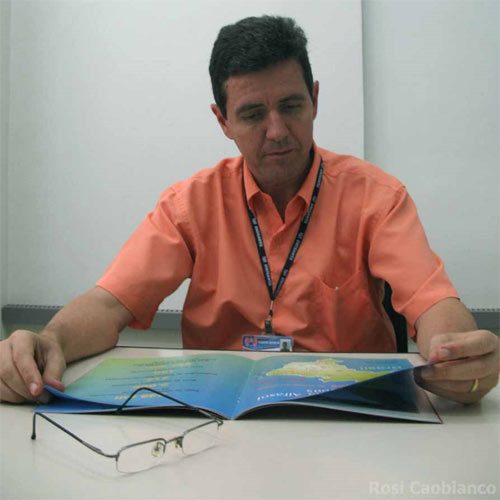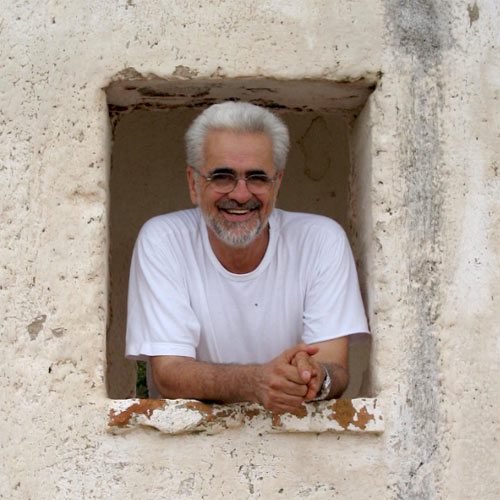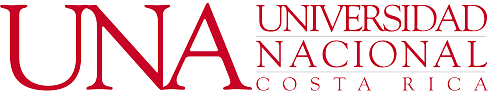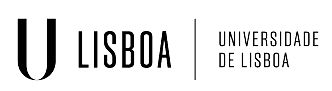Sustentabilidade de Ecossistemas Costeiros e Marinhos
Sobre o Programa
O Programa de Pós-graduação em Sustentabilidade de Ecossistemas Costeiros e Marinhos, Mestrado em Ecologia, integra o planejamento e a execução de projetos nos ambientes marinhos e costeiros, visando à conservação, ao manejo, à avaliação e ao monitoramento dos ecossistemas. Além dos aspectos ecológicos e biológicos, o Programa se preocupa com as dinâmicas sociais, culturais e econômicas que influenciam a paisagem costeira e as populações humanas. Capacitando profissionais por meio de pesquisas inovadoras e ações práticas, o Programa desempenha um papel crucial na proteção desses ecossistemas, preparando lideranças comprometidas com a sustentabilidade e com a educação ambiental.
Formato presencial/ híbrido – Todas as aulas e atividades são realizadas de forma presencial, mas podem ser assistidas on-line (ao vivo), o que proporciona aos estudantes flexibilidade e interatividade. Essa modalidade permite que os alunos acessem conteúdo de alta qualidade de qualquer lugar e participem de debates e troca de ideias em tempo real, com orientação e feedback imediatos dos professores.
Programa
O Mestrado em Ecologia capacita profissionais para contribuir com a sustentabilidade dos ecossistemas costeiros e marinhos, adotando uma abordagem interdisciplinar e prática. Durante o curso, os alunos têm a oportunidade de realizar pesquisas científicas avançadas sobre temas essenciais, como a conservação da biodiversidade, a gestão sustentável de recursos naturais, os impactos das atividades humanas e as mudanças ambientais globais nesses ecossistemas. O Mestre em Ecologia é preparado para atuar tanto na academia, incluindo o Ensino Superior, quanto em empresas públicas e privadas voltadas para a pesquisa ambiental. Esse profissional está apto a trabalhar em consultoria ambiental, desenvolver políticas públicas e regulamentações focadas em práticas sustentáveis, além de colaborar com organizações não governamentais. Assim, estará preparado para enfrentar os desafios contemporâneos e futuros relacionados à preservação e gestão dos ecossistemas costeiros e marinhos.
Objetivos
O Programa tem como objetivo formar profissionais capacitados para conduzir e desenvolver pesquisas ambientais de forma integrada, com foco na conservação, manejo, avaliação e monitoramento de ecossistemas e sua biodiversidade. Esses profissionais serão preparados para adotar uma abordagem multi e interdisciplinar, com uma visão ampla e integrada dos sistemas naturais, assegurando o rigor científico e a ética em todas as etapas do processo investigativo.
Público-Alvo
Graduados nas áreas de Ciências Biológicas, Exatas ou Humanas, além de profissionais e estudantes que desejam desenvolver pesquisas voltadas para questões socioambientais. O programa se destina àqueles que buscam uma abordagem metodológica integrada, orientada pelo desenvolvimento científico e tecnológico, com o objetivo de promover a sustentabilidade das atividades humanas em áreas costeiras e marinhas.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
MATRÍCULAS ANTECIPADAS: 25% de desconto na 1ª. parcela (matrícula). Promoção por tempo limitado, sujeita a encerramento sem aviso prévio.
5% de DESCONTO ATÉ O DIA 5 DE CADA MÊS PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES.
DESCONTOS ESPECIAIS
– 20% nas mensalidades para ex-alunos formados de graduação e pós-graduação da Unisanta.
-13% de desconto para antecipação do pagamento total das mensalidades, cumulativos com desconto de pontualidade e outro desconto, caso o aluno possua.
-Descontos para empresas conveniadas, grupo de amigos e outros descontos.
– 50% de desconto para o corpo docente da Unisanta.
*Obs.: Os descontos especiais não são cumulativos, caso o aluno já possua outro benefício.
Sustentabilidade de Ecossistemas Costeiros e Marinhos
Presencial
Mensalidades por
Avise-me!
Este curso está com as matrículas encerradas no momento. Preencha seus dados que entraremos em contato quando as matrículas estiverem abertas.
Condições de Pagamento
MATRÍCULAS ANTECIPADAS: 25% de desconto na 1ª. parcela (matrícula). Promoção por tempo limitado, sujeita a encerramento sem aviso prévio.
5% de DESCONTO ATÉ O DIA 5 DE CADA MÊS PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES.
DESCONTOS ESPECIAIS
- 20% nas mensalidades para ex-alunos formados de graduação e pós-graduação da Unisanta.
- 13% de desconto para antecipação do pagamento total das mensalidades, cumulativos com desconto de pontualidade e outro desconto, caso o aluno possua.
- Descontos para empresas conveniadas, grupo de amigos e outros descontos.
- 50% de desconto para o corpo docente da Unisanta.
*Obs.: Os descontos especiais não são cumulativos, caso o aluno já possua outro benefício.
Conheça o nosso corpo docente

Prof. Lais Samira Correia Nunes
Ciências Biológicas (Biologia Vegetal - Ecologia de Ecossistemas)
Áreas de Concentração
Sustentabilidade de Ecossistemas Costeiros e Marinhos
A Área de Concentração em Sustentabilidade de Ecossistemas Costeiros e Marinhos abrange linhas de pesquisa e projetos voltados à conservação e ao uso sustentável da biodiversidade nesses ecossistemas. Com foco tanto na pesquisa básica quanto aplicada, o programa visa formar profissionais capacitados para enfrentar os desafios relacionados à preservação da biodiversidade e à sustentabilidade dos ambientes costeiros e marinhos. Inserido na grande área de Biodiversidade, o programa integra diversas disciplinas, reforçando a importância do desenvolvimento científico e tecnológico para a gestão responsável desses ecossistemas, em diferentes contextos regionais e globais.
Matriz Curricular
Conceitos e importância da redação científica. Bases de dados online, meios de divulgação e busca de trabalhos científicos. Índices de qualidade de periódicos. Estrutura básica de um trabalho científico. Conceitos e variantes de cada item de um trabalho científico: Título, Resumo, Introdução, Materiais e metodologia, Resultados, Discussões, Conclusões e Referências Bibliográficas. Práticas de redação de artigo científico.
Alves, Rubem. Filosofia da ciência. São Paulo: Ars Poética, 1996.
Andrade, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2005.
Cervo, A. L. et al. Metodologia científica. São Paulo: Makron Books, 1996.
Chizzotti, A. A pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 1995.
Cruz Neto, O. O Trabalho de Campo como Descoberta e Criação. In: Minayo, M. C. S. Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. 9ª ed. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 51–66.
Deslandes, S. F. A construção do Projeto de Pesquisa. In: Minayo, M. C. S. Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. 9ª ed. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 31–50.
Domingues, Muricy. Bases Metodológicas para o Trabalho Científico. Bauru: Editora da Universidade Sagrado Coração, 2003.
Faria, Ana. Manual Prático para Elaboração de Monografias. São Paulo: Vozes, 2007.
Gil, A. C. Projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1994.
Gomes, R. A Análise de Dados em Pesquisa Qualitativa. In: Minayo, M. C. S. Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. 9ª ed. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 67–80.
Haguette, T. M. F. Metodologias qualitativas na sociologia. 6ª ed. Petrópolis: Vozes, 2000.
Lakatos, E. M.; Marconi, M. A. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2004.
Minayo, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 4ª ed. São Paulo–Rio de Janeiro: Hucitec/Abrasco, 1996.
Montgomery, Eduard. Escrevendo trabalhos de conclusão de curso. Rio de Janeiro: Alta Books, 2005.
ABNT NBR 6023. Informação e Documentação: Referências – Elaboração. Rio de Janeiro, agosto de 2002.
Severino, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 1993.
Solomon, D. V. Como fazer uma monografia. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
Realização de trabalhos experimentais e teóricos ligados a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado do aluno. Elaboração do texto final de dissertação ou tese.
Textos ligados ao projeto de cada aluno.
Introdução ao estudo da histologia. Etiopatogenia dos processos adaptativos, degenerativos e progressivos celulares. Biomarcadores histológicos: conceitos gerais e aplicabilidade. Respostas teciduais gerais aos xenobióticos. Acúmulo, biotransformação e excreção de xenobióticos em organismos aquáticos. Efeitos sistêmicos do estresse por xenobióticos. Análises qualitativas, quantitativas e estereologia aplicada à histopatologia.
1) Compreender aspectos etiológicos e conceituais sobre a relação entre os organismos aquáticos, o meio ambiente e suas respostas orgânicas com ênfase na patologia;
2) Compreender e discutir as respostas orgânicas frente aos compostos químicos;
3) Elencar e discutir aspectos histológicos e histopatológicos relevantes ao reconhecimento das alterações celulares e teciduais nos indivíduos frente aos xenobióticos;
4) Apresentar e discutir artigos científicos atuais sobre os diferentes temas.
Digiulio, R.; Hinton, D. E. The Toxicology of Fishes. CRC Press, USA, 2008. 1098 p.
Schlenk, D.; Benson, W. H. Target Organ Toxicity in Marine and Freshwater Teleosts. Taylor & Francis, USA, 2005. 416 p.
Junqueira, L. C., & Carneiro, J. Histologia básica. In Histologia básica (512 p.), 2017.
Raškovic, B., & Poleksic, V. Fish histopathology as biomarker in ecotoxicology. Trends in Fisheries and Aquatic Animal Health, 27, 155–181, 2017.
Conceitos básicos em ecologia e estrutura de bacias hidrográficas nas planícies costeiras.
A bacia hidrográfica como unidade de análise e gestão ambiental.
Dinâmica espacial, temporal e de processos ecológicos em bacias costeiras: teoria do contínuo fluvial, gradientes ambientes e dinâmicas de maré/fluxo de água, padrões de distribuição de espécies.
Bacias costeiras do estado de São Paulo: presença da Serra do Mar, aspectos fisiográficos e ecológicos.
Ecossistemas aquáticos, características das bacias costeiras e tipos de águas.
Impactos antrópicos em bacias costeiras, com ênfase na eutrofização.
Noções de recuperação e monitoramento: métodos de análise e monitoramento limnológico, e de integridade biótica.
Apresentar e discutir os aspectos da ecologia e estrutura de bacias hidrográficas costeiras, com ênfase nas bacias costeiras do estado de São Paulo que, devido à presença da Serra do Mar, possuem diferentes dinâmicas espaciais, características fisiográficas e ecológicas, assim como diferentes impactos ambientais devido à ocupação urbana e atividades humanas.
Esteves, F. A. Fundamentos de Limnologia. 3ª ed., Editora Interciência: Rio de Janeiro, 2011.
Moraes, M. E. B. & Lorandi, R. Métodos e técnicas de pesquisa em bacias hidrográficas. Editus: Ilhéus, 2016.
Schiavetti, A. & Camargo, A. F. M. Conceitos de bacias hidrográficas: teorias e aplicações. Editus: Ilhéus, 2002.
Tundisi, J. G. & Tundisi, M. Limnologia. Oficina de Textos: São Paulo, 2008.
1. Introdução e termos
2. Características de um bom delineamento amostral.
3. Amostragem simples ao acaso.
4. Amostragem sistemática
5. Amostragem aleatória estratificada
6. Estimadores tipo razão
7. Estimadores tipo regressão
8. Amostragem em multi-estágios
9. Amostragem por conglomerados
10. Amostragem adaptativa
Conscientizar o estudante de que ANTES de ir para o campo coletar os dados de sua pesquisa, ele deve considerar todas as possibilidades para uma obter uma amostra mais representativa possível acerca do fenômeno a ser estudado. Para dados mal coletados não existem análises estatísticas satisfatórias. O núcleo deste curso é a Teoria da Amostragem. O texto básico será o capítulo 8 de KREBS (1999).
Cochran, W. G. Sampling Techniques. John Wiley & Sons Publications, 1977. 428 p.
Krebs, C. J. Ecological Methodology. 2ª ed. Addison Wesley Longman, Menlo Park, USA, 1999. Capítulo 8.
Stuart, A. Basic Ideas of Scientific Sampling. Griffin, Londres, 1962.
Thompson, W. L., White, G. C. & Gowan, C. Monitoring Vertebrate Populations. Academic Press, San Diego, 1998.
Williams, B. K., Nichols, J. D. & Conroy, M. J. Analysis and Management of Animal Populations: Modeling, Estimation and Decision Making. Academic Press, San Diego, 2001.
Barnett, V. Elements of Sampling Theory. The English Universities Press Ltd., London, 1974.
Bicudo, C. E. & Bicudo, D. C. (eds.). Amostragem em Limnologia. Rima, São Carlos, Brasil, 2004.
FAO. Guidelines for the Routine Collection of Capture Fishery Data. FAO Fisheries Technical Paper, 382. Roma, Itália, 1999.
Gulland, J. A. Manual de Métodos de Muestreo y Estadísticos para la Biología Pesquera. Manuales de la FAO de Ciencias Pesqueras no. 3 FRs/M3. FAO, Roma, 1966.
Programa
1. Tipos de modelos – capítulo 1 do Haddon
1.1. Modelos determinísticos de tempo contínuo
1.2. Modelos determinísticos de tempo discreto
1.3. Modelos estocásticos de tempo contínuo
1.4. Modelos estocásticos de tempo discreto
1.5. Modelos baseados em equações diferenciais funcionais
1.6. Modelos Bayesianos
2. Modelos determinísticos de tempo contínuo – capítulo 3 do Haddon
2.1. O modelo linear de aumento populacional
2.2. O modelo exponencial de Malthus
2.3. O modelo logístico de Verhuslt
2.4. O modelo de Gompertz
2.5. Outros modelos
2.6. Aplicações em pescarias
3. Modelos determinísticos de tempo discreto – capítulo 3 do Haddon
3.1. O modelo exponencial de Malthus
3.2. O modelo logístico de Verhulst
3.3. O modelo de Gompertz
3.4. Aplicações em pescarias
4. Modelos estruturados por idade de tempo discreto– capítulo 3 do Haddon
4.1. Revisão de álgebra matricial
4.2. Os conceitos de auto valor e auto vetor
4.3. O Teorema de Perron-Frobenius
4.4. Matrizes de Leslie e Lefkovitch
4.5. Aplicações em pescarias
Akçakaya, H. R., Burgman, M. A. & Ginzburg, L. R. Applied Population Ecology: Principles and Computer Exercises Using Ramas@. Sinauer, Sunderland, 1999. 285 p.
Bartlet, M. S. Stochastic Population Models in Ecology and Epidemiology. Methuen’s Monographs on Applied Probability and Statistics. Methuen, London, 1960. 90 p.
Bassanezi, R. C. & Ferreira Jr., W. C. Equações Diferenciais com Aplicações. Harbra, São Paulo, Brasil, 1988. 572 p.
Begon, M., Mortimer, M. & Thompson, D. J. Population Ecology. Blackwell Science, Oxford, 1996. 247 p.
Bolker, B. Ecological Models and Data in R. Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2008. 396 p.
Brown, D. & Rothery, P. Models in Biology: Mathematics, Statistics and Computing. Wiley, Chichester, UK, 1993. 688 p.
Case, T. J. An Illustrated Guide to Theoretical Ecology. Oxford University Press, NY, USA, 2000. 449 p.
Clark, C. W. Bioeconomics Modelling and Fisheries Management. Wiley, NY, 1986. 291 p.
Clark, C. W. Mathematical Bioeconomics. Wiley, NY, 1990. 386 p.
Donovan, T. M. & Welden, C. Spreadsheet Exercises in Ecology and Evolution. Sinauer Associates, Inc., Sunderland, MA, USA, 2002. 432 p.
Edelstein-Keshet, L. Mathematical Models in Biology. McGraw-Hill, Mexico, 1988. 585 p.
Gillman, M. & Hails, R. An Introduction to Ecological Modelling. Blackwell Science, Oxford, UK, 1997. 202 p.
Gotelli, N. J. A Primer of Ecology. 3ª ed., Sinauer, Sunderland, USA, 2001. 265 p.
Haddon, M. Modelling and Quantitative Methods in Fisheries. 2ª ed., Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, USA, 2011. 406 p.
Hilborn, R. & Walters, C. J. Quantitative Fisheries Stock Assessment: Choice, Dynamics, and Uncertainty. Chapman & Hall, London, 1992. 570 p.
Kot, M. Elements of Mathematical Ecology. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2001.
Murray, J. D. Mathematical Biology. Springer-Verlag, Berlin, RFA, 1989. 770 p.
Newman, E. I. Applied Ecology. Blackwell Science, Oxford, 1993. 317 p.
Ogle, D. H. Introductory Fisheries Analyses with R. CRC Press, Boca Raton, USA, 2016. 304 p.
Pastor, J. Mathematical Ecology of Populations and Ecosystems. Wiley-Blackwell, NY, 2008.
Pielou, E. C. Mathematical Ecology. Wiley, N.Y., 1977. 286 p.
Quinn II, T. J. & Deriso, R. B. Quantitative Fish Dynamics. Oxford University Press, Oxford, 1999. 542 p.
Renshaw, E. Modelling Biological Populations in Space and Time. Cambridge University Press, Cambridge, 1991. 401 p.
Roughgarden, J. Primer of Ecological Theory. Prentice Hall, Upper Saddle River, USA, 1998. 456 p.
Vandermeer, J. Elementary Mathematical Ecology. Wiley, N.Y., USA, 1981. 294 p.
Formação e tipos de estuários; Ambientes aquáticos estuarinos: estuários de rios, canais estuarinos e lagoas costeiras; Importantes fatores físicos e químicos da água e do sedimento; Gradientes ambientais e heterogeneidade espaço-temporal; Processos biológicos em áreas estuarinas: produtividade primária, rede alimentar e detritos; Algumas comunidades estuarinas e suas adaptações à salinidade: populações planctônicas, vegetação (macrófitas aquáticas e mangue), fauna bentônica, etc; Principais ecossistemas estuarinos: manguezais e marismas; Eutrofização e outros impactos antrópicos na ecologia dos estuários; Noções de monitoramento e recuperação de ambientes aquáticos estuarinos.
Apresentar e discutir os aspectos da estrutura (habitats e zonação) e os processos ecológicos em estuários, com ênfase em seus diferentes tipos de ambientes aquáticos (estuários de rios, canais estuarinos e lagoas costeiras) e ecossistemas associados (manguezais e marismas).
Miranda, L. B., Castro, B. M. & Kjerfve, B. Princípios de Oceanografia Física de Estuários. EDUSP, São Paulo, 2002. 414 p.
Tundisi, J. G. & Tundisi, M. Estuários e Lagoas Costeiras. In: Tundisi, J. G. & Tundisi, M. Limnologia. Oficina de Textos, São Paulo, 2008. 631 p.
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Atlas dos Manguezais do Brasil. ICMBio, Brasília, 2018. 176 p.
Thomaz, S. M. & Esteves, F. A. A gênese dos ecossistemas lacustres. Gênese dos lagos. Lagos Associados à Linha Costeira. Lagoas Costeiras. In: Esteves, F. A. Fundamentos de Limnologia, 3ª ed., Editora Interciência, Rio de Janeiro, 2011.
Conceitos básicos em Probabilidade e Estatística. Introdução à probabilidade: preliminares, variáveis aleatórias unidimensionais e distribuições de probabilidade. Introdução ao resumo de dados: medidas descritivas e estatística gráfica. Introdução à estatística inferencial: estimação pontual e intervalar, testes de hipóteses paramétricos e não-paramétricos. Introdução à modelagem estatística em Ecologia.
Gotelli, N. J., Ellison, A. M. & Baccaro, F. B. (Trad.). Princípios de Estatística em Ecologia. Artmed, Porto Alegre, RS, 2011.
Magalhães, M. N. & Lima, A. C. P. Noções de Probabilidade e Estatística. 5ª ed., EDUSP, São Paulo, SP, 2002.
Morettin, P. A. & Bussab, W. O. Estatística Básica. 8ª ed., Saraiva, São Paulo, SP, 2013.
Zar, J. H. Biostatistical Analysis. 5ª ed., Pearson, New Jersey, USA, 2010.
Sokal, R. R. & Rohlf, F. J. Biometry: The Principles and Practice of Statistics in Biological Research. 4ª ed., W. H. Freeman, New York, USA, 2012.
Rius Díaz, F., Barón López, F. J. & Oishi, J. Bioestatística. Cengage Learning, São Paulo, SP, 2007.
Revisão de conceitos centrais (modelos probabilísticos e inferência estatística). Modelagem Estatística aplicada à Ecologia (Parte 1): modelos lineares clássicos para análise de dados biométricos; Modelagem Estatística aplicada à Ecologia (Parte 2): modelos lineares generalizados para medidas de abundância e diversidade. Modelagem Estatística aplicada à Ecologia (Parte 3): introdução ao modelo misto.
Gotelli, N. J., Ellison, A. M. & Baccaro, F. B. (Trad.). Princípios de Estatística em Ecologia. Artmed, Porto Alegre, RS, 2011.
Magalhães, M. N. & Lima, A. C. P. Noções de Probabilidade e Estatística. 5ª ed., EDUSP, São Paulo, SP, 2002.
Morettin, P. A. & Bussab, W. O. Estatística Básica. 8ª ed., Saraiva, São Paulo, SP, 2013.
Zar, J. H. Biostatistical Analysis. 5ª ed., Pearson, New Jersey, USA, 2010.
Sokal, R. R. & Rohlf, F. J. Biometry: The Principles and Practice of Statistics in Biological Research. 4ª ed., W. H. Freeman, New York, USA, 2012.
Rius Díaz, F., Barón López, F. J. & Oishi, J. Bioestatística. Cengage Learning, São Paulo, SP, 2007.
A disciplina visa fornecer uma visão crítica quanto aos métodos os tradicionalmente empregados para o monitoramento de contaminantes/poluentes orgânicos, explorando suas vantagens e desvantagens especialmente em relação aos limites de quantificação e aos interferentes das técnicas. A disciplina também pretende explorar novas metodologias que vêm sendo desenvolvidas nos últimos anos para a detecção e quantificação de contaminantes/poluentes orgânicos, publicadas em artigos científicos. Serão realizadas aulas teóricas que contemplarão amplamente a discussão de artigos científicos e aulas práticas a fim de se consolidar o conteúdo teórico discutido em sala de aula.
APHA; AWWA; WEF. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. 22ª ed., APHA, Washington, USA, 2012.
Cânt Pînzaru, S., Pavel, I., Leopold, N. & Kiefer, W. (2004). Identification and characterization of pharmaceuticals using Raman and surface-enhanced Raman scattering. Journal of Raman Spectroscopy, 35, 338–346, 2004.
Halvorson, R. A. & Vikesland, P. J. (2010). Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) for environmental analyses. Environmental Science & Technology, 44(20), 7749-7755, 2010.
Holler, F. J. Princípios de Análise Instrumental, 6ª ed., Bookman, Porto Alegre, Brasil, 2009.
Kudelski, A. Analytical applications of Raman spectroscopy. Talanta, 76(1), 1-8, 2008.
Murphy, T., Lucht, S., Schmidt, H. & Kronfeldt, H. Surface-enhanced Raman scattering (SERS) system for continuous measurements of chemicals in sea-water. Journal of Raman Spectroscopy, 31, 943–948, 2000.
Zimoch, I. & Stolarczyk, A. Raman Spectroscopy in estimating THM formation potential in waterpipe network. Environment Protection Engineering, 36(1), 2010.
A disciplina "Peixes Recifais: Ecologia e Exploração por ROVs" abordará os princípios fundamentais da ecologia dos peixes em ambientes recifais, bem como as técnicas de exploração e estudo utilizando ROVs (Veículos Operados Remotamente). A disciplina combina aspectos teóricos e práticos para proporcionar uma compreensão abrangente da vida marinha nos recifes, destacando a importância dos peixes como componentes-chave desses ecossistemas. Os tópicos incluem:
1. Introdução à Ecologia de Peixes Recifais:
- Características dos ecossistemas recifais.
- Importância ecológica dos peixes nos recifes.
- Interações ecológicas entre peixes e outros organismos recifais.
2. Métodos de Estudo em Ecologia de Peixes:
- Abordagens tradicionais de pesquisa em ecologia de peixes.
- Tecnologias não invasivas e sua aplicação no estudo de peixes recifais.
- Princípios e operação de ROVs para exploração submarina.
3. Comportamento e Ecologia dos Peixes Recifais:
- Estratégias de alimentação e nicho ecológico.
- Migrações e padrões de movimentação.
- Reprodução e ciclo de vida dos peixes recifais.
4. Inter-relações Ecológicas:
- Competição intraespecífica e interespecífica.
- Simbiose e mutualismo com outros organismos recifais.
- Impactos ambientais e antropogênicos nos ecossistemas recifais.
5. Exploração e Análise de Dados Obtidos por ROVs:
- Planejamento de expedições ROV.
- Coleta, processamento e interpretação de dados visuais e acústicos.
- Aplicações práticas e estudos de caso.
Ao final da disciplina, os estudantes estarão aptos a compreender a complexidade da ecologia dos peixes recifais, utilizar tecnologias não invasivas para a exploração desses ambientes e analisar criticamente os dados obtidos por meio de ROVs para contribuir com a conservação e gestão sustentável dos ecossistemas marinhos.
Esta disciplina conceitua, numa perspectiva histórico-filosófica, estudos referentes à Universidade e à Extensão Universitária e a sua função acadêmica e social. Aborda concepções, a legislação e as tendências atuais da Extensão Universitária na Pós-graduação brasileira, apresentando procedimentos pedagógicos, metodológicos e técnico-científicos de projetos e atividades de extensão universitária, articulados ao ensino e à pesquisa.
Tem como objetivo discutir os conceitos de extensão Universitária e sua indissociabilidade do ensino e pesquisa na Universidade. Apresentar a legislação e as atividades de extensão universitária, bem como, levar ao conhecimento dos pós-graduandos:
1. A função e responsabilidade social da Universidade através da Extensão Universitária;
2. O significado da Extensão Universitária em uma perspectiva articuladora com o Ensino e a Pesquisa, assim como suas implicações no processo de formação acadêmico-profissional e de transformação social;
3. Possibilidades de desenvolvimento de atividades e projetos de Extensão Universitária numa abordagem multi e interdisciplinar;
4. Divulgação do conhecimento científico produzido às comunidades acadêmicas e grupos sociais.
Brasil. Lei nº 13.005 - Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024. Brasília, 2014.
Brasil. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Brasília, 2018.
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras. Concepções e Implementação da Flexibilização Curricular Extensão Universitária. XVI Encontro Nacional de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras/FORGRAD, Campo Grande-MS, 2003.
Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras. Avaliação da Extensão Universitária: Práticas e Discussões da Comissão Permanente de Avaliação da Extensão. Organização: Maria das Dores Pimentel Nogueira. FORPROEX/CPAE; PROEX/UFMG, Belo Horizonte, 2013. (Coleção Extensão Universitária; v. 8).
Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras. Política Nacional de Extensão Universitária. Gráfica da UFRGS, Porto Alegre, RS, 2012. (Coleção Extensão Universitária; v. 7).
Análise estatística utilizadas em dados ecológicos: testes de hipótese nula paramétrico e por reamostragem, verossimilhança máxima, seleção de modelos e estatística Bayesiana. Aplicação de métodos de regressão linear, análise variância e de dados categóricos a estudos de caso utilizando estas abordagens. Aplicações de métodos não-clássicos em tratamento de dados ecológicos utilizando algoritmos baseados em lógicas paraconsistentes e lógica Fuzzy.
FOGUET, J.M.B. AND ARIAS, M.R.M. 1989. ANALISIS MULTIVARIANTE - ANALISIS EM COMPONENTES PRINCIPALES. EDITORIAL HISPANO EUROPEA, S.A. BARCELONA, ES. 129P.
KINGSFORD, M. & BATTERSHILL. 1998. STUDYING TEMPERATE MARINE ENVIRONMENTS. A HANDBOOK FOR ECOLOGISTS. 1ªED. CANTERBURY UNIVERSITY PRESS. NEW ZEALAND. 327P.
DA SILVA FILHO, J. I., LAMBERT-TORRES, G., ABE, J. M. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COM AS REDES DE ANÁLISES PARACONSISTENTES - TEORIA E APLICAÇÕES, 339 P1. EDIÇÃO EDITORA LTC RJ 2009.
NYBAKKEN, J.W. 2001. MARINE BIOLOGY AN ECOLOGICAL APPROACH. 5TH ED. BENJAMIN CUMMINGS - WESLEY LONGMAN, INC. 516P.
SPARKS, T. 2000. STATISTICS IN ECOTOXICOLOGY. ECOLOGICAL & ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY SERIES. WEEKS, J.M.; O´HARE, S.; RATTNER, B. (EDS.). JOHN WILEY & SONS, INC., 605 THIRD AVENUE, NEW YORK, NY. USA. 315P.
AYRES, M.; AYRES JR., M.; AYRES, D. L & SANTOS, A. A. S. 2007. BIOESTAT: APLICAÇÕES ESTATÍSTICAS NA ÁREA DAS CIÊNCIAS BIOMÉDICAS. 5ª ED. BELÉM: EDIÇÃO DOS AUTORES. 324P.
GOTELLI, N. J.; ELLISON, A. M. 2011. PRINCÍPIOS DE ESTATÍSTICA EM ECOLOGIA. PORTO ALEGRE: ARTMED. 527P.
KREBS, C. J. 1999. ECOLOGICAL METHODOLOGY. 2ND ED. MENLO PARK: ADDISON WESLEY LONGMAN. 620P.
HURLBERT, S. H. 1984. PSEUDOREPLICATION AND THE DESIGN OF ECOLOGICAL FIELD EXPERIMENTS. ECOLOGICAL MONOGRAPHS 54(2): 187-211.
MANLY, B. J. F. 2008. MÉTODOS ESTATÍSTICOS MULTIVARIADOS: UMA INTRODUÇÃO. 3ª ED. PORTO ALEGRE: BOOKMAN. 229P.
MILLAR, R. B. & ANDERSON, M. J. 2004. REMEDIES FOR PSEUDOREPLICATION. FISHERIES RESEARCH 70: 397-407.
SIEGEL, S. & CASTELLAN, N. J. 2006. ESTATÍSTICA NÃO-PARAMÉTRICA PARA CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTO. 2ª ED. PORTO ALEGRE: ARTMED. 448P.
SOKAL, R. R. & ROHLF, J. 1995. BIOMETRY: THE PRINCIPLES AND PRACTICE OF STATISTICS IN BIOLOGICAL RESEARCH. 3RD ED. NEW YORK: W. H. FREEMAN AND COMPANY. 887P.
VIEIRA, S. 2006. ANÁLISE DE VARIÂNCIA. SÃO PAULO: ED. ATLAS. 204P.
ZAR, J. H. 2010. BIOSTATISTICAL ANALYSIS. 5TH ED. NEW JERSEY: PEARSON PRENTICE HALL. 944P.
Descrever os principais poluentes ambientais e poluentes emergentes em ecossistemas aquáticos.
Descrição de métodos aplicados a analise da qualidade de águas: seus constituintes e principais poluentes.
Apresentação de métodos de espectroscopia aplicados a analise de poluentes emergentes.
Fornecer a base teórica e prática das análises quantitativas de poluentes em ecossistemas aquáticos.
APHA; AWWA; WEF. 1999. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 20st ed. APHA, Washington, USA.
Environmental Protection Agency EPA. 2007. Method 1694: Pharmaceuticals and Personal Care Products in Water, Soil, Sediment, and Biosolids by HPLC MS MS.
Harris, D.C. 2012. Análise química quantitativa, 8 ed. LTC, Rio de Janeiro, Brasil.
Holler, F. J. 2009. Princípios de análise instrumental, 6 ed. Bookman, Porto Alegre, Brasil.
Manahan, S.E. 2013. Química ambiental, 9 ed. Bookman, Porto Alegre, Brasil.
CETESB 2008. Significado ambiental e sanitário das variáveis de qualidade das águas e dos sedimentos e metodologias analíticas e de amostragem.
CETESB 2010. Qualidade das águas superficiais no estado de São Paulo.
Reis-Filho, R.W., Barreiro, J.C., Vieira, E.M., Cass, Q.B. 2007. Fármacos, ETEs e corpos hídricos. Revista Ambiente e Água, 2: 54-61.
Santos, L. H.M.L.M., Araújo, A.N., Fachini, A., Pena, A., Deleure-Matos, C., Montenegro, M.C.B.S.M. 2010. Ecotoxicological aspects related to the presence of pharmaceutical in the aquatic environment. Journal of Hazardous Materials, 175: 45-95.
Textos artigos diversos a serem encaminhados ao material didático do aluno
Caracterização geral dos mamíferos aquáticos. Morfologia externa e interna dos mamíferos aquáticos. Adaptações morfofuncionais ao meio aquático. Conhecer os aspectos gerais da biologia e ecologia dos mamíferos marinhos, técnicas de manejo e os principais impactos antropogênicos para a conservação.
Berta, A.; Sumich, J.; Kovacs, K. 2006. Marine Mammals. Evolutionary Biology. Academic Press, ELSEVIER.
Boyd, I.L.; Bowen, W.D.; Iverson, S.J. 2010. Marine Mammal Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford University Press. UK.
Jefferson, T.A.; Leatherwood, S.; Webber, M.A. 1994. FAO species identification guide. Marine Mammals of the World. FAO.
Newsome, S. D.; Clementz, M. T.; Koch, P. L. 2010. Using stable isotope biogeochemistry to study marine mammal ecology. Marine Mammal Science, 26(3), 509-572.
Ross, P. S. 2000. Marine mammals as sentinels in ecological risk assessment. Human and Ecological Risk Assessment, 6(1), 29-46.
Evans, P.G.H.; Raga, J.A. 2001. Marine Mammals: Biology and Conservation. Klwer Academic. New York. 630p.
Geraci, J.R.; Lounsbury, V.J. 1993. Marine Mammals Ashore: A Field Guide for Strandings. Texas A&M Sea Grant. 305p.
Perrin, W.; Wursig, B.; Thewissen, J.G.M. 2006. Encyclopedia of Marine Mammals. Segunda edición. Academic Press, ELSEVIER. USA.
Vos, J.G.; Bossart, G.D.; Fournier, M.; O’shea, T.J. 2003. Toxicology of Marine Mammals. Taylor e Francis. London. 643p.
Apresentação dos conceitos de poluentes e contaminantes aquáticos;
Biomarcadores: conceitos básicos;
Conceito de ecotoxicologia;
Biomarcadores de efeito, susceptibilidade e de exposição;
Biomonitores e biomonitoramento;
Interação da ação dos contaminantes;
Biomarcadores atualmente usados em monitoramento ambientais.
1) Compreender a Contaminação Aquática e a aplicação de biomarcadores na avaliação da qualidade ambiental
2) Compreender fundamentos de ecotoxicologia e utilização de biomarcadores
3) Elencar e discutir a implementação de estratégias de biomonitoramento ambiental
Hagger, J.A., Jones, M.B., Paul Leonard, D.R., Owen, R., Galloway, T.S., 2006. Biomarkers and Integrated Environmental Risk Assessment: Are There More Questions Than Answers - Integrated Environ Assess Manag. 2, 312-329.
Handy, R.D., Galloway, T.S., Depledge, M.H., 2003. A proposal for the use of biomarkers for the assessment of chronic pollution and in regulatory ecotoxicology. Ecotoxicology. 12, 331-343.
Lana, P. C.; Bianchini, A.; Ribeiro, C.A.O.; Niechenski, L.F.H.; Fillman, G.; Santos, C.S.G. Avaliação Ambiental de Estuários Brasileiros: Diretrizes Metodológicas. Rio de Janeiro: Museu Nacional, 2006. 156p.
McCarthy, J.F. & Shugart, L.R. Biomarkers of environmental contamination. Chelsea, MI (US); Lewis Publishers. 1990. 457p.
Nascimento, I. A.; Sousa, E. C. P. M.; Nipper, M. Métodos Em Ecotoxicologia Marinha: Aplicações No Brasil. São Paulo: Editora Artes Gráficas E Indústria Ltda., 2002. 262p.
Pereira, C.D.S., Abessa, D.M.S., Bainy, A.C.D., Zaroni, L.P., Gasparro, M.R., Bicego, M.C., Taniguchi, S., Furley, T.H., Sousa, E.C.P.M., 2007. Integrated assessment of multilevel biomarker responses and chemical analysis in mussels from São Sebastião, São Paulo, Brazil. Environ. Toxicol. Chem.. 26, 462-469.
Stegeman, J.J., Livingstone, D.R., 1998. Forms and functions of cytochrome P450. Comp. Biochem. Physiol. C. 121, 1-3.
Viarengo, A., Lowe, D., Bolognesi, C., Fabbri, E., Koehler, A., 2007. The use of biomarkers in biomonitoring: a 2-tier approach assessing the level of pollutant induced stress syndrome in sentinel organisms. Comp. Biochem. Physiol. C. 146, 281-300.
Introdução aos ciclos biogeoquímicos de elementos bioativos; fontes, transporte, processos, destino e toxicidade de contaminantes nos ambientes aquáticos;especiação química e ecotoxicologia; bioconcentração, bioacumulação, biomagnificação de contaminantes;processos de degradação de contaminantes; tecnologias de remediação de sedimentos em ambientes impactados e águas subterrâneas; valores-guia da qualidade de sedimentos; sistemas integrados e hierárquicos da avaliação da qualidade de sedimentos continentais, costeiros e marinhos; legislação ambiental brasileira afeta à água e sedimentos; avaliação de riscos ecológicos.
Bashkin, V.N. 2002. Modern Biogeochemistry. Kluwer Academic Publishers. 561p.
Emerson, S. R. and Hedges, J. I. 2008. Chemical Oceanography and the Marine Carbon Cycle. Cambridge University Press. 453p.
Rand, G.M. 1995. Fundamentals of Aquatic Toxicology: Effects, Environmental Fate and Risk Assessment. Second Edition. Ed Taylor & Francis, Washington, 1125p.
Reeve, R. 1994. Environmental Analysis. Analytical Chemistry by Open Learning. Ed John Willey and Sons, Inc., London, 263p.
Simpson, S.L.; Batley, G.E.; Chariton, A.A.; Stauber, J.L.; King, C.K.; Chapman, J.C.; Hyne, R.V.; Gale, S.A.; Roach, A.C. & Maher, W.A. 2005. Handbook for Sediment Quality Assessment. CSIRO: Bangor, NSW. 122p.
Wenning, R.J.; Batley, G.E.; Ingersoll, C.G. & Moore, D.W. 2005. Use of Sediment Quality Guidelines and Related Tools for the Assessment of Contaminated Sediments. SETAC - Society of Environmental Toxicology and Chemistry. 783p.
MOZETO, A.A.; ARAGÃO, G.U. & JARDIM, W.F. 2006. Métodos de coleta, análises físico-químicas e ensaios biológicos e ecotoxicológicos de sedimentos de água doce. Projeto QualiSed. Ed Cubo, São Carlos. 221p.
- Entender e caracterizar o conceito de Desastre Ambiental e suas consequências ambientais e sociais, assim como reconhecer os piores Desastres ambientais do Brasil e do Mundo;
- Estudar e compreender os conceitos de bioindicadores e biomarcadores;
- Compreender, através da apresentação de Plano Diagnóstico de Monitoramento Ambiental, o processo de diagnóstico, avaliação e estudo de importantes impactos ambientais no Brasil.
Amiard-Triquet C, Amiard J-C, Rainbow PS. 2013. *Ecological Biomarkers. Indicators of Ecotoxicological Effects.* CRC Press Taylor and Francis Group.
Buss DF, Baptista DF, Nessimian JL. 2003. *Bases conceituais para a aplicação de biomonitoramento em programas de avaliação da qualidade da água de rios.* Cad Saude Publica 19:465–473.
Laboratório de análise ambiental e geoespacial. 2014. *Gestão e prevenção de riscos as áreas de desastrea naturais.*
Sadauskas-Henrique H. 2014. *Efeitos subletais da poluição por petróleo e derivados sobre peixes da Amazônia (Amazonas, Brasil ).* Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA. Tese de Doutorado.
Sadauskas-Henrique H, Duarte RM, Gagnon MM, Almeida-Val VMF. 2017. *Validation of a suite of biomarkers of fish health in the tropical bioindicator species, tambaqui (Colossoma macropomum).* Ecol Indic 73.
Silva DCVR da, Pompeo M, Paiva TCB de. 2015. *A ecotoxicologia no contexto atual no Brasil.* In: Ecologia de reservatórios e interfaces. São Paulo. p 340–353.
Estudar as interações organismo-ambiente avaliando os aspectos bioquímicos, fisiológicos, metabólicos e comportamentais que favorecem a sobrevivência dos organismos aquáticos em ambientes aquáticos extremos, tanto naturais (alterações na temperatura, pH, oxigênio dissolvido, carbono orgânico dissolvido, salinidade, dureza) quanto antrópicos (presença de contaminantes ambientais como metais e compostos orgânicos).
Randall, DJ; Burggren, W; French, K; Fernald, R; Menezes, CEL et al., 2014. *Eckert fisiologia animal: mecanismos e adaptações.* Editora Guanabara. 4ª edição. 729 p.
Baldisseroto, B; Cyrino, JEP; Urbinati, EC, 2014. *Biologia e fisiologia de peixes neotropicais de água doce.* Editora FUNEP/UNESP. 336 p.
Schmidt-Nielsen, Knut O,
Finger, Carla, 2002. *Fisiologia animal: adaptação e meio ambiente.* 5ª edição. 611 p.
Saídas de campo para locais onde há atividade pesqueira industrial e artesanal, com o objetivo de identificar as artes de pesca utilizadas, espécies capturadas, espécies de interesse comercial ou não, e facilidades e dificuldades encontradas pelos pescadores. Coletar dados de campo na forma de preenchimento de planilhas e analisá-las em sala de aula. Ao final da disciplina redigir um relatório com propostas de melhoramento das atividades nos locais visitados, baseados na literatura.
Mostrar o processo de chegada do pescado nos pontos de desembarque como terminais pesqueiros industriais e artesanais;
Identificar as diferentes artes de pesca utilizadas;
Identificar as principais espécies de valor comercial e as que são descartadas;
Analisar o processo de distribuição do pescado para venda ao público.
GALBRAITH, R. D. & RICE, A. 2004. *An introduction to commercial fishing gear and methods used in Scotland.* Fisheries Research Methods. Scottish Fisheries Information Pamphlet, n.o 25. 43 p.
NÉDÉLEC, C. & PRADO, J. 1990. *Definition and classification of fishing gear categories.* FAO Fisheries Technical Paper, n.222. 93 p.
CARVALHO-FILHO, A. 1999. Peixes: costa brasileira. 3.a ed. São Paulo, Melro. 320 p.
FIGUEIREDO, J. L. Manual de Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil. I - Introdução. Cações, Raias e Quimeras. São Paulo, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1977.104 p.
FIGUEIREDO, J.L. & N. A.MENEZES. 1978. Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil III. Teleostei (1). Museu de Zoologia USP. 110 p.
FIGUEIREDO, J.L. & N. A. MENEZES. 1980. Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil III. Teleostei (2). Museu de Zoologia USP. 90 p.
FIGUEIREDO, J.L. & N. A. MENEZES. 2000. Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil VI. Teleostei (5). Museu de Zoologia USP. 116 p.
GOMES, U. L ; SIGNORI, C. N. ; GADIG, O. B. F.; SANTOS, H. S. 2010. Guia para Identificação de Tubarões e Raias do Rio de Janeiro. 1. ed. Rio de Janeiro: Technical Books, 234 p.
Este será um curso prático, cujo principal objetivo é o de capacitar pesquisadores jovens na elaboração e execução de trabalhos de campo, buscando responder a questões socioambientais através da Ecologia Humana. Serão abordados os principais métodos utilizados em estudos de ecologia humana, bem como, desenho amostral, análises estatísticas e métodos para coleta de dados e amostras biológicas. Serão realizadas saídas a campo para áreas onde habitam populações humanas que exploram recursos naturais, para que os alunos possam de maneira prática exercitar seu conhecimento teórico. Os alunos do curso serão orientados pelos docentes a planejar um estudo, coletar os dados e analisá-los, com o intuito de usar os conhecimentos teóricos e práticos para abordar tópicos relevantes em Ecologia. Dessa forma, ao final do curso os alunos deverão estar aptos a: 1) Discutir sobre algumas técnicas de amostragem e de desenho experimental; 2) Coletar dados e amostras necessárias para responder perguntas e testar hipóteses em Ecologia; 3) Analisar os dados coletados, interpretá-los e gerar trabalhos científicos
Begossi, A. (org.). 2004. Ecologia de pescadores da mata atlântica e da Amazônia. São Paulo: Ed. Hucitec. 332 p.
Begossi, A. 2006. Métodos e Análises em Ecologia de Pescadores. IN: Garay, Irene E. G. e Becker, B. K. 2006. As Dimensões Humanas da Biodiversidade: o desafio de novas relações sociedade-natureza no século XXI. Petrópolis: Editora Vozes. p.229 - 313.
Begossi, A. 2008. Local knowledge and training towards management. Environment, Development and Sustainability (in press). [DOI 10.1007/s10668-008-9150-7].
Begossi, A., Hanazaki, N., Silvano, R.A.M. 2002. Ecologia Humana, Etnoecologia e Conservação. IN: Amorozo, M.C.M., Ming, L.C., Silva, S.M.P. (eds.) Métodos de Coleta e Análise de Dados em Etnobiologia, Etnoecologia e Disciplinas Correlatas. Seminário de Etnobiologia e Etnoecologia do Sudeste. Anais, Rio Claro/SP: 29/11 a 01/12/2001. Coordenadoria de Área de Ciências Biológicas. UNESP/CNPq. p. 93 - 128.
Begossi, A.; Hanazaki, N.; Peroni, N.; Silvano, R.A.M. 2006. Estudos de Ecologia Humana e Etnobiologia: uma revisão sobre usos e conservação. IN: Rocha, C.F.D.; Bergallo, H.G.; Alves, M.A.S.; Van Sluys, M. (orgs.). Essências em Biologia da Conservação. Rio de Janeiro: Editora da UERJ. p. 1-26.
Ramires, M.; Molina, S.M.G.; Hanazaki, N. 2007. Etnoecologia caiçara: o conhecimento dos pescadores artesanais sobre aspectos ecológicos da pesca. Biotemas 20 (1): 101 - 113.
Silvano, R.A.M. e Begossi, A. 2005. Local knowledge on a cosmopolitan fish ethnoecology of Pomatomus saltatrix (Pomatomidae) in Brazil and Australia. Fisheries Research 71: 43-59.
Silvano, R.A.M.; MacCord, P.F.L.; Lima, R.V.; Begossi, A. 2006. When does this spawn? Fishermen's local knowledge of migration and reproduction of Brazilian coastal fishes. Environ Biol Fish 76: 371-386.
Valbo-Jorgensen, J. E Poulsen, A. 2000. Using local knowledge as a research tool in the study of river fish biology: experiences from the Mekong. Environment, Development and Sustainability 2: 253 - 276.
Desenvolvimento de projetos em campo visando a prática de metodologias de ecologia em áreas naturais. Metodologia para obtenção de dados em campo nas áreas de: zoologia, botânica e ecologia de ambientes costeiros; pesca, ecologia humana e etnoecologia aplicada aos recursos pesqueiros.
Apresentar a importância de estudos de campo na formação profissional de ecologia.
Discutir sobre algumas técnicas de amostragem e de desenho experimental;
Coletar dados e amostras necessárias para responder perguntas e testar hipóteses em Ecologia;
Analisar dados coletados, interpretá-los e gerar trabalhos científicos.
Barnes, R. S. K.; Mann, K. H.. Fundamentals of aquatic ecology. 2.ed. Blackwell Science. Oxford. 1991. 270 p.
BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin; HARPER. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 4.ed. Porto Alegre, RS; Editor(es): Artmed. 2007. 740 p.
Brower, E.J. & J.H. Zar. Field and Laboratory Methods for General Ecology. WCB Publish. Dubuque. 1984.
Gardner, Robert H. et al. Scaling relations in experimental ecology. New York. 2001. 373 p.
Gevertz, R. et AL. Em busca do conhecimento ecológico: uma introdução à metodologia. São Paulo. Ed. Edgar Blücher Ltda. 1995.
Green, R.H. Sampling Design and Statistical Methods for Environmental Biologists. John Wiley & Sons Inc. New York. 1979.
Jones, W. E.; Bennell, S.; Beveridge, C.; McConnell, B.; Mack-Smith, S.; Mitchell, J. Methods of data collection and processing in rocky intertidal monitoring. In: PRICE, J.M. et al. eds. The shore environment. London, Academic Press. v. 1 p.137-70. (Syst. Assoc. Spec. 17a). 1980.
Bacia Hidrográfica, Modelo do Rio Contínuo e gradiente longitudinal em riachos. Revisão e aplicação de alguns métodos de coleta dos peixes de riachos e das variáveis ambientais e estruturais. Descrição da ictiofauna sul-americana quanto à composição, diversidade taxonômica, evolução e biogeografia. Conceitos relacionados à ecologia trófica como guildas, hábitos alimentares, partilha de recursos, amplitude e sobreposição de nicho. Características ecomorfológicas dos peixes associadas aos diferentes tipos de hábitat. História de vida: estratégias e táticas reprodutivas em peixes de riachos. Importância dos estudos de Diversidade Funcional e da conservação da mata ciliar para os a manutenção das assembleias de peixes de riachos.
- Caracterizar as bacias hidrográficas e os ambientes de riachos.
- Apresentar os principais métodos de coleta dos peixes e das variáveis abióticas e estruturais nos riachos.
- Caracterizar a ictiofauna de riachos sul-americanos.
- Discutir sobre sistemática, evolução e biogeografia de peixes de riachos.
- Introduzir conceitos relacionados à ecologia trófica e a ecomorfologia dos peixes.
- Caracterizar as espécies quanto aspetos da história de vida.
- Apresentar uma breve revisão e aplicação do conceito de Diversidade Funcional.
- Discutir a importância da conservação da mata ciliar para os peixes de riachos.
POUGH, F.H.; JANIS, C.M. & HEISER, J.B. 2003. A vida dos vertebrados. São Paulo: Atheneu.798p.
HELFMAN, G.S.; COLLETTE, B.B.; FACEY, D.E.; BOWEN, B.W. 2009. The Diversity of Fishes. Biology, Evolution and Ecology. Wiley-Blackwell. 737p.
VAZZOLER, A.E.A.M. 1996. Biologia da reprodução de peixes teleósteos: Teoria e Prática. Maringá: EDUEM, SBI, São Paulo. 169p.
ZAVALA-CAMIN, L.A. 1996. Introdução aos estudos sobre alimentação natural em peixes. Maringá: EDUEM/Nupelia. 129p.
BONE, Q. & MOORE, R.H. 2008. Biology of Fishes. 3rd ed. Taylor & Francis. 478p.
MENEZES, N.A.; WEITZMAN, S.H.; OYAKAWA, O.T.; LIMA, F.C.T.; CASTRO, R.M.C. & WEITZMAN, M.J. 2007. Peixes de água doce da Mata Atlântica: lista preliminar das espécies e comentários sobre conservação de peixes de água doce e neotropicais. Museu de Zoologia: Universidade de São Paulo. São Paulo. 408 p.
PEREIRA, R.C. & SOARES-GOMES, A. 2002. Biologia Marinha. Rio de Janeiro: Editora Interciência. 382p.
STEARNS, S.C. 1992. The Evolution of Life Histories. Oxford University Press Inc., New York. 249 p.
WOOTON, R.J. 1992. Fish Ecology. 1 ed. New York: Chapman and Hall. 212p.
A ecologia científica a partir de três áreas básicas: Organismos, Interações entre Espécies e Comunidades/Ecossistemas. Em relação primeira área serão estudados o background evolutivo das espécies, condições, recursos e competição intraespecífica. Em Interações entre Espécies estudar-se-á a competição interespecífica, predação, decompositores/detritívoros, parasitismo, simbiose e mutualismo. Em Comunidades/Ecossistemas, os padrões no espaço e tempo, fluxos de energia e matéria, interações populacionais e cadeias alimentares.
BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin R.; HARPER, John L.. 2007. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. Traduzido por Adriano Sanches Melo. 4. ed. Porto Alegre: Artmed. 740p.
ODUM, Eugene P.. 2004. Fundamentos de ecologia. Traduzido por António Manuel de Azevedo Gomes. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 928p.
RICKLEFS, Robert E.Ricklefs. 2003. A economia da natureza. Traduzido por Cecília Bueno. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 503p.
TOWNSEND, Colin R.; BEGON, Michael; HARPER, John L. 2006. Fundamentos em ecologia. Traduzido por Gilson Rudinei Pires Moreira. 2. ed. Porto Alegre: Artmed. 592p.
A disciplina será apresentada com um estudo a ecologia de costão rochosos, com objetivo de descrever os processos abióticos que afetam as comunidades biológicas. Estratégias de colonização. Espaço disponível. Recrutamento. Tipos e efeitos de maré. Modelos de zonação. Caracterização e influência dos fatores ambientais. Regulações organismos e substrato. Grupos funcionais. Estrutura e dinâmica de comunidade de substrato consolidado. Sucessão ecológica. A abordagem conservacionista será estimulada a partir de debates, seminários e apresentação de informações complementares na forma de artigos e documentários científicos.
Castro, P. & Huber, M. E. 2012. Biologia Marinha - 8ª Ed. Amgh Editora. 408p.
Odum, E.P. & Garret, G.W. 2007. Fundamentos de Ecologia. Thomson Learning Ed. Ltda. 611p.
Pereira, R.C. & Soares-Gomes, A. (orgs.) 2009. Biologia Marinha. Ed. Interciência, 2ª. Ed. Rio de Janeiro. 381p.
Ghilardi-Lopes, N.P.; Hadel, V.F. & Berchez, F. 2012. Guia para Educação ambiental em Costões Rochosos. Editora Artmed. 200p.
Moreno, T. R., & da Rocha, R. M. 2017. Ecologia de costões rochosos. Estudos de Biologia, 34(83).
Oliveira Filho, E. D., & Paula, E. D. 1983. Aspectos da distribuição vertical e variação sazonal de comunidades da zona das marés em costões rochosos do litoral norte do Estado de São Paulo. Publicações do Instituto de Pesquisas da Marinha, 147, 44-71.
Oliveira, E. C., & Paula, E. J. 1984. Aspectos da distribuição vertical e variação sazonal de comunidades da zona das marés em costões rochosos do litoral norte de São Paulo. Revista Brasileira de Biologia, 147, 44-71.
Ruppert, Fox & Barnes. 2005. Zoologia dos invertebrados. Ed. Rocca. 780p.
Histórico da Ecologia Humana. Conceitos e métodos: principais ferramentas. Conceituais e metodológicas. Modelos teóricos fundamentais. Etnobiologia, Etnoecologia e Etnoconservação. Modelos de transmissão cultural. Modelos de subsistência. Bases biológicas do comportamento. Ecologia comportamental humana. Interfaces entre biodiversidade e sociodiversidade. Ecologia cultural. Antropologia ecológica. Sociobiologia. Coevolução genes-cultura. Interfaces entre a ecologia e a ecologia humana. capacidade de suporte do ecossistema e as poluções humanas. Eficiência energética. Teoria de nicho ecológico. Forrageio ótimo. Cooperação. Reciprocidade. Territorialidade. Uso do Habitat e aspectos bioculturais da alimentação (dieta e tabus alimentares de populações humanas). População humana e a produção de alimentos. Manejo participativo. Recursos comuns e a conservação. Adaptação humana a ambientes específicos e a problemas ambientais. Populações humanas e a conservação dos recursos naturais. A Ecologia Humana e a Sustentabilidade. Conceitos básicos de economia ecológica.
Albuquerque, U.P. 2005. Etnobiologia e Biodiversidade. Recife: NUPEA/ Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia. 78p.
Begossi, A. 1993. Ecologia Humana: um Enfoque das Relações Homem-Ambiente. Interciencia, v.18, n.3, p.121-132.
Begossi, A. (org.). 2004. Ecologia de pescadores da mata atlântica e da Amazônia. São Paulo: Ed. Hucitec. 332 p.
Amorozo, M.C.M., Ming, L.C., Silva, S.M.P. (eds.) 2001. Métodos de Coleta e Análise de Dados em Etnobiologia, Etnoecologia e Disciplinas Correlatas. Seminário de Etnobiologia e Etnoecologia do Sudeste. Anais, Rio Claro/SP: 29/11 a 01/12/2001. Coordenadoria de Área de Ciências Biológicas. UNESP/CNPq. p. 93 - 128.
Begossi, A.; Hanazaki, N.; Peroni, N.; Silvano, R.A.M. 2006. Estudos de Ecologia Humana e Etnobiologia: uma revisão sobre usos e conservação. IN: Rocha, C.F.D.; Bergallo, H.G.; Alves, M.A.S.; Van Sluys, M. (orgs.). Essências em Biologia da Conservação. Rio de Janeiro: Editora da UERJ. p. 1-26.
Berlin, B. 1992. Ethnobiological Classification: Principles of categorization of plants and animals in traditional societies. Princeton University Press. Princeton, New Jersey. 308p.
Diegues, A.C. 1995. Povos e mares: leituras em sócio-antropologia marítima. São Paulo: NUPAUB/USP. 269p.
Garay, I.; Becker, B. 2006. Dimensões humanas da biodiversidade: o desafio de novas relações sociedade-natureza no século XXI. Petrópolis: Ed. Vozes. 483 p.
Hardesty, D.L. 1975. The niche concept: suggestions for its use in human ecology. Human Ecology 3 (2): 71-85.
Kormondy, E. J. & Brown, D. E. 2002. Ecologia humana. Trad Max Blum. São Paulo: Atheneu. 503 p.
Marques, J. G. 2001. Pescando pescadores: ciência e etnociência em uma perspectiva ecológica. 2ª ed. NUPAUB, USP, São Paulo, Brasil. 258 p.
Nazarea, V. D. (ed.) 1999. Ethnoecology: Situated knowledge/located lives. The University of Arizona Press, Arizona, USA. p. 3-20.
Neves, W. 1986. Antropologia Ecológica. São Paulo: Cortez Editora. 88 p.
Silvano, R.A.M.; Silva, A.L.; Ceroni, M.; Begossi, A. 2007. Contributions of ethnobiology to the conservation of tropical rivers and streams. Aquatic Conservation: marine and freshwater ecosystems. (in press) [DOI: 10.1002/aqc.825].
Toledo, V. M. 1992. What is ethnoecology? Origins, scope and implications of a rising discipline. Etnoecológica, 1: 5-21.
Viertler, R.B. 1988. Ecologia Cultural: uma antropologia da mudança. São Paulo: Ed. Ática. 61p.
Periódicos a serem consultados:
Human Ecology, Human Ecology Review, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, Journal of Ethnobiology, Ecology and Society, Environment, Development and Sustainability, Journal of Human Ecology, Current Anthropology, Ecological Applications, Multiciencia, Neotropical Biology and Conservation, Ecology of Food and Nutrition, Interciencia, B. Inst. Pesca, Biotemas, Fisheries Research.
Ecologia Cultural e a alimentação, a Ecologia Humana e a alimentação, Hábitos, Preferencias Alimentares e Usos medicinais, Tabus alimentares, a Genética dos alimentos, Ecologia da Conservação e Recursos Alimentares.
Begossi, A., Ramos, R. and Hanazaki, N. 2004. Food chain and the reasons for food taboos in Amazonian and Atlantic Forest communities. Ecological Applications.
Francis et al. 2006. Agroecology. Journal of Sustainable Agriculture, Vol. 22(3), 2003. http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J064.
Freedman, I. 2016. Cultural specificity and food choice-the case of ethnography in Japan. Appetite, 96:138-146.
Glaeser, et al. 2018. Breaking resilience for a sustainable future: thoughts for the Anthropocene. Frontiers in Marine Science (doi: 10.3389/fmars.2018.00034).
Harris, M. 1998. Vacas, cerdos, guerras e brujas. Alianza Editorial SA.
Ross, E. 1978. Food taboos, Diet, and Hunting Strategy: The Adaptation to Animals in Amazon Cultural Ecology. Current Anthropology 19: 1-36.
Sorokowska, A. et al. 2017. Dietary custos and food availability shape preferences for basic tastes: a cross-cultural study among Polish, Tsimane and Hadza societies. Appetite (https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.05.015).
Visser, S. S., Hutter, I. and Haisma, H. 2016. Building a framework for theory-based ethnographies for studying intergenerational Family food practices. Appetite 97: 49-57.
Noções de álgebra linear. Operações com Vetores. Calculos Matricial. Dados Quantitativos Multidimensionais: - Matriz de Correlação; Matriz de Variância - Covariância. Medidas de semelhanças, regressão múltipla. Análises de Operação e de agrupamento e criação de modêlos núméricos. Aplicação das técnicas de análises multivariadas a problemas reais apresentados e desenvolvimentos pelos alunos com programa computacional. Apresentação e discussão dos resultados em seminários.
VALENTIN, J.L.; Ecologia numérica: uma introdução à análise multivariada de dados ecológicos. RJ, Interciência, 2000, ISBN 85-7193-032-5.
RUGGIERO, M.A.; LOPES, V.L.; Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais. 2a. edição, São Paulo, Makron, 1998, ISBN 85-346-0204-2.
McCUNE B. & J.B.GRACE. 2002. Analysis of Ecological Communities. MjM Software Design, Gleneden Beach, Oregon, USA, 300pp.
Da Silva Filho, J. I., Lambert-Torres, G., Abe, J. M. Inteligência Artificial Com As Redes De Análises Paraconsistentes - Teoria E Aplicações, 339 p, 1. Edição Editora LTC RJ, 2009.
Leis gerais do funcionamento dos ecossistemas. Leis gerais do funcionamento
do sistema econômico. As visões de Adam Smith, Karl Marx e os modernos
economistas proponentes da economia ecológica. Taxa de crescimento contínuo
do sistema econômico e a destruição ambiental por ele provocada. O processo
de urbanização e suas consequências ambientais. Medição da pegada
ecológica. Fluxo de energia nos ecossistemas e no sistema econômico.
Crescimento econômico e crescimento populacional e o problema da destruição
ambiental
Livros
CECHIN, A. A Natureza como Limite da Economia: A contribuição de Nicholas Georgescu-Roegen. São Paulo: Senac / Edusp, 2010.
CLARK, C. Bioeconomic Modelling and Fisheries Management. New York: Wiley, 1985.
DIAMOND, J. O Terceiro Chimpanzé. Trad. Maria Cristina Torquilho Cavalcanti. Rio de Janeiro: Record, 2010.
FREUD, S. O Mal-Estar na Civilização. In: Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: edição standard brasileira. Trad.: Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 2006.
GOLDEMBERG, J.; LUCON, O. Energy, Environment and Development. London: Earthscan, 2010.
RIOS, R.I. Capitaloceno: a Era da Barbárie. 1. ed. Rio de Janeiro: Yellow Carbo Design e Publishing, 2019.
Artigos
GORDON, H.S. The economic theory of a common property resource: the fishery. Journal of Political Economy, Vol. 62. Chicago: University of Chicago, 1954. p. 124–142.
LARKIN, P. An epitaph for the concept of Maximum Sustained Yield. Transactions of the American Fisheries Society, Vol. 106, 1977, p. 1–11.
LOVELOCK, J. Environment in crisis: We are past the point of no return. The Independent, United Kingdom, 2006. Disponível em: https://rense.com/general69/ebenv.htm
Sites
https://www.estudopratico.com.br/ecofilosofia-o-que-e-como-surgiu-e-suas-visoes/
Características dos ambientes aquáticos costeiros em função de sua estrutura física e dos parâmetros físicos e químicos da água. Alguns métodos de coletas de peixes nestes ambientes. Discutir conceitos, métodos de análises laboratoriais e processamento dos dados referentes à alimentação e história de vida (estratégias e táticas reprodutivas) de peixes ósseos e cartilaginosos. Entender como as características ecomorfológicas dos peixes estão associadas aos diferentes tipos de hábitat (bentônicos ou pelágicos). Relações destas características (ex. formato do corpo, posição dos olhos, boca e nadadeiras) com os hábitos alimentares e estratégias reprodutivas. A importância da conservação dos ambientes aquáticos costeiros para a alimentação e reprodução dos peixes.
- Caracterizar os ambientes aquáticos costeiros (marinhos e de água doce).
- Apresentar métodos de coleta dos peixes e das variáveis abióticas e estruturais.
- Introduzir conceitos relacionados à alimentação e suas relações com a ecomorfologia dos peixes.
- Definir história de vida, caracterizando as estratégias e táticas reprodutivas em peixes ósseos (Osteichthyes) e cartilaginosos (Chondrichthyes).
- Relacionar a ecologia alimentar e reprodutiva dos peixes aos diferentes tipos de hábitats.
- Analisar dados de ecologia trófica e de história de vida.
- Discutir a importância da conservação dos ambientes aquáticos costeiros em relação ao ciclo de vida dos peixes.
POUGH, F.H.; JANIS, C.M.; HEISER, J.B. A vida dos vertebrados. São Paulo: Atheneu, 2003. 798p.
VAZZOLER, A.E.A.M. Biologia da reprodução de peixes teleósteos: Teoria e Prática. Maringá: EDUEM; São Paulo: SBI, 1996. 169p.
ZAVALA-CAMIN, L.A. Introdução aos estudos sobre alimentação natural em peixes. Maringá: EDUEM/Nupélia, 1996. 129p.
BONE, Q.; MOORE, R.H. Biology of Fishes. 3rd ed. Taylor & Francis, 2008. 478p.
MENEZES, N.A.; WEITZMAN, S.H.; OYAKAWA, O.T.; LIMA, F.C.T.; CASTRO, R.M.C.; WEITZMAN, M.J. Peixes de água doce da Mata Atlântica: lista preliminar das espécies e comentários sobre conservação de peixes de água doce e neotropicais. São Paulo: Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, 2007. 408p.
PEREIRA, R.C.; SOARES-GOMES, A. Biologia Marinha. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2002. 382p.
STEARNS, S.C. The Evolution of Life Histories. New York: Oxford University Press Inc., 1992. 249p.
WOOTON, R.J. Fish Ecology. 1 ed. New York: Chapman and Hall, 1992. 212p.
Estrutura e funcionamento dos ecossistemas aquáticos lênticos (lagos, lagoas, reservatórios e estuários): morfologia; zonação; processos físicos e químicos e sua inter-relação. Ecossistemas lóticos (rios e riachos): morfologia; teoria do contínuo fluvial; processos físicos e químicos e sua inter-relação. Comunidades animais em ambientes aquáticos continentais e seus entornos (macroinvertebrados bentônicos e ictiofauna). Principais métodos de coleta dos animais e determinação das variáveis abióticas. Tipos de impactos, suas consequências e a conservação dos ambientes aquáticos continentais
BICUDO, C.E.M.; BICUDO, D.C. Amostragem em Limnologia. São Carlos: Rima, 2006.
ESTEVES, F.A. Fundamentos de Limnologia. 3.ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2012.
FERREIRA, F.C.; SOUZA, U.P.; PETRERE JR., M. Zonação longitudinal da ictiofauna em ambientes lóticos. Boletim da Sociedade Brasileira de Limnologia, v. 38, n. 1, p. 1-17, 2010.
KIKUCHI, R.M.; FONSECA-GESSNER, A.A.; SHIMIZU, G.Y. Suction sampler for collection of benthic macroinvertebrates in several continental aquatic environments: a comparative study with the Hess and Surber samplers. Acta Limnologica Brasiliensia, v. 18, n. 1, p. 29-37, 2006.
LAMPERT, W.; SOMMER, U. LIMNOECOLOGY: The Ecology of Lakes and Streams. New York: Oxford University Press, Inc., 1997.
MUGNAI, R.; NESSIMIAN, J.L.; BAPTISTA, D.F. Manual de identificação de macroinvertebrados aquáticos do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Technical Books, 2010.
PAULA, M.C.; FONSECA-GESSNER, A.A. Macroinvertebrates in low-order streams in two fragments of Atlantic Forest in different states of conservation, in the State of São Paulo (Brazil). Brazilian Journal of Biology, v. 70, n. 3 (suppl.), p. 899-909, 2010.
PEREIRA, R.C.; SOARES-GOMES, A. Biologia Marinha. 2ª ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2009.
RODRIGUES, L.; THOMAZ, S.M.; AGOSTINHO, A.A.; GOMES, L.C. Biocenoses em reservatórios: padrões espaciais e temporais. São Carlos: RiMA, 2005.
ROQUE, F.O.; LECCI, L.S.; SIQUEIRA, T.; FROEHLICH, C.G. Using environmental and spatial filters to explain stonefly occurrences in southeastern Brazilian streams: implications for biomonitoring. Acta Limnologica Brasiliensia, v. 20, n. 1, p. 35-44, 2008.
TUNDISI, J.G.; TUNDISI, T.M. Limnologia. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
Apresentação, contextualização, discussão e aplicação teórica e prática de conceitos relacionados à Ecotoxicologia Aquática. Introdução. Biodisponibilidade dos contaminantes. Rotas de exposição. Exposição aguda e crônica. Efeitos dos contaminantes: fisiológicos, celulares e subcelulares. Descrição das Linhas-de-Evidência empregadas em monitoramentos ambientais: contaminação; toxicidade; estrutura de comunidade macrobentônica; Novas tendências em métodos integrados de avaliação e monitoramento ambiental: bioacumulação; histopatologia; biomarcadores; Introdução aos testes de toxicidade - Efeitos letais e sub-letais. Bioacumulação, Biotransformação e Biodegradação. Utilização dos métodos integrados na gestão ambiental; Protocolo de avaliação de qualidade de sedimentos/material dragado: definição; estrutura; aplicação e estudo de caso.
HOFFMAN, D. J.; RATTNER, B. A.; BURTON JR., G. A.; CAIRNS JR., J. (Eds.). Handbook of Ecotoxicology. Boca Raton, Florida, USA: CRC Press LLC, 2003.
NASCIMENTO, I. A.; SOUSA, E. C. P. M.; NIPPER, M. Métodos em Ecotoxicologia Marinha: Aplicações no Brasil. São Paulo: Editora Artes Gráficas e Indústria Ltda., 2002. 262p.
RAND, G. M. Fundamentals of Toxicology, Effects, Environmental Fate and Risk Assessment. 2nd ed. Taylor & Francis, 1995.
ZAGATTO, P. A.; BERTOLETTI, E. (Eds.). Ecotoxicologia Aquática: Princípios e Aplicações. São Carlos-SP: Rima Editora, 2006. 464p.
AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. AWWA/WPCF, Standard Methods. 18th ed. Washington, DC, 1995.
CAIRNS JR., J.; MOUNT, D. I. Aquatic toxicology. Environmental Science & Technology, v. 24, p. 154–161, 1990.
CHAPMAN, P. M. Ecotoxicology and pollution – key issues. Marine Pollution Bulletin, v. 31, p. 167–177, 1995.
INGERSOLL, C. G.; DILLON, T.; BIDDINGER, G. R. Ecological Risk Assessment of Contaminated Sediments. Pensacola: SETAC Press, 1997. 313p.
U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Short-Term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Marine and Estuarine Organisms. EPA-821-R-02-014. Washington, DC, 2002.
A Educação Ambiental é aqui compreendida como processo de ensino-aprendizagem para o exercício da responsabilidade social, política e da cidadania no sentido da construção de outras relações sociais, além de novas relações entre os homens e a natureza. Portanto, há necessidade que o educador ambiental se aproprie de um conhecimento complexo, que extrapole os limites de sua formação inicial. A atuação profissional do futuro biólogo na elaboração de projetos em Educação Ambiental também é buscada. Os projetos desenvolvidos na disciplina buscam desenvolver uma prática educativa capaz de deflagrar reflexão crítica que permitirá ao educador ambiental compreenda possíveis formas de resguardar não somente a sobrevivência, mas, sobretudo, a convivência entre as espécies; Desenvolver no aluno a habilidade de elaboração de projetos na área de Educação Ambiental; Proporcionar aos alunos, uma visão geral sobre as principais questões ambientais discutidas na atualidade, desde a dimensão global até o foco nos problemas regionais; Resgatar conceitos das Ciências Naturais já estudados em várias disciplinas e articulá-los na prática educativa; Desenvolver práticas e estudos de casos com os alunos para possibilitar a inter-relação dos fatores socioeconômicos, políticos, culturais que interferem na qualidade de vida das espécies.
Conteúdo Programático: Pressupostos teóricos sobre Educação Ambiental: marcos conceituais; A Educação Ambiental e seus marcos institucionais; A Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA; A Educação Ambiental e o Currículo Escolar; Educação e Meio Ambiente: Formação de educadores ambientais; Agenda 21 na teoria e na prática; A interdisciplinaridade na Educação Ambiental; Elaboração de projetos de Educação Ambiental.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC-SEF, 1997.
DIAS, G. F. Atividades Interdisciplinares de Educação Ambiental. 2. ed. São Paulo: Gaia, 2006.
DIÁZ, A. P. Educação Ambiental como projeto. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.
PHILIPPI JR., A.; PELICIONI, M. C. Educação Ambiental: desenvolvimento de cursos e projetos. 2. ed. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2002.
SMA-SP – Cadernos de Educação Ambiental 1 a 17.
Amostragem em ecologia, índices de riqueza e diversidade, modelos de distribuição e distância. Métodos paramétricos e não-paramétricos para
análises de variância entre dois ou mais grupos de amostras independentes e dependentes. Análises de covariância. Análises paramétrica e nãoparamétrica de correlação. Análise de regressão linear simples e múltipla. Análises multivariadas descritivas e ordenativas (PCA, Cluster, MDS,
Correlação Canônica e Análise Discriminante). Análises de padrões espaciais de distribuição e abundância. Análises da afinidade de espécies e
classificação de comunidades. Meta-análise em ecologia.
Esta disciplina objetiva fornecer ao aluno conceitos fundamentais na análise de dados ecológicos e sua aplicação.
Díaz, F. R. e López, F. J. B. (2007) Bioestatística. Thomson Learning.
Gotelli, N. J. & Ellison, A. M. (2004) A primer of ecological statistics. Sinauer Associates.
Legendre, P. & Legendre, L. (1998). Numerical Ecology. 2nd edition, Elsevier Science.
Ludwig, J. A. & Reynolds, J. F. (1988) Statistical Ecology. A primer on methods and computing. Wiley Interscience.
Magurran, A. E. (2004) Measuring Biological Diversity. Blackwell Publishing.
McGarigal, K., Cushman, S. E., Stafford, S. (2000) Multivariate statistics for wildlife and ecology research. Springer Verlag.
Quinn, G. P. & Keough, M. J. (2002) Experimental Design and data analysis for biologists. Cambridge University Press.
Ruxton, G. D. e Colegrave, N. (2006) Experimental design for the life sciences. 2ª. Ed. Oxford University Press.
Scheiner, S. M. & Gurevitch, J. (2001) Design and data analysis of ecological experiments. 2nd edition, Oxford University Press.
Zar, J. H. (1999) Biostatistical analysis. 4th. ed. Pearson Education.
Butturi-Gomes D, Petrere M. 2020. Edge influence and population aggregation: On point and interval statistical performances of Morisita patchiness index estimators in different sampling schemes. Ecological Indicators 108: 105736.
Butturi-Gomes D, Petrere Junior M, Giacomini HC, De Marco Junior P. 2014. Computer intensive methods for controlling bias in a generalized species diversity index. Ecological Indicators 37: 90–98.
Butturi-Gomes D, Petrere M, Giacomini HC, Zocchi SS. 2017. Statistical performance of a multicomparison method for generalized species diversity indices under realistic empirical scenarios. Ecological Indicators 72: 545–552.
Chao A, Chiu C-H, Hsieh TC. 2012. Proposing a resolution to debates on diversity partitioning. Ecology 93: 2037–2051.
Diggle PJ, Besag J, Gleaves JT. 1976. Statistical Analysis of Spatial Point Patterns by Means of Distance Methods. Biometrics 32: 659.
Efron B, Tibshirani RJ. 1993. An Introduction to the bootstrap. Chapman & Hall: Boca Raton.
Fletcher Jr. RJ. 2005. Multiple edge effects and their implications in fragmented landscapes. Journal of Animal Ecology 74: 342–352.
Hayes J, Castillo O. 2017. A New Approach for Interpreting the Morisita Index of Aggregation through Quadrat Size. International Journal of Geo-Information 6: 296.
Heltshe JF, Forrester NE. 1985. Statistical Evaluation of the Jackknife Estimate of Diversity when Using Quadrat Samples. Ecology 66: 107.
Jost L. 2006. Entropy and diversity. Oikos 113: 363–375.
Krebs CJ. 2014. Ecological Methodology. Benjamin Cummings: San Francisco.
Lloyd M. 1967. Mean Crowding. Journal of Animal Ecology 36: 1–30.
Morisita M. 1959. Measuring the dispersion of individuals and analysis of the distributional patterns. Memoirs of the Faculty of Science, Kyushu University, Series E (Biology) 2: 215–235.
Pallmann P, Schaarschmidt F, Hothorn LA, Fischer C, Nacke H, Priesnitz KU, Schork NJ. 2012. Assessing group differences in biodiversity by simultaneously testing a user-defined selection of diversity indices. Molecular Ecology Resources 12: 1068–1078.
Seber GAF. 2002. The Estimation of Animal Abundance and related parameters. The Blackburn Press: Caldwell.
Taylor LR. 1961. Aggregation, variance and the mean. Nature 189: 732–735.
Thomas M. 1949. A generalization of Poisson’s binomial limit for use in ecology. Biometrika 36: 18–25.
O entendimento das relações entre determinadas culturas e ambientes específicos pode dar-se através da análise das atividades de exploração dos recursos naturais. No caso dos recursos pesqueiros, o primeiro passo é analisar a pesca artesanal e o conhecimento local envolvido. Desta forma, o objetivo principal desta disciplina é compreender o conhecimento ecológico sobre ambientes e recursos pesqueiros aplicados em práticas de conservação de recursos naturais realizadas por populações humanas pesqueiras através dos seguintes temas: Histórico da Etnoecologia. Conceitos e métodos: principais ferramentas conceituais e metodológicas. Modelos teóricos fundamentais. Etnobiologia, Etnoecologia e Etnoconservação. Etnoecologia abrangente. Etnoconservação e Áreas Protegidas. Conceitos da etnoecologia aplicada à conservação. Etnoecologia e Manejo participativo.
Begossi, A. 2008. Local knowledge and training towards management. Environment, Development and Sustainability (in press). [DOI 10.1007/s10668- 008-9150-7].
BEGOSSI, A. (org.) 2004. Ecologia de Pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia. São Paulo: Hucitec. p. 313-324.
Clauzet, M.; Ramires, M.; Barrella, W. 2005. Pesca artesanal e conhecimento local de duas populações caiçaras (Enseada do Mar Virado e Barra do Una) no litoral de São Paulo, Brasil. Multiciencia 4.[on line] (www.multiciencia.unicamp.br).
Clauzet, M.; Ramires, M.; Begossi, A. 2007. Etnoictiologia dos pescadores artesanais da Praia de Guaibim, Valença (BA), Brasil. Neotropical Biology and Conservation 2 (3): 136 - 154.
Diegues, A. C. (Ed.). Etnoconservação. São Paulo: USP/NUPAUB, 2001, 290p.
Diegues, A.C. (orgs). Enciclopédia Caiçara. Volume 1. Núcleo de Apoio a Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas Úmidas Brasileiras (NUPAUB).
Hanazaki, N. 2003. Comunidades, conservação e manejo: o papel do conhecimento ecológico local. Biotemas 16 (1): 23-47.
Marques, J. G. W. 1991. Aspectos ecológicos na etnoictiologia dos pescadores do Complexo Estuarino - Lagunar Mandaú - Manguaba, Alagoas. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas, Brasil, 296 p.
Marques, J. G. 2001. Pescando pescadores: ciência e etnociência em uma perspectiva ecológica. 2ª ed. NUPAUB, USP, São Paulo, Brasil, 258 p.
Mourão, J.S. e Nordi, N. 2006. Pescadores, peixes, espaço e tempo: uma abordagem etnoecológica. Interciencia 31 (5): 358-363.
Nazarea, V. D. (ed.) 1999. Ethnoecology: Situated knowledge/located lives. The University of Arizona Press, Arizona, USA, p.3-20.
Ramires, M.; Molina, S.M.G.; Hanazaki, N. 2007. Etnoecologia caiçara: o conhecimento dos pescadores artesanais sobre aspectos ecológicos da pesca. Biotemas 20 (1): 101 - 113.
Ruddle, K. 2000. Systems of knowledge: dialogue, relationships and process. Environment, Development and Sustainability 2: 277 - 304.
Silvano, R.A.M. e Begossi, A. 2005. Local knowledge on a cosmopolitan fish ethnoecology of Pomatomus saltatrix (Pomatomidae) in Brazil and Australia. Fisheries Research 71: 43-59.
Silvano, R.A.M.; MacCord, P.F.L.; Lima, R.V.; Begossi, A. 2006. When does this spawn? Fishermen's local knowledge of migration and reproduction of Brazilian coastal fishes. Environ Biol Fish 76: 371-386.
Silvano, R.M.A. e Valbo-Jorgensen, J. 2008. Beyond fishermen's tales: contributions of fisher's local ecological knowledge to fish ecology and fisheries management. Environ. Dev. Sustain. v.online, p.onlinefirst.
Toledo, V. M. 1992. What is ethnoecology Origins, scope and implications of a rising discipline. Etnoecológica, 1: 5-21.
Explorar cientificamente a relação interdisciplinar dos agentes biologicamente ativos tradicionalmente empregados ou observados pelo homem. Correlacionar os conceitos da Medicina Tradicional, Fitoquímica, Toxicologia e Ecotoxicologia com os conceitos da Ecologia e da Sustentabilidade.
Esta disciplina tem por objetivo apresentar, contextualizar e explicar aos alunos os conhecimentos da Medicina Tradicional correlacionando com protocolos científicos botânicos, fitoquímicos, farmacológicos, toxicológicos e ecotoxicológicos.
SIMÕES C.M.O.; SCHENKEL E.P.; GOSMANN G.; DE MELLO J.C.P.; MENTZ L.A.; PETROVICK P.R. Farmacognosia: da planta ao medicamento. Editora UFRGS. Porto Alegre-RS. 5ª edição, 2004.
SOUZA, V. C.; LORENZI, H. 2005. Botânica Sistemática: guia ilustrado para identificação das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II. Instituto Plantarum, Nova Odessa.
ROSSATO A.E. Fitoterapia racional: aspectos taxonômicos, agroecológicos, etnobotânicos e terapêuticos. Florianópolis-SC. Editora Dioesc. 2012.
SAAD G.A. Fitoterapia Contemporânea: tradição e ciência na prática clínica. Rio de Janeiro-RJ. Editora Elsevier. 2009.
Retomar, a partir das principais abordagens teóricas da Filosofia da Ciência, as discussões
contemporâneassobreas cidades, a vidaurbana,trabalho e omeio ambiente, emseusmúltiplos
aspectos. Frente aos desafios das Ciências Sociais nomundo contemporâneo, para se analisara
complexidade do reale darrespostasàs questõessocioambientais que hojese apresentam, esta
disciplina se propõe a abrir o debate sobre as metodologias da ciência suas correlações comas
técnicas de pesquisa mais usuais em Ecologia. Apresentar a possibilidade do delineamento de
ummétodo para a ecologia, uma ciênciade acentuada complexidade. Elaboração dos conceitos
filosóficos assim como a discussão da complexidade da vida. Alguns tópicos de natureza
metacientífica tambémserão discutidos. A Moral e a ética dentro da ciência. A bioética. A Ética
ambiental. Problemas contemporâneos relacionados com o desmatamento e o uso de
combustíveisfósseis. A evolução do pensamento ambientalista.
A históriada Ecologiano Brasil e no Mundo. Os principais autores. Textos classicos de Ecologia
que contam a evolução dos conceitos usados emEcologia
Apresentar as bases do pensamento e do desenvolvimento da Ecologia, desde Aristóteles e
Hipócrates até período atual. Serão discutidos de maneira cronológica os principais cientistas e
seus achados científicos de caráter ecológico. Os Séc. XVIII e XIX - a Ecologia como disciplina
científica.OSéc. XX - O conceito de ecossistema e o conceito de sucessão ecológica.Dinâmica e
perspectivas dos processos de transformação do ambienteno Brasil.
Bibliografia Básica para aulas de Filosofia e Ética
Capra, F. E e Luisi P. L. A visão sistêmica da Vida. Roma. Ed. Cultrix 1ª edição. 2014.
Aranha, M. L. Filosofando. São Paulo. Ed. Moderna, 4ª Ed 2009.
Severino, A.J. Filosofia. São Paulo. Ed. Cortez, 211 p. 1994.
Bibliografia Básica de História da Ecologia
ACOT, Pascal. História da ecologia. Rio de Janeiro. Campus, 1990. 212 p.
ÁVILA-PIRES F.D.A Ecologia no Brasil na primeira metade do século XX. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública.
ÁVILA-PIRES, F.D. Fundamentos históricos da ecologia. Ribeirão Preto: Holos, 1999. 298p.
BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin; HARPER. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 4.ed. Porto Alegre, RS; Editor(es): Artmed. 2007. 740 p.
CARSON, R. Primavera Silenciosa. São Paulo: Melhoramentos, 1964.
CROSBY, A.W. Imperialismo ecológico: a expansão da Europa: 900-1900. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 319p.
EHRLICH, P. E; RAVEN, P. H. 1964. Butterflies and plants: a study in coevolution. Evolution 18: 586-608.
GRINNEL, J. 1917. The niche-relationships of the California Thrasher. The Auk 34: 427-33.
HUTCHINSON, G. E. 1957. Concluding remarks. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology 22: 415-27.
LINDEMAN, R.L. 1942. The trophic-dynamic aspect of ecology. Ecology 23: 399-418.
MACARTHUR, R. E; PIANKA, E.R. 1966. On optimal use of a patchy environment. The American Naturalist 100: 603-9.
MARGALEF, R. 1979. Ecologia Editora Omega, S.A. Barcelona.
ODUM, E.P. 1969. The strategy of ecosystem development. Science 164: 262-70.
PAINE, R.T. 1966. Food web complexity and species diversity. The American Naturalist 100: 65-75.
REAL, L. A. e BROWN, JAMES, H. Foundations of Ecology, 1991, The University of Chicago Press.
SCHOENER, T.W. 1971. Theory of feeding strategies. ARES 2: 369-404.
SIMBERLOFF, D. S. e WILSON, E. O. 1969. Experimental zoogeography of islands: the colonization of empty islands.
TANSLEY, A.G. 1935. The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology 16: 284-307.
Nesta disciplina serão ministrados os conceitos teóricos que embasam as auditorias
ambientais, a definição de seu conceito e suas aplicações. Será explorado o uso da Auditoria
ambiental como ferramenta no processo de prevenção, eliminação e mitigação dos impactos
ambientais provenientes de empreendimentos já implantados ou projetos futuros. Será
proposto o estudo e aplicabilidade das normas e da legislação nacionais e internacionais que
baseiam as auditorias ambientais, ISOs, e aspectos legais da auditoria ambiental. Assim, a
disciplina visa definir o papel do profissional em auditoria ambiental no atual contexto do meio
ambiente.
ABNT. Normas NBR ISO série 14.000. Rio de Janeiro: ABNT: 1996-2002.
ABNT. Normas NBR ISO série 19.000. Rio de Janeiro: ABNT: 2002.
ANTUNES, P.B. Auditorias Ambientais: competências Legislativas. Revista de Informação Legislativa, Brasília, a. 35, nº 137, jan./mar. 1998, pp. 119-124. Disponível em:
D'AVIGNON, A.; LA ROVERE, E.L. Manual de auditoria ambiental. 2.ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001.
KRONBAUER, C.A. et al. Auditoria e evidenciação ambiental; um histórico das normas brasileiras, americanas e europeias. Revista de Contabilidade e Controladoria, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, v. 2, n. 2, p. 30-49, mai./ago. 2010. Disponível em: .
PIVA, A.L. Auditoria Ambiental: Um Enfoque Sobre a Auditoria Ambiental Compulsória e a Aplicação dos Princípios Ambientais. Artigo publicado no II Seminário sobre sustentabilidade promovido pela FAE Centro Universitário de Curitiba, em 2007. Disponível em:
SALES, Rodrigo. Auditoria ambiental e seus aspectos jurídicos. 1ª. Ed. São Paulo: LTr, 2001.
Conservação, conceitos e aplicações. Genes nas populações, frequências gênicas e deriva gênica. Marcadores moleculares e aplicações na conservação das espécies. Variabilidade gênica. Tamanho efetivo populacional. Estrutura populacional e fluxo gênico. Filogeografia. Manejo genético de espécies ameaçadas. Emprego de programas computacionais em análises genéticas. Aplicações da genética na conservação de espécies
- Compreender a dinâmica dos genes nas populações
- Saber calcular as frequências gênicas e genotípicas com base nos dados populacionais,
- Conhecer o uso dos polimorfismos (de proteínas e de DNA) nas inferências das relações entre organismos
- Reconhecer que o modelo de genética populacional serve como hipótese base para estudos de alterações em populações naturais
- Saber como analisar os polimorfismos de marcadores dominantes e codominantes
- Conhecer os métodos estatísticos das análises populacionais
FRANKHAM, R.; BALLOU, J.D.; BRISCOE, D.A. Fundamentos da genética da conservação. Ribeirão Preto, SP: SBG (Sociedade Brasileira de Genética). 280 p. 2008.
HARTL, D.L.; CLARK, A.G. Princípios de Genética de Populações. 4 ed. Porto Alegre: Artmed. 660 p. 2010.
SOLÉ-CAVA, A. M. & CUNHA, H. A. A genética e a conservação da natureza. In S. R. Matioli, e F. M. C. Fernandes (Eds.). Biologia Molecular e Evolução. Ribeirão Preto: Holos. p.217-228. 2012.
AVISE, J.C. Molecular Markers, Natural History, and Evolution. New York: Chapman and Hall, 511 p. 1994.
AVISE, J.C. Phylogeography: The History and Formation of Species. Cambridge: Harvard University Press. 447 pp. 2000.
GRIFFITHS, A.J. F. et al. Introdução à genética. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 743 p. 2006.
PIERCE, B.A. Genética: um enfoque conceitual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 758 p. 2004.
SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos de genética. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 903 p. 2008.
A disciplina visa introduzir aspectos gerais da Genética da Conservação aos alunos. Aborda suas principais teorias e práticas laboratoriais, como extração de DNA, PCR, eletroforese e de sequenciamento de DNA tradicional e de Nova Geração (NGS). Além disso, introduzirá análises e a manipulação de dados genéticos aplicadas à conservação de organismos marinhos. Serão abordados temas como identificão e delimitação de espécies, diversidade genética, genética de populações, filogeografia, filogenética, fluxo gênico, entre outras, para que os alunos conheçam as abordagens para a geração de dados biológicos para a conservação de espécies e suas implicações para o uso sustentável dos recursos naturais marinhos.
ALLENDORF, F. W., HOHENLOHE, P. A., & LUIKART, G. (2010). Genomics and the future of conservation genetics. Nature reviews genetics, 11(10), 697. https://doi.org/10.1038/nrg2844.
FRANKHAM, R., BALLOU, J. D., & BRISCOE, D. A. (2008). Fundamentos de genética da conservação. Sociedade Brasileira de Genética. 259 p. ISBN: 978-85-89265-08-9.
MOREIRA, L. M. (2015). Ciências genômicas: fundamentos e aplicações. Sociedade Brasileira de Genética. 403 p. ISBN 978-85-89265-22-5.
A disciplina visa introduzir aspectos gerais da Genética da Conservação aos alunos. Aborda suas principais teorias e práticas laboratoriais, como extração de DNA, PCR, eletroforese e de sequenciamento de DNA tradicional e de Nova Geração (NGS). Além disso, introduzirá análises e a manipulação de dados genéticos aplicadas à conservação de organismos marinhos. Serão abordados temas como identificacão e delimitação de espécies, diversidade genética, genética de populações, filogeografia, filogenética, fluxo gênico, entre outras, para que os alunos conheçam as abordagens para a geração de dados biológicos para a conservação de espécies e suas implicações para o uso sustentável dos recursos naturais marinhos.
ALLENDORF, F. W., HOHENLOHE, P. A., & LUIKART, G. (2010). Genomics and the future of conservation genetics. Nature reviews genetics, 11(10), 697. https://doi.org/10.1038/nrg2844.
FRANKHAM, R., BALLOU, J. D., & BRISCOE, D. A. (2008). Fundamentos de genética da conservação. Sociedade Brasileira de Genética. 259 p. ISBN: 978-85-89265-08-9.
MOREIRA, L. M. (2015). Ciências genômicas: fundamentos e aplicações. Sociedade Brasileira de Genética. 403 p. ISBN 978-85-89265-22-5.
As complexidades da zona costeira juntamente com as pressões antrópicas sofridas, como urbanização, impactos na biodiversidade e nos recursos hídricos, requerem soluções integradas. Nesta disciplina serão abordadas as fragilidades e vulnerabilidades biofísicas e sócio-econômicas dos sistemas costeiros em face da necessidade de conservação dos recursos naturais. Fundamentos teóricos e práticos necessários para o manejo sustentável serão apresentados e discutidos. As experiências nacionais e internacionais, os instrumentos disponíveis e estudos de caso serão apresentados e discutidos a fim de consolidar os conhecimentos adquiridos e experimentar a capacidade de síntese, articulação e coordenação do processo de gestão costeira integrada.
BARRAGÁN MUÑOZ, J.M. (coord.). (2010). Manejo Costero Integrado y Política Pública en Iberoamérica: Un diagnóstico. Necesidad de Cambio. Red IBERMAR (CYTED), Cádiz, Espanha. ISBN: 978-84-693-0355-9. 380 pp. Disponível em: http://hum117.uca.es/ibermar/Resultados%20y%20descargas/librodiagnosticoibermar.
ZAMBONI, A.; NICOLODI, J.L. (org.). (2008). Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha do Brasil. 242p., Ministério do Meio Ambiente (MMA), Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, Brasília, DF, Brasil. ISBN 978-8577381128. Disponível em: http://www.laget.eco.br/index.php?option=com_content&view=article&id=62:macrodiagnostico&catid=43:mapas-e-cartas&Itemid=5.
O programa da disciplina se desenvolve basicamente em duas partes. Na Parte 1 serão abordadas temáticas na área da Gestão Social. Já na Parte 2, as abordagens se darão na Gestão Ambiental.
A disciplina Gestão Socioambiental possibilitará ao mestrando aplicar os principais conceitos apresentados em questões socioambientais, sendo este o principal foco.
Proporcionar aos mestrandos, informações acerca de novas realidades e questões tais como: Terceiro Setor, Responsabilidade Social Corporativa e, Ambiental, levando-os à reflexão de que o crescimento das Organizações Sociais tem alterado o comportamento e formas de gestão do mundo empresarial e principalmente na sociedade.
Identificar os pressupostos básicos e científicos da Gestão Ambiental e da Legislação Ambiental no Brasil; Levar o aluno à reflexão sobre conceitos modelos e instrumentos da Gestão Ambiental; Apresentar modelos de referência mundial em Gestão Ambiental.
Adquirir fundamentação teórica e prática para elaboração dos sistemas de Gestão Ambiental;
Conhecer o caráter teórico-metodológico das auditorias ambientais nas empresas.
Adquirir a fundamentação para elaboração dos Estudos do Meio Ambiente e do Relatório de Impactos Ambiental (EIA-RIMA).
Uma das premissas fundamentais é oferecer aos mestrandos uma visão real da relevância que estas novas questões e cenários vem assumindo, bem como seu posicionamento no contexto das organizações empresariais, e na sociedade como um todo.
BARBIERI, José Carlos - Gestão Ambiental Empresarial: conceitos modelos e instrumentos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 328p.
CAVALCANTI, Marly (org.). Gestão social, estratégias e parcerias: redescobrindo a essência da administração brasileira de comunidades para o terceiro setor. São Paulo: Saraiva, 2006.
MATOS, Maria Cristina P.. Alianças intersetoriais: um estudo no município de Cubatão/SP. São Paulo: FEAUSP, Tese de doutoramento, 2007.
NASCIMENTO, Luis Felipe. Gestão socioambiental estratégica. Porto Alegre: Bookman, 2008.
BRASIL, Coletânea de Legislação de Direito Ambiental - Odete Medaur Org. 7ª Ed. - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008. 1117p.
DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. São Paulo: Atlas, 2006.
GUEVARA, Arnaldo Jose de H. (et all). Educação para a era da sustentabilidade. São Paulo: Saint Paul, 2011.
JANNUZZI, Paulo de M. Indicadores sociais no Brasil: conceitos, fontes de dados e aplicações. 2. ed. Campinas/SP: Alínea, 2003.
PALMA, Cléia Aparecida; OLIVEIRA, Charles Artur Santos de, LOSADA, Daniel R. Educação ambiental: uma abordagem pedagógica, social e econômica. Santos/SP: Gráfica da Fundação Lusíada, 2004.
SEIFFERT, M. E. B. ISO 14001 - Sistemas de Gestão Ambiental: Implantação Objetiva e Econômica. São Paulo, Atlas, 2006.
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social: estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 2. ed. rev e ampl.. São Paulo: Atlas, 2004.
TENORIO, Fernando G. (org.) Responsabilidade social empresarial: teoria e prática. Rio de Janeiro: FGV, 2004.
Discutir quais são as possibilidades de alcançar a sustentabilidade na pesca de crustáceos, através de um conceito multidimensional onde considerações biológicas-ecológicas, sociais, econômicas e tecnológicas serão abordadas. Ainda será visto como a sustentabilidade social e econômica não pode se sobrepor à ecológica, e sua relação com as limitações naturais da produção biológica. Analisar a explotação de recursos pesqueiros e sua relação com a legislação vigente.
FAO. 1993. Marine Fisheries and the law of the Sea: A decade of change. Special chapter revised of the state of Food and Agriculture 1992. FAO Fisheries Circulars nº. 853. Rome, 66p.
Fonteles-Filho, A.A. 1989. Resursos Pesqueiros: Biologia e Dinâmica Populacional. Imprensa Oficial do Ceará, Fortaleza, 296p.
Melo G.A.S. 1996. Manual de identificação dos Brachyura (caranguejos e siris) do litoral brasileiro. Plêiade/FAPESP Ed., São Paulo, 604p.
Melo, G. A.S. 1999. Manual de identificação dos Crustacea Decapoda do Litoral Brasileiro: Anomura, Thalassinidea, Palinuridea, Astacidea. Plêiade/FAPESP Ed., São Paulo, 551p.
Santos, E.P. 1978. Dinamica de Populações Aplicada a Pesca e Piscicultura. HUCITEC/EDUSP, São Paulo, 129p.
Martin, J. W. & G. E. Davis. 2001. An updated classification of the recent Crustacea. Science Series 39. Natural History Museum of Los Angeles County. 124p.
O que é energia
Histórico e princípios termodinâmicos
Soluções tecnológicas para sua obtenção – tipos de energia - hidrelétrica, nuclear (fissão e fusão), biomassa, biocombustível, solar, eólica, derivada do petróleo (carvão mineral, petróleo e gás natural), o gás de xisto, o catrato ou hidrato de metano, a energia de marés, a energia derivada das ondas oceânicas
Contrastes entre as diferentes formas e usos
Argumentos econômicos para sua escolha
Impactos ambientais e sociais
O futuro da energia e o aquecimento global
Geoengenharia
Goldemberg, J e O. Lucon. 2012. Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento. EDUSP, São Paulo, 400p.
Pullianm, N. 2011. Energy and the Environment. The English Press, Delhi, 111p.
Rao, K.R. (ed.). 2011. Energy and Power Generation Handbook. Established and Emerging Technologies. Asme, NY, 718 p.
Shogren, J.F. 2013. Encyclopedia of Energy, Natural Resource and Environmental Economics. Volume I – Energy. Elsevier, Amsterdam, 1057p.
Ementa:A disciplina tem como foco fornecer uma ampla discussão sobre manejo de recursos naturais e as diversas vertentes relacionadas a conservação que o manejo implica. As aulas serão baseadas em diferentes aspectos, históricos, conceituais e atuais, sobre a inteiração do Homem e do Meio Ambiente na busca pelo desenvolvimento sustentável. Alguns temas que farão parte da disciplina serão: histórico das inteirações entre populações humanas e recursos naturais; teoria dos recursos naturais de uso comum; co-manejo, manejo participativo e adaptativo. Abordagem de iniciativas locais, regionais, nacionais e internacionais de manejo dos recursos naturais; integração entre o conhecimento científico e o conhecimento das populações ecológico local e etnoconservação; resiliência, entre outros. A disciplina tem por objetivo também, desenvolver o potencial que cada dissertação de aluno participante tem, na sua área de pesquisa, para abordar as questões de conservação e manejo dos recursos naturais dentro de seu tema especifico.
ADGER, W.N. Social and ecological resilience: are they related? Progress in Human Geography v. 24, n. 3, p. 347–36, 2000.
BEGOSSI, A.; LOPES, P.F. (org.). Comunidades Pesqueiras de Paraty: Sugestões para manejo. São Carlos: RIMA, 2014.
CARLSSON, L. & BERKES, F. Co-management: concepts and methodological implications. Journal of Environmental Management. v. 75, p. 65-76, 2005.
LOPES, P.F.M.; ROSA, E.M.; SALYVONCHYK, S.; NORA, V.; BEGOSSI, A. Suggestions for fixing top-down coastal fisheries management through participatory approaches. Marine Policy n. 40, p. 100–110, 2013.
RUDDLE, K; DAVIS, A. What is ‘‘Ecological’’ in Local Ecological Knowledge? Lessons from Canada and Vietnam. Society and Natural Resources, n. 0, p. 1–15, 2011.
TUCKER, M. CATARINE Learning on Governance in Forest Ecosystems: Lessons from Recent Research. International Journal of the Commons, Vol. 4, no 2 August 2010, pp. 687–706. URL: http://www.thecommonsjournal.org
As complexidades da zona costeira juntamente com as pressões antrópicas
sofridas, como urbanização, impactos na biodiversidade e nos recursos
hídricos, requerem soluções integradas. Nesta disciplina serão abordadas as
fragilidades e vulnerabilidades biofísicas e sócio-econômicas dos sistemas
costeiros em face da necessidade de conservação dos recursos naturais.
Fundamentos teóricos e práticos necessários para o manejo sustentável serão
apresentados e discutidos. As experiências nacionais e internacionais, os
instrumentos disponíveis e estudos de caso serão apresentados e discutidos a
fim de consolidar os conhecimentos adquiridos e experimentar a capacidade de
síntese, articulação e coordenação do processo de gestão costeira integrada.
Barragán Muñoz, J.M. (coord.). Manejo Costero Integrado y Política Pública en Iberoamérica: Un diagnóstico. Necesidad de Cambio. Red IBERMAR (CYTED), Cádiz, Espanha. ISBN: 978-84-693-0355-9. 380 pp. Disponível em: http://hum117.uca.es/ibermar/Resultados%20y%20descargas/librodiagnosticoibermar
Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída pela Lei n° 6.938 de 31/10/1981, e da Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM), conforme diretrizes estratégicas de 12/05/1980.
Zamboni, A.; Nicolodi, J.L. (org.). Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha do Brasil. 242p., Ministério do Meio Ambiente (MMA), Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, Brasília, DF, Brasil. ISBN 978-8577381128. Disponível em http://www.laget.eco.br/index.php?option=com_content&view=article&id=62:macrodiagnostico&catid=43:mapas-e-cartas&Itemid=5
Introdução de conceitos sobre manejo e co-manejo de recursos naturais que são
explorados por populações humanas. Teoria dos comuns. Abordagem do manejo
participativo e adaptativo. Iniciativas locais, regionais, nacionais e internacionais de
manejo e co-manejo dos recursos naturais que integram o conhecimento científico e o
conhecimento das populações humanas. Etnoconservação. Sustentabilidade dos sistemas
de manejo.
Begossi, A. 2004. Àreas, pontos de pesca, pesqueiros e territórios na pesca artesanal. Pp. 223-254. In: Alpina Begossi (Org.). Ecologia de Pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia. São Paulo: NUPAUB/HUCITEC/FAPESP/NEPAM. 332p.
Berkes, F. & Folke, C. 1998. Linking Ecological and Social Systems for Resilience and Sustainability. Pp. 1-26. In: Berkes, F.; Folke, C.; Colding, J. (Eds.). Linking Social and Ecological Systems: management practices and social mechanisms for building resilience. Cambridge University Press. 437 p.
Carlsson, L. & Berkes, F. 2005. Co-management: concepts and methodological implications. Journal of Environmental Management. 75 (2005): 65-76.
Diegues, Antonio Carlos Santana & Castro, André Moreira. 2001. Espaços e Recursos Naturais de Uso Comum. São Paulo: Núcleo de apoio a pesquisa em áreas úmidas Brasileiras. Universidade de São Paulo. São Paulo, SP.
Johannes, R. E. 1998. The case for data-less marine resource management: Examples from tropical nearshore finfisheries. Trends in Ecology and Evolution. 13 (6): 243–246.
Ostrom, E. 1990. Reflections on the commons. Pp. 1-28. In: Ostrom, E. Governing the Commons: The evolution of collective institutions for collective action. Cambridge University Press. Cambridge, UK. 298 p.
Ostrom, E; Diez, T; Dolsack, N; Stern, P. C; Stonich, S. & Weber, E. U. 2001. The Drama of the Commons. Pp. 3-35. In: Ostrom, E; Diez, T; Dolsack, N; Stern, P. C; Stonich, S. & Weber, E. U. (Eds.). The Drama of the Commons. National Academic Press. Washington, DC, USA. 489p.
Ruddle, K. & Hickey, F. 2008. Accounting for the Mismanagement of Tropical Nearshore Fisheries. Environment, Development and Sustainability. 10 (5): 565-589.
ISAAC, V. J.; A. S. MARTINS; M. HAIMOVICI; J. M. ANDRIGUETTO FO. (org.). A pesca marinha e estuarina no Brasil no início do século XXI: recursos, tecnologias, aspectos socioeconômicos e institucionais. Ed. Universitária UFBA, Belém. 188 p., 2006.
SPARRE, P. & VENEMA, S. C. 1997. Introdução à avaliação de mananciais de peixes tropicais. Parte 1 - Manual. FAO Documento Técnico Sobre as Pescas 306/1. Rev.2: 404p.
PAIVA, M.P. 1997. Recursos pesqueiros estuarinos e marinhos do Brasil (REVIZEE). Fortaleza. EOFC. 278 P.
DIAS-NETO, J. 2003. Gestão do uso dos recursos pesqueiros marinhos no Brasil. Brasília, IBAMA, 242 p.
Fundamentos de geoprocessamento de imagens; Fundamentos de cartografia e do sistema WGS84; uso de bases de dados raster e dados vetoriais open layers e camadas; uso do software livre Quantum GIS (Qgis v. 2.14 ou superior); Interfaces do Qgis; arquivos shapefile; renderização de mapas; uso de referências GPS; catálogos de imagens de satélites CEBERS, LandSat, ResourceSat.
PAESE, A.; UEZU, A.; LORINI, M.L.; CUNHA, A. Conservação da Biodiversidade com SIG. E-book: Oficina de textos, 2012 CPLA – Coordenadoria de Planejamento Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente SP – Mapas.
INCRA – Apostila para o uso de mapas de ocupação de áreas recobertas pelo QGIS. 2016.
NANNI A.S.; DESCOLVI FILHO L.; VIRTUOSO, M.A.; MONTENEGRO D.; WILLRIGH G.; MACHADO P.H.; SPERB R.; DANTAS G.S.; CALAZANS Y. Quantum GIS – Guia do Usuário, Versão 1.7.4 Wroclaw. 2016.
Desenvolvimento de projetos em campo visando o aprendizado e a prática de metodologias de ecologia em áreas naturais. Abordagens naturalísticas de ecossistemas visando ao aprendizado de ecólogos em diferentes linhas de pesquisa. Metodologia para obtenção de dados em campo nas áreas de: botânica (ecologia); plantas medicinais; ecotoxicologia e ecologia marinha; pesca e aqüicultura; ecologia humana e etnoecologia aplicada aos recursos pesqueiros. Coleta de dados ligados às ciências humanas e conseqüente escolha de método de campo.
Apresentar a importância de estudos de campo como ferramenta didática no ensino de ecologia;
Discutir sobre algumas técnicas de amostragem e de desenho experimental;
Coletar dados e amostras necessárias para responder perguntas e testar hipóteses em Ecologia;
Analisar dados coletados, interpretá-los e gerar trabalhos científicos.
Almeida, E.R. & Vaz da Silva, M. S. Uma abordagem reflexiva sobre a realização do trabalho prático de campo como instrumento da construção do conhecimento. Curitiba, II Simpósio Nacional de Ensino de Ciência e Tecnologia. UTFPR/ PPGECT. 2010.
Amorozo, M.C.M., Ming, L.C., Silva, S.M.P. (eds.) Métodos de Coleta e Análise de Dados em Etnobiologia, Etnoecologia e Disciplinas Correlatas. Seminário de Etnobiologia e Etnoecologia do Sudeste. Anais, Rio Claro/SP: 29/11 a 01/12/2001. Coordenadoria de Área de Ciências Biológicas. UNESP/CNPq. p. 93 - 128.
Barnes, R. S. K.; Mann, K. H. Fundamentals of aquatic ecology. 2.ed. Blackwell Science. Oxford. 1991. 270 p.
BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin; HARPER. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 4.ed. Porto Alegre, RS; Editor(es): Artmed. 2007. 740 p.
Gardner, Robert H. et al. Scaling relations in experimental ecology. New York. 2001. 373 p.
Gevertz, R. et AL. Em busca do conhecimento ecológico: uma introdução à metodologia. São Paulo. Ed. Edgar Blücher Ltda. 1995.
LANA, P. C.; BIANCHINI, A.; RIBEIRO, C.A.O.; NIECHENSKI, L.F.H.; FILLMAN, G.; SANTOS, C.S.G. Avaliação Ambiental de Estuários Brasileiros: Diretrizes Metodológicas. Rio de Janeiro: Museu Nacional, 2006. 156p.
NASCIMENTO, I. A.; SOUSA, E. C. P. M.; NIPPER, M. Métodos em Ecotoxicologia Marinha: Aplicações no Brasil. São Paulo: Editora Artes Gráficas e Indústria Ltda., 2002. 262p.
Begossi, A. (org.) Ecologia de pescadores da mata atlântica e da Amazônia. São Paulo: Ed. Hucitec. 332 p.
Begossi, A. Métodos e Análises em Ecologia de Pescadores. In: Garay, Irene E. G. e Becker, B. K. 2006. As Dimensões Humanas da Biodiversidade: o desafio de novas relações sociedade-natureza no século XXI. Petrópolis: Editora Vozes. p.229 - 313.
Berchez, F. A. S.; Rosso, S.; Ghilardi, N. P.; Fujii, M. T.; Hadel, V. F. Characterization of hard bottom marine benthic communities: the physiognomic approach as an alternative to traditional methodologies. In: Sociedade Brasileira de Ficologia (Org.). Formação de ficólogos: um compromisso com a sustentabilidade dos recursos aquáticos. Rio de Janeiro, Museu Nacional, Série Livros 10, p. 207-220.
Brower, E.J. & J.H. Zar Field and Laboratory Methods for General Ecology. WCB Publish. Dubuque. 1984.
Green, R.H. Sampling Design and Statistical Methods for Environmental Biologists. John Wiley & Sons Inc. New York. 1979.
GRIME, J. P. Plant Strategies, Vegetation Processes, and Ecosystem Properties, 2nd ed. New York: Wiley & Sons, 2001.
GIBSON, D. J. Methods in Comparative Plant Population Ecology. Oxford. Oxford University Press. 2002. 352 p.
Jones, W. E.; Bennell, S.; Beveridge, C.; McConnell, B.; Mack-Smith, S.; Mitchell, J. Methods of data collection and processing in rocky intertidal monitoring. In: PRICE, J.M. et al. eds. The shore environment. London, Academic Press. v. 1 p.137-70. (Syst. Assoc. Spec. 17a). 1980.
John, D. M.; Lieberman, D.; Lieberman, M. Strategies of data collection and analysis of subtidal vegetation. In: PRICE, J.M. et al. eds. The shore environment. London, Academic Press. v. 1 p.265-84. (Syst. Assoc. Spec. 17a). 1980.
Kingsford, M. & Battershill, C. (eds.) Studying temperate environments. A handbook for ecologists. Cantebury University Press. Christchurch, New Zealand. 1998.
MÜELLER-DOWBOIS, D. & ELLENBERG, E. Aims and methods of vegetation ecology. Wiley & Sons, New York. 1974.
VERGARA, S. C. Método de coleta de campo. São Paulo. Ed Atlas 2009. 102 p.
VIEIRA S. Como elaborar questionários de campo. São Paulo. Ed. Atlas 2009. 162p.
Holme, N.A. & McIntire, A. D. (eds.) Methods for the study of marine benthos. 2nd. ed. Blackwell Scientific Publicantions, Oxford. 1984.
KREBS, J.C. Ecological Methodology. New York, Harper & Row Publ. 654p. 1989.
LARCHER, W. Ecofisiologia Vegetal. Rima, São Carlos. 2006.
Meese, R. J. & Tomich, P. A. Dots on the rocks: a comparison of percent cover estimation methods. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 165(1): 59-73. 1992.
Preskitt, L. B.; Vroom, P. S.; Smith, C. M. A rapid ecological assessment (REA) quantitative survey method for benthic algae using photoquadrats with scuba. Pacific Sci. (58)2: 201-209. 2004.
Sabino, C. M. & Villaça, R. Estudo comparativo de métodos de amostragem de comunidades de costão. Rev. Bras. Biol. 59(3): 407-419. 1999.
SCHAEFFER-NOVELLI, Yara; CINTRóN, Gilberto Guia para estudo de áreas de manguezal: estrutura, função e flora. São Paulo: Caribbean Ecological Research, 1986.
O curso visa capacitar o estudante a desenvolver critérios para coleta, análise e interpretação de dados em Ecologia. Serão usados o Programa SYSTAT 11 e o R, porém cada método será primeiro ensinado à mão e depois ilustrado com o uso dos programas.
1. PROGRAMA
A) Teoria
1. Dados em ciências biológicas - escalas de medida
2. O problema intrínseco da amostragem e da inferência estatística
3. Estatística descritiva
3.1. A média aritmética
3.2. A média geométrica
3.3. A média harmônica
3.4. A moda
3.5. A mediana
3.6. A variância e o desvio padrão
3.7. O coeficiente de variação
4. A distribuição normal de probabilidades
4.1. Propriedades
4.2. O Teorema do limite central
4.3. Aplicaçöes
5. Testes de hipóteses e teoria da estimação
5.1. A distribuição "t" de Student
5.2. A distribuição de qui-quadrado
5.3. Intervalos de confiança
6. Regressão
6.1. Definição de modelos lineares
6.2. A regressão linear simples
6.3. A regressão linear múltipla
6.4. A regressão não-linear
6.5. A análise de covariância
Livros Principais:
BUSSAB, WO E PA MORETTIN. 2002. Estatística Básica. 5a. ed. Saraiva, São Paulo, 521p.
CAMPOS, H. 1983 - Estatística Experimental não Paramétrica. 4a. edição, USP/ESALQ, Piracicaba.
DANIEL, WW. 1995. Biostatistics. A Foundation for Analysis in the Health Sciences. 6a. Ed., Wiley, NY.
DYTAM, C. 1999. Choosing and Using Statistics. Blackwell, Oxford, 218p.
DEMING, WE. 1950. Some Theory of Sampling. Dover, NY.
GOTELLI, N.J. e A.M. ELLISON. 2004. A Primer of Ecological Statistics. Sinauer, Sunderland.
GRAFEN, A. e R. HAILS. 2002. Modern Statistics for the Life Sciences. Oxford University Press, Oxford, 351p.
KREBS, C.J. 1999. Ecological Methodology. 2a. ed. Harper & Row, N.Y.
MEAD, R. & R.N. CURNOW. 1983. Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology. Chapman and Hall, Londres.
QUINN, G.P. & M.J.. Keough. 2002. Experimental Design and Data Analysis for Biologists. Cambridge University Press, Cambridge.
SNEDECOR, G.W. & W.G. COCHRAN. 1967. Statistical Methods. 6a. ed., Iowa State College Press, Ames., 593p.
SOKAL, R.R. & F.J. ROHLF. 1995. Biometry. 3a. ed., Freeman, San Francisco.
VIEIRA, S. 2006. Análise de Variância (ANOVA). Atlas, São Paulo.
ZAR, J.H. 2010. Biostatistical Analysis. 5a. ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
Periódicos Principais:
American Statistician
Applied Statistics
Biometrika
Biometrics
Ecology
JASA - Journal of the American Statistical Association
Journal of the Royal Statistics Society, sér. B
The Statistician
Technometrics
O curso visa capacitar o estudante a desenvolver critérios para coleta, análise e interpretação de dados em Ecologia. Serão usados o Programa SYSTAT 11 e o R, porém cada método será primeiro ensinado à mão e depois ilustrado com o uso dos programas.
1. PROGRAMA
A) Teoria
1. Testes de comparação de duas amostras
1.1. Testes paramétricos
1.1.1. Testes pareados e não pareados - eficiência do pareamento
1.1.2. O teste "t" pareado
1.1.3. O teste "t" não pareado
1.2. Testes não paramétricos
1.2.1. O teste do sinal
1.2.2. O teste de Wilcoxon
1.2.3. O teste de Wilcoxon-Mann-Whitney
2. Delineamento experimental
2.1. Princípios gerais
2.2. Randomização
2.3. Replicação e pseudoreplicação
2.4. Controle (experimental e estatístico)
3. A análise de variância - ANOVA
3.1. Introdução ao problema da comparação de várias amostras
3.2. "One way" ANOVA
3.3. "Nested" ANOVA
3.4. "Two way" ANOVA
Livros Principais:
i>BUSSAB, WO E PA MORETTIN. 2002. Estatística Básica. 5a. ed. Saraiva, São Paulo, 521p.
CAMPOS, H. 1983. Estatística Experimental não Paramétrica. 4a. edição, USP/ESALQ, Piracicaba.
DANIEL, WW. 1995. Biostatistics. A Foundation for Analysis in the Health Sciences. 6a. Ed., Wiley, NY.
DYTAM, C. 1999. Choosing and Using Statistics. Blackwell, Oxford, 218p.
DEMING, WE. 1950. Some Theory of Sampling. Dover, NY.
GOTELLI, N.J. e A.M. ELLISON. 2004. A Primer of Ecological Statistics. Sinauer, Sunderland.
GRAFEN, A. e R. HAILS. 2002. Modern Statistics for the Life Sciences. Oxford University Press, Oxford, 351p.
KREBS, C.J. 1999. Ecological Methodology. 2a. ed. Harper & Row, N.Y.
MEAD, R. & R.N. CURNOW. 1983. Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology. Chapman and Hall, Londres.
QUINN, G.P. & M.J. Keough. 2002. Experimental Design and Data Analysis for Biologists. Cambridge University Press, Cambridge.
SNEDECOR, G.W. & W.G. COCHRAN. 1967. Statistical Methods. 6a. ed., Iowa State College Press, Ames., 593p.
SOKAL, R.R. & F.J. ROHLF. 1995. Biometry. 3a. ed., Freeman, San Francisco.
VIEIRA, S. 2006. Análise de Variância (ANOVA). Atlas, São Paulo.
ZAR, J.H. 2010. Biostatistical Analysis. 5a. ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
Periódicos Principais:
American Statistician
Applied Statistics
Biometrika
Biometrics
Ecology
JASA - Journal of the American Statistical Association
Journal of the Royal Statistics Society, sér. B
The Statistician
Technometrics
Introdução e comportamento de contaminantes em ambientes aquáticos. Discussão sobre Linhas-de-Evidência clássicas: contaminação; toxicidade (bioquímica à populações); estrutura de comunidade bentônica. Apresentação dos diferentes métodos integrados: métodos baseados em índices e baseados em estatística multivariada.
Introdução e comportamento de contaminantes em ambientes aquáticos. Discussão sobre Linhas-de-Evidência clássicas: contaminação; toxicidade (bioquímica à populações); estrutura de comunidade bentônica. Apresentação dos diferentes métodos integrados: métodos baseados em índices e baseados em estatística multivariada.
Barceló, D.; Petrovic, M. (eds.) 2007. Sustainable Management of Sediment Resources. Vol. 1: Sediment Quality and Impact Assessment of Pollutants. Elsevier B.V., The Netherlands. 333 p.
CETESB 2007. Aplicação da tríade na avaliação da qualidade de sedimentos em redes de monitoramento. Relatório Técnico. Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/publicacoes.asp
CETESB 2006. Desenvolvimento de índices biológicos para monitoramento em reservatórios do Estado de São Paulo. Relatório Técnico. Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/publicacoes.asp
Gusso-Choueri et al 2016. Assessing genotoxic effects in fish from a marine protected area influenced by former mining activities and other stressors. Marine Pollution Bulletin 104(1-2):229-39.
Gusso-Choueri et al 2015. Assessing pollution in marine protected areas: the role of a multi-biomarker and multi-organ approach. Environmental Science and Pollution Research International 15;22(22):18047-65.
Choueri, R.B. 2008. Armonización del protocolo de evaluación de calidad de sedimentos y materiales dragados en zonas de estuarios y portuarias del Atlántico. Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de Química-Física da Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales da Universidad de Cádiz. Cádiz. 241 p.
NRC (National Research Council) 1989. Contaminated Marine Sediments: Assessment and Remediation. Committee on Contaminated Marine Sediments Marine Board, Commission on Engineering and Technical Systems, National Research Council. National Academic Press, Washington DC, USA. 493 p. Disponível em: http://www.nap.edu/catalog/1412.html
NRC (National Research Council) 2003. Bioavailability of Contaminants in Soils and Sediments: Processes, Tools, and Applications. Committee on Bioavailability of Contaminants in Soils and Sediments, Water Science and Technology Board, Division on Earth and Life Studies, National Research Council. National Academic Press, Washington DC, USA. Disponível em: http://www.nap.edu/catalog/10523.html
Pereira, C.D.S., Abessa, D.M.S., Bainy, A.C.D., Zaroni, L.P., Gasparro, M.R., Bicego, M.C., Taniguchi, S., Furley, T.H., Sousa, E.C.P.M. 2007. Integrated assessment of multilevel biomarker responses and chemical analysis in mussels from São Sebastião, São Paulo, Brazil. Environ. Toxicol. Chem. 26, 462–469.
Riba, I; Forja, JM; Gómez-Parra, A; DelValls, TA 2004. Sediment quality in littoral regions of the Gulf of Cádiz: a triad approach to address the influence of mining activities. Environmental Pollution 132: 341-353.
Simpson SL, Batley GE, Chariton AA, Stauber JL, King CK, Chapman JC, Hyne RV, Gale SA, Raoch AC, Maher WA 2005. Handbook for Sediment Quality Assessment. CSIRO, Bangor NSW. Disponível em: http://www.clw.csiro.au/cecr/sedimenthandbook
Discutir, empregando unidades na escala de bancada, com enfoque sustentável (ambiental, social e econômico) formas otimizadas de seleção, projeto e manutenção de equipamentos e periféricos de processos químicos e petroquímicos: a) bombas de pistão, diafragma, engrenagem, helicoidal, palhetas, cavidade caminhante, peristáltica, centrífuga mista e axial, bombas em série e em paralelo, localização de válvula de alivio e segurança, selo e gaxeta, escorva, cavitação, golpe de ariete, influência da rotação, válvulas, vertedouro, placa de orifício, venturi, calha Parshall, Pitot; b) turbinas; c) colunas de adsorção e absorção, lavadores de gases, distribuidores, redistribuidores, canais preferenciais e zonas mortas; d) colunas de destilação; e) trocadores, HTRI, HTFS, purgador, eliminador de ar, isolamento térmico; f) evaporadores, quebra vácuo, g) filtros, mangas contínuos e bateladas; h) sedimentador, rastelo, flotador; i) spray dryer; j) torres de resfriamento de água, aproach, refrigeradores; k) tanques com impulsores macânicos; l) colunas de leito fixo e leito fluidizado; transportadores pneumáticos de polímeros; transportadores de correia e helicoidal; silos e m) reatores, CSTR, PFR, traçadores e tempo espacial.
GEANKOPLIS, C.J. 2003. Transport processes and Separation Process Principles 4ed. Westford: Prentice-Hall.
McCABE, W.L.; SMITH, J.C.; HARRIOTT, P. 2001. Unit operations of chemical engineering. 6ed. New York: Mc Graw-Hill, p.31-43.
GREEN, D.W. 2007. ed. Perry's chemical engineers' handbook, 8ed. New York: Mc Graw-Hill.
COKER, A. KAYODE. 2007. Ludwig's applied process design for chemical and petrochemical plants. 4ed. Burlington: Elsevier.
PAUL, E.L.; ATIENO-OBENG, V.A.; KRESTA, S.M. 2004. ed. Handbook of industrial mixing science and practice. Hoboken: John Wiley & Sons.
HENLEY, E.J.; SEADER, J.D. 1981. Equilibrium-Stage separation operations in chemical engineering. New York: John Wiley & Sons.
Técnicas de RAD (recuperação de áreas degradadas); A questão do solo nos processos de RAD; Espécies vegetais adequadas para RAD; Participação de populações locais em processos de recuperação ambiental; Políticas públicas relacionadas aos processos de restauração.
ALMEIDA, D.S. de. 2000. Recuperação ambiental da Mata Atlântica. Ilhéus: Editus.
BRANCALION, P.S.; Gandolfi, S.; RODRIGUES, R.R. 2015. Restauração Florestal, v. 1.1. ed. São Paulo: Oficina de Textos.
FLORES, T.B.; COLLETTA, G.D.; SOUZA, V.C.; IVANAUSKAS, N. M.; TAMASHIRO, J. Y.; RODRIGUES, R. R. 2015. Guia Ilustrado para identificação das plantas da Mata Atlântica, v. 1. 1. ed. São Paulo: Oficina de Textos.
FRANKHAM, R.; BALLOU, J.D.; BRISCOE, D.A. 2008. Fundamentos da genética da conservação. Ribeirão Preto, SP: SBG (Sociedade Brasileira de Genética).
MARTINS, S.V. 2013. Restauração ecológica de ecossistemas degradados. Viçosa: UFV.
LORENZI, H. 2009. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil, vols. 1, 2, 3. Instituto Plantarum, Nova Odessa.
PRIMACK, R.B. & RODRIGUES, E. 2001. Biologia da conservação. Londrina: Planta.
RODRIGUES, R.R.; BRANCALION, P.H.S.; ISERNHAGEN, I. 2009. Pacto para a restauração da Mata Atlântica: referencial dos conceitos e ações de restauração florestal. São Paulo: Instituto BioAtlântica.
RODRIGUES, R.R.; JOLY, C.A.; BRITO, M.C.W.; PAESE, A.; METZGER, J.O.; CASATTI, L.; NALON, M.A.; MENEZES, N.A.; BOLZANI, V.S. & BONONI, V.L.R. 2008. Diretrizes para a conservação e restauração da biodiversidade no estado de São Paulo. Programa BIOTA/FAPESP & FAPESP & Secretaria do Meio Ambiente.
RODRIGUES, R.R.; LEITÃO FILHO, H.F. 2004. Matas Ciliares: Conservação e Recuperação, 3. ed. São Paulo: EDUSP/FAPESP.
SCHWARCZ, K.D.; SIQUEIRA, M.V.; ZUCCHI, M.I.; BRANCALION, P.; RIBEIRO, R.R. 2015. O uso de recursos fitogenéticos na preservação e restauração da biodiversidade. In: VEIGA, R.F.A; QUEIROZ, M.A. de (Org.). Recursos fitogenéticos: a base da agricultura sustentável no Brasil. Viçosa, MG: UFV, p. 314-325.
SOUZA, V.C.; LORENZI, H. 2012. Botânica Sistemática: guia ilustrado para identificação das famílias de fanerógamas nativas e exóticas no Brasil, baseado em APG III. Instituto Plantarum, Nova Odessa.
A disciplina visa introduzir aspectos gerais da Taxonomia Integrativa. A taxonomia tradicional enfrenta grandes desafios e necessita incorporar novos métodos e abordagens tecnológicas para poder descrever e classificar a biodiversidade. Por se tratar de uma abordagem multidisciplinar para a descrição, classificação e delimitação de espécies, utiliza conteúdos e teorias de diversas disciplinas, como a taxonomia e sistemática, filogenia, filogeografia e biogeografia, evolução, ecologia, genética de populações, e etc., a fim de compreender, descrever e classificar novas e as espécies já existentes. Deste modo, esta nova abordagem visa aprimorar a descoberta e acelerar a descoberta de novas espécies, aumentar o conhecimento sobre a Biodiversidade, aperfeiçoar planos de conservação e manejo de espécies ameaçadas de extinção ou exploradas comercialmente e auxiliar a resolução de problemas taxonômicos.
Cruaud, P., Rasplus, J. Y., Rodriguez, L. J., & Cruaud, A. 2017. High-throughput sequencing of multiple amplicons for barcoding and integrative taxonomy. Scientific reports, 7, 41948. https://doi.org/10.1038/srep41948
Daglio, L. G., & Dawson, M. N. 2019. Integrative taxonomy: ghosts of past, present and future. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 99(6), 1237-1246. https://doi.org/10.1017/S0025315419000201
Dayrat, B. 2005. Towards integrative taxonomy. Biological journal of the Linnean society, 85(3), 407-417. https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2005.00503.x
Padial, J. M., Miralles, A., De la Riva, I., & Vences, M. 2010. The integrative future of taxonomy. Frontiers in zoology, 7(1), 1-14. https://doi.org/10.1186/1742-9994-7-16
Schlick-Steiner, B. C., Steiner, F. M., Seifert, B., Stauffer, C., Christian, E., & Crozier, R. H. 2010. Integrative taxonomy: a multisource approach to exploring biodiversity. Annual review of entomology, 55, 421-438. https://doi.org/10.1146/annurev-ento-112408-085432
Técnicas estatísticas multivariadas são usadas em estudos que visam indicar as causas das modificações ambientais e suas consequências sobre as comunidades biológicas. Em vista disto, o objetivo deste curso é o de mostrar a aplicação das técnicas multivariadas na identificação das perturbações e na quantificação dos seus efeitos sobre as comunidades, em função das mudanças no ambiente. Ementa: 1) Introdução ao delineamento amostral; 2) Análise dos dados ecológicos: a) tipos, b) problemas, c) transformações e padronizações, d) interpretação geométrica e matricial dos dados; 3) Técnicas estatísticas multivariadas: a) agrupamento, b) ordenações, c) relações entre componentes abióticos e bióticos; 4) Tipos de estudos ambientais
Bassab, W.O.; E.S. Miazaki & D.F. Andrade. 1990. Introdução à Análise de Agrupamentos. ABE/IME-USP, São Paulo.
Digby, P.G.N. & R.A. Kempton. 1987. Multivariate Analysis of Ecological Communities. Chapman and Hall, London.
Gauch, H.G. Jr. 1982. Multivariate Analysis of Community Ecology. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
Green, R.H. 1979. Sampling Design and Statistical Methods for Environmental Biologists. John Wiley & Sons Inc., New York.
Krebs, C.J. Ecological Methodology. Harper & Row Publish., New York.
Ludwig, J.A. & J.F. Reynolds. 1988. Statistical Ecology: A Primer on Methods and Computing. John Wiley & Sons Inc., New York.
Pielou, E.C. 1984. The Interpretation of Ecological Data. John Wiley & Sons Inc. New York.
Pla, L.E. 1986. Analisis Multivariado: Metodo de Componentes Principales. Serie Matematica, Monografia 27, OEA, Washington D.C.
Romesburg, H.C. 1984. Cluster Analysis for Researchers. Wadsworth, California.
Southwood, T.R.E. 1978. Ecological Methods. Methuen, London.
Apresentação, discussão e aplicação prática de conceitos sobre a gestão costeira e marinha. Especial ênfase na aplicação e desenvolvimento de técnicas relacionadas a realização de experimentos ecotoxicológicos como ferramentas de estudo de impacto ambiental e avaliação de risco ecológico da captura e armazenamento de CO2 em formações geológicas de assoalhos oceânicos.
Esta disciplina tem por objetivo apresentar e discutir a aplicação de métodos ecotoxicológicos integrados para avaliação de risco e gestão de CO2 armazenado em formações geológicas oceânicas estáveis.
BEGON, M.; TOWNSEND, C.R.; HARPER, J.L. 2007. ECOLOGIA: DE INDIVÍDUOS A ECOSSISTEMAS. 4A EDIÇÃO. PORTO ALEGRE: ARTMED.
DELVALLS TA, FORJA JM, GONZÁLEZ-MAZO E AND GÓMEZ-PARRA A. 1998A. DETERMINING CONTAMINATION SOURCES IN MARINE SEDIMENTS USING MULTIVARIATE ANALYSIS. TRENDS ANA CHEM 17: 181-192.
DELVALLS TA AND CHAPMAN PM. 1998B. SITE-SPECIFIC SEDIMENT QUALITY VALUES FOR THE GULF OF CÁDIZ (SPAIN) AND SAN FRANCISCO BAY (USA), USING THE SEDIMENT QUALITY TRIAD AND MULTIVARIATE ANALYSIS. CIENC MAR 24, 3313-3336.
DELVALLS TA. 2007. DISEÑO Y APLICACIÓN DE MODELOS INTEGRADOS DE EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y SUS EFECTOS SOBRE LOS SISTEMAS MARINOS Y LITORALES Y LA SALUD HUMANA. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. CENTRO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN MARÍTIMA Y LITORAL (CEPRECO). SERIE INVESTIGACIÓN, MADRID.
EU DIRECTIVE CCS. 2008. PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE GEOLOGICAL STORAGE OF CARBON DIOXIDE AND AMENDING COUNCIL DIRECTIVES 85/337/EEC, 96/61/EC, DIRECTIVES 2000/60/EC, 2001/80/EC, 2004/35/EC, 2006/12/EC AND REGULATION (EC) NO 1013/2006.
F. REGUERA D, DELVALLS TA AND FORJA JM. 2008. CARBON DIOXIDE STORAGE IN MARINE GEOLOGICAL FORMATIONS. RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT REQUIREMENTS IN THE INTERNATIONAL CONVENTIONS ON THE PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT. FROM THE PROCEEDINGS OF THE 7º CONGRESSO IBÉRICO E 4º IBEROAMERICANO DE CONTAMINAÇÃO E TOXICOLOGIA AMBIENTAL (CICTA 2008). LISBOA, PORTUGAL.
KINGSFORD, M. AND BATTERSHILL. 1998. STUDYNG TEMPERATE MARINE ENVIRONMENTS. AHANDBOOK FOR ECOLOGISTS. 1ªED. CANTERBURY UNIVERSITY PRESS. NEW ZEALAND. 327P.
LALLI, C.M., PARSONS. 1997. BIOLOGICAL OCEANOGRAPHY: AN INTRODUCTION, BUTTERWORTH-HEINEMANN, 320 P.
LONDON CONVENTION AND PROTOCOL. 2006. RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT FRAMEWORK FOR CO2 SEQUESTRATION IN SUB-SEABED GEOLOGICAL FORMATIONS. LONDON CONVENTION ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER 1972 AND 1996 PROTOCOL THERETO.
LONDON PROTOCOL. 2007. SPECIFIC GUIDELINES FOR THE ASSESSMENT OF CARBON DIOXIDE STREAMS FOR DISPOSAL INTO SUB-SEABED GEOLOGICAL FORMATIONS. 1996 LONDON PROTOCOL ON THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER MATTER.
MMA. GERÊNCIA DE BIODIVERSIDADE AQUÁTICA E RECURSOS PESQUEIROS. 2010. PANORAMA DA CONSERVAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS E MARINHOS NO BRASIL. BRASÍLIA: MMA/SBF/GBA. DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.MMA.GOV.BR/ESTRUTURAS/205/_PUBLICACAO/205_PUBLICACAO03022011100749.PDF
NASCIMENTO, I. A.; SOUSA, E. C. P. M.; NIPPER, M. 2002. MÉTODOS EM ECOTOXICOLOGIA MARINHA: APLICAÇÕES NO BRASIL. SÃO PAULO: EDITORA ARTES GRÁFICAS E INDÚSTRIA LTDA., 262P.
NRC (NATIONAL RESEARCH COUNCIL). 1989. CONTAMINATED MARINE SEDIMENTS: ASSESSMENT AND REMEDIATION. COMMITTEE ON CONTAMINATED MARINE SEDIMENTS MARINE BOARD, COMMISSION ON ENGINEERING AND TECHNICAL SYSTEMS, NATIONAL RESEARCH COUNCIL. NATIONAL ACADEMIC PRESS, WASHINGTON DC, USA. 493 P. DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.NAP.EDU/CATALOG/1412.HTML
NRC (NATIONAL RESEARCH COUNCIL). 2003. BIOAVAILABILITY OF CONTAMINANTS IN SOILS AND SEDIMENTS: PROCESSES, TOOLS, AND APPLICATIONS. COMMITTEE ON BIOAVAILABILITY OF CONTAMINANTS IN SOILS AND SEDIMENTS, WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY BOARD, DIVISION ON EARTH AND LIFE STUDIES, NATIONAL RESEARCH COUNCIL. NATIONAL ACADEMIC PRESS, WASHINGTON DC, USA. DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.NAP.EDU/CATALOG/10523.HTML
ODUM, E. 2008. FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA. 5ª EDIÇÃO, ED PIONEIRA THOMSON.
R.V. TAIT; F.A. DIPPER. 1998. ELEMENTS OF MARINE ECOLOGY (FOURTH EDITION). ELSEVIER LTD. DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.SCIENCEDIRECT.COM
RICKLEFS, R.E. 2010. A ECONOMIA DA NATUREZA. 6ª ED. EDITORA GUANABARA KOOGAN, RIO DE JANEIRO.
RUSSELL J. SCHMITT; CRAIG W. OSENBERG (EDS.). 1996. DETECTING ECOLOGICAL IMPACTS: CONCEPTS AND APPLICATIONS IN COASTAL HABITATS. ELSEVIER INC.
SIMPSON SL, BATLEY GE, CHARITON AA, STAUBER JL, KING CK, CHAPMAN JC, HYNE RV, GALE SA, RAOCH AC, MAHER WA. 2005. HANDBOOK FOR SEDIMENT QUALITY ASSESSMENT. CSIRO, BANGOR NSW. DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.CLW.CSIRO.AU/CECR/SEDIMENTHANDBOOK
UNEP. 2011. TAKING STEPS TOWARD MARINE AND COASTAL ECOSYSTEM-BASED MANAGEMENT - AN INTRODUCTORY GUIDE. DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.UNEP.ORG/PDF/EBM_MANUAL_R15_FINAL.PDF
ZAMBONI, A.; NICOLODI, J.L. 2008. MACRODIAGNÓSTICO DA ZONA COSTEIRA E MARINHA DO BRASIL - BRASÍLIA: MMA. DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.LAGET.ECO.BR/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=62:MACRODIAGNOSTICO&CATID=43:MAPAS-E-CARTAS&ITEMID=5
Dissertações e teses
2025
Diante da crescente crise ambiental que vivemos, o debate sobre questões ambientais tornam-se cada vez mais evidentes na sociedade, seja por meio da cobertura da mídia, seja pela observação direta de mudanças nos ecossistemas. Nesse cenário, a Educação Ambiental (EA) emerge como uma ferramenta fundamental para ampliar o debate e promover a conscientização sobre a importância da conservação dos recursos naturais. Enquanto prática pedagógica, deve estar presente em todos os componentes curriculares da Educação Básica, conforme previsto na Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99), e sua mais recente atualização (Lei nº 14.926/24). Contudo, é imprescindível o uso de ferramentas pedagógicas apropriadas, considerando as vivências, contextos e especificidades de cada grupo social. A percepção ambiental pode ser entendida como a tomada de consciência do ser humano sobre o ambiente em que está inserido, a partir de sua própria existência. O indivíduo passa a reconhecer o espaço ao seu redor, desenvolvendo atitudes de cuidado, respeito e proteção. No ambiente escolar, a percepção dos estudantes permite a formulação de estratégias de conscientização adequadas às realidades locais e regionais, possibilitando a construção de vivências voltadas às questões ambientais, alinhados às diferentes séries, contextos e dinâmicas escolares. Nesse sentido, pesquisas que investigam a percepção ambiental de estudantes, especialmente os do Ensino Médio, constituem instrumentos importantes para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais eficazes na área da Educação Ambiental, ao considerar a visão mais “amadurecida” que os jovens possuem sobre o ambiente em que vivem, torna-se possível alcançar resultados mais expressivos, diante disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar a percepção ambiental de estudantes do Ensino Médio de uma escola pública em relação ao Parque Piaçabuçu, localizado na cidade de Praia Grande - SP, e à área do entorno da unidade escolar. Buscando com isso, identificar as principais problemáticas socioambientais percebidas, as questões relacionadas à preservação desta Unidade de Conservação (UC), bem como ser usado como uma contribuição para elaboração de programas de Educação Ambiental.
Embora a contaminação plástica seja amplamente documentada na fauna aquática de grandes rios, lagoas e reservatórios, ainda há poucas informações sobre sua ocorrência em organismos de riachos. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo comparar a abundância e a composição de microplásticos (MPs) em peixes de um riacho costeiro da Mata Atlântica e avaliar suas relações com o uso de habitat. A comunidade de peixes foi amostrada em um riacho de águas pretas na planície costeira de Itanhaém, SP, durante períodos de maior e menor pluviosidade. Foram analisados tratos gastrointestinais (TGIs) e brânquias de 255 indivíduos pertencentes a 21 espécies, utilizando digestão química e observação em estereomicroscópio. Ao todo, foram identificados 201 MPs, com abundância semelhante entre os períodos de maior e menor pluviosidade. A abundância de MPs apresentou correlação positiva com o comprimento dos peixes (tau = 0,18, p < 0,001). Apesar de não terem sido observadas diferenças significativas entre os órgãos analisados, os peixes nectobentônicos apresentaram maior concentração de MPs nas brânquias em relação aos TGIs, possivelmente devido à adesão menos seletiva das brânquias. Os peixes nectônicos apresentam maior número de MPs nos TGIs do que o grupo bentônico, sugerindo que os estímulos visuais dos nectônicos podem levá-los a ingerir ativamente MPs que se assemelham ao seu alimento natural. Microfibras azuis se destacaram como o tipo prevalente em termos de dimensão, formato e coloração, enquanto análises químicas revelaram a presença de polietileno tereftalato (PET), pigmento de ftalocianina de cobre e corante natural índigo. Este é o primeiro estudo a avaliar a contaminação por MPs em peixes de riachos costeiros da Mata Atlântica. Os resultados sugerem que algumas espécies são mais suscetíveis à ingestão de MPs do que outras, reforçando a importância de investigar os efeitos desses contaminantes em peixes, visando à preservação da biodiversidade da Mata Atlântica e sua heterogeneidade ambiental.
2023
Os robalos (Centropomidae) são alvo da pesca artesanal e amadora em diversas comunidades costeiras do Brasil, sendo a captura destinada ao consumo, comércio e lazer. Considerando sua importância ecológica e econômica, medidas de gestão e políticas de conservação são fundamentais. O objetivo do presente trabalho foi analisar a pesca de robalos no Canal de Bertioga (SP), o conhecimento ecológico local e as interações entre as diferentes modalidades de pesca. Os dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas, com roteiros previamente definidos, com 164 pescadores amadores e 21 artesanais que prestam serviços para a atividade amadora. Foram caracterizadas as duas modalidades de pesca e comprovada a importância dos robalos para as atividades geradoras de emprego, renda e lazer. O verão é a estação que traz mais rendimentos relacionados às atividades turísticas e, desta forma, a pesca amadora pode contribuir para o desenvolvimento da região. As iscas vivas são as mais utilizadas, principalmente o camarão, fornecido por pescadores locais. O conhecimento ecológico local, reflete a importância destas espécies e da região para a pesca amadora, bem como a importância de ser utilizado em ações de conservação, embora o conhecimento dos pescadores amadores sobre a legislação pesqueira ainda seja um aspecto que merece maior atenção. Alguns conflitos entre a prática das duas modalidades foram indicados e, em sua maioria, estão relacionados com o uso do mesmo território. Visando a conservação do ambiente, em especial dos robalos, faz-se urgente a implantação de medidas de monitoramento e ordenamento das atividades pesqueiras no Canal de Bertioga, levando em consideração pesquisas ecológicas e socioeconômicas mais aprofundadas, capazes de fomentar o estabelecimento de políticas públicas socioambientais mais efetivas.
Respostas bioquímicas e fisiológicas da espécie de peixes neotropicais, Astyanax lacustris, expostas a hidrocarbonetos aromáticos microplásticos e policíclicos (PAH) Os materiais de origem plástica são amplamente utilizados, possui múltiplas utilidades e formas de baixo custo, com traz praticidade e consequente abundância desse material em todo o mundo. O plástico pode chegar ao ecossistema aquático através de descargas industriais e domésticas, onde, devido ao intemperismo, pode se tornar microplástico (MP), ou ser descarregado como MP. A MP tem a capacidade de transportar compostos tóxicos adsorvidos como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HPA), que são a porção mais tóxica do petróleo bruto. Para avaliar os possíveis efeitos tóxicos da MP virgem, HPA e virgem MP e HPA em associação, realizamos experimentos com os Astyanax lacustris, amplamente utilizados como modelo de peixe. Foram utilizadas concentrações ambientais relevantes de MP (10 mg L-1 ) e 20% do LC50-96 h do petróleo bruto para o A. lacustris (2,28 µg L-1 ) ao longo de 96 horas de exposição. Os peixes foram expostos à MP virgem; HPA; MPC (MP carregado com HPA); HPA+MP (MP virgem em associação com HPA) e o controle sem (TC) e com manuseio (CH). Após as 96 h, o sangue foi removido para análise de anormalidades nucleares eritrocíticas (ENA) e parâmetro de osmorregulação (osmolaridade plasmática; Na+ , K+ , Cl-2 , Mg+2; glicose e lactato); brânquias para análise das enzimas histopatológicas e osmorreguladoras Na+ , K+ ATPase e anidrase carbônica; e amostras musculares foram utilizadas para avaliar o glicogênio como substrato energético. A Virgem MP foi capaz de causar ENA e esgotamento do glicogênio muscular, o que indica que as alterações no metabolismo foram causadas pela MP virgem. No entanto, o MP carregado com HPA e a MP virgem em associação com o HPA foram mais tóxicos do que o HPA e a MP virgem sozinho, sem diferenças entre os tratamentos MPC e HPA+MP. No entanto, não houve diferenças na toxicidade do MP carregado com HPA e da MP virgem em associação com o HPA.
A Serra do Mar abrange fragmentos do sul e do sudeste brasileiro, sendo uma das maiores cadeias de montanhas do leste do nosso país. O Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), localizado ao longo da zona costeira do estado de São Paulo, contém a maior área contínua de Mata Atlântica preservada no Brasil. Os riachos de Mata Atlântica apresentam grande diversidade e complexidade de características, na qual, destacam-se os mesohabitats, que são ambientes de corredeira e de remanso que podem ser observados ao longo do riacho. No grupo de macroinvertebrados bentônicos predominam as larvas de insetos aquáticos, anelídeos aquáticos, moluscos e crustáceos, sendo de grande importância na dieta de organismos como peixes, anfíbios e aves aquáticas. O presente estudo visa comparar a variação na estrutura das comunidades de macroinvertebrados bentônicos ao longo do processo de colonização associados a substratos rochosos e folhiços em relação aos mesohabitats de corredeira e remanso. Para o experimento, foram utilizados esses dois tipos de substratos naturais nos dois mesohabitats do riacho Guariúma, PESM. Foram dispostas tréplicas de oito armadilhas dos dois substratos nos dois mesohabitats, totalizando 96 armadilhas. Foi retirada uma tréplica de armadilha de cada substrato em cada mesohabitat ao 1º, 3º, 7º, 12º, 20º, 32º, 47º e 63º dias de colonização, e em laboratório, foram triadas e identificadas ao menor grupo taxonômico possível. Para avaliar a possível variação na estrutura da comunidade ao longo dos dias de colonização foram mensuradas a abundância (numérica), a riqueza de espécies e a diversidade por armadilha ao longo dos dias para cada tipo de substrato e mesohabitat. Foi realizada uma Análise de Espécies Indicadoras (IndVal) que destacaram Atanatolica sp. e Cirolanidae sp. demonstrando uma relação negativa com o aumento dos dias. O oposto ocorreu para Neotrichia sp. e Ptilodactylidae sp. Foi realizado um Modelo Linear Generalizado Multivariado (GLM) com os dados ajustados de abundância e por final foi mensurada a diversidade Beta através da dissimilaridade de Sorensen. Houve maior colonização em mesohabitat de remanso e o substrato folhiço foi o que condicionou maior abundância de organismos.
Através do estudo da ecologia alimentar, é possível entender a organização das populações no meio, bem como a biologia das espécies, suas interações e padrões de coocorrência. O presente estudo tem como objetivo analisar as dietas de Acentronichthys leptos, Rhamdia quelen e Rhamdioglanis frenatus em riachos de Mata Atlântica, bem como avaliar a sobreposição alimentar destas espécies. A amostragem foi realizada no município de Bertioga/SP, mensalmente, entre maio de 2016 e abril de 2017, em seis riachos afluentes dos rios Itatinga e Itapanhaú, utilizando a pesca elétrica. Também foram obtidas as variáveis físicas e químicas (temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e pH), vazão da água e características estruturantes dos riachos. Foram coletados 479 indivíduos, que foram anestesiados e dissecados, com seus estômagos retirados para posterior análise. Foram obtidas as estratégias alimentares das espécies. A fim de avaliar os dados de dieta foram considerados três eixos de análise: espacial, temporal e classe de comprimento. Foram calculadas as frequências de ocorrência e volumétrica para cada item alimentar, um dendrograma para verificar a similaridade das dietas, a amplitude de nicho de Levins para identificar se as dietas são mais generalistas ou especialistas e a sobreposição alimentar calculada pelo índice de Morisita Simplificado. Foi encontrada pouca variação sazonal e espacial nas frequências de ocorrência e volumétrica. Foram identificados 33 itens alimentares com maior riqueza de itens consumidos nos meses de maio e julho para as três espécies. A população de Acentronichthys leptos foi classificada como insetívora aquática, Rhamdia quelen e Rhamdioglanis frenatus como carnívoras, com as duas últimas apresentando alta sobreposição alimentar nos três eixos analisados devido ao consumo de Decapoda. Entretanto, a preferência por hábitats distintos destas espécies, aliado aos resultados de dieta, evidenciam uma segregação espacial que possibilita a coocorrência das espécies nos riachos.
Estudos sobre a ecomorfologia de peixes são muito importantes para a compreensão da ecologia de espécies e a influência sofrida pelo ambiente, principalmente se associada à ecologia trófica. No presente estudo avaliamos se ocorrem variações ecomorfológicas e tróficas em populações de Rhamdioglanis transfasciatus entre diferentes riachos de Mata Atlântica na região costeira do estado de São Paulo. Foram amostrados 397 exemplares da espécie em agosto de 2016 e 2017 nas bacias dos rios Quilombo, Una e Boiçucanga através da pesca elétrica (Backpack). Nos mesmos pontos de coletas foram mensuradas variáveis estruturais dos riachos. Em laboratório, os peixes foram identificados, mensurados quanto ao comprimento padrão (mm), pesados (g) e retirados os estômagos para as análises da dieta. Foram calculados 14 atributos morfológicos, relacionados ao uso de habitat e à ecologia trófica e verificado o grau de repleção estomacal. A dieta foi quantificada pelo Grau de Preferência Alimentar (GPA). Foram utilizadas Análises de Componentes Principais (PCA) para compreender a relação entre os atributos morfológicos além das variáveis abióticas, e como se diferenciam por bacia. Para determinar a condição corporal, foi utilizado o Fator de Condição de Fulton. Para analisar a dieta, os dados foram transformados em presença e ausência, e foi mensurada a diversidade beta através da dissimilaridade de Sørensen e seus componentes de aninhamento e substituição. Não foram observadas diferenças significativas para os fatores abióticos entre as bacias. O fator de condição foi diferente entre as três bacias, sendo o menor deles observado para a bacia do rio Una. Observou-se uma ligeira separação entre as bacias dos rios Una e Boiçucanga, sendo os espécimes da primeira mais relacionados à Largura relativa do pedúnculo caudal e ao Comprimento relativo do pedúnculo caudal. O Índice de compressão do pedúnculo caudal foi positivamente correlacionado aos espécimes da bacia do rio Quilombo. Dos 23 itens alimentares consumidos, a maioria foi classificada como “ocasional” segundo o GPA (= 1) e apenas Matéria Orgânica classificado como secundário (1= GPA = 2) nas bacias dos rios Quilombo e Una. A diversidade beta apresentou valores maiores para o componente de substituição. Nossos resultados reforçam que a estrutura das comunidades é uma combinação de eventos, associados às características bióticas e abióticas do ambiente
O petróleo é a principal matriz energética mundial. Dessa forma, sua extração torna-se inevitável, causando, em muitas ocasiões, acidentes com derramamentos, principalmente no ambiente aquático. Ao longo dos anos, notícias relacionadas com derramamento de petróleo em meio aquático tornaram-se constantes, sendo no Brasil, o acidente com petróleo derramado nas praias do Nordeste em 2019, um dos maiores da história do país. A fração solúvel (FS) do petróleo, rica em hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) e metais, é particularmente tóxica no ambiente aquático, tornando os organismos destes ambientes mais vulneráveis. Testes de toxicidade são amplamente utilizados para se avaliar os efeitos de xenobióticos, como os HPAs e metais, sendo o ouriço-do-mar um dos organismos mais utilizados devido a sua alta sensibilidade a essas substâncias. Dessa forma, este trabalho avaliou a toxicidade, via desenvolvimento embrio-larval, da FS do petróleo, utilizando ouriçosdo-mar (Echinometra lucunter). No presente estudo, larvas de ouriço-do-mar (Echinometra lucunter) foram expostos a cinco concentrações da fração solúvel (FS) do óleo coletado no nordeste brasileiro em 2019 (35,01%; 45,51%; 59,17%; 76,9% e 100%), além do controle (0%). Sendo que, através do desenvolvimento embrio-larval, foram avaliados os valores da CE50-42h; CENO; CEO; além das concentrações dos HPAs e metais na FS 100%. Na fração solúvel 100%, dos 16 HPAs analisados, o fenantreno, antraceno e o dibenzo[a,h]antraceno foram encontrados acima de 1 µg/L, sendo que, para os metais, 24 dos 28 elementos apresentaram concentrações acima do limite de detecção do método, sendo apenas o Sr encontrado acima de 1 µg/L . As FS 35,01; 45,5; 59,17 e 76,9% causaram atraso no desenvolvimento embrio-larval das larvas de ouriço-do-mar em relação ao controle, com total inibição na FS 100%. A CE50-42h foi de 39,45%, com intervalo de confiança entre 37.04% e 42.01%. Sendo o CENO 0% e o CEO 35,01%. A FS do óleo causou efeito (atraso no desenvolvimento embrio-larval) mesmo nas menores concentrações estudadas, provavelmente devido a presença dos HPAs fenantreno, antraceno e o dibenzo[a,h]antraceno e do metal Sr em altas concentrações. A produção de gametas fracos, com consequente diminuição do desenvolvimento embrionário pode ser explicada pelo potencial tóxico dos HPAs e dos metais, que podem causar a degeneração das células germinativas, atrofia e inflamações nas gônadas de invertebrados marinhos. Devido ao fato de os ouriçosdo-mar apresentarem rápido desenvolvimento embrio-larval, esses efeitos podem ser observados e relacionados com a taxa de absorção e acumulação dessas substâncias tóxicas.
Desde os primórdios da humanidade, tem-se a busca constante pelo conhecimento sobre o uso de materiais e técnicas construtivas que venham a estabelecer o homem em seu meio natural e consolidar-se na sociedade e em seu tempo. Porém, mais importante do que essa consolidação é preservar o meio em que se vive através de práticas sustentáveis e ecologicamente corretas que venham a proporcionar o tripé sustentabilidade econômica, social e ecológica. O presente estudo visou analisar a viabilidade de produção de blocos feitos de concreto com diferentes quantidades de plástico retirado de áreas costeiras e estuarinas como polietileno de alta e baixa densidade que são utilizados na produção de canudos, copos e sacolas plásticas, com o objetivo de limpar esses ecossistemas e tornar viável o uso de materiais amplamente utilizados na construção civil como blocos de concreto. Foi utilizada forma em aço carbono com medidas de 90x190x290mm, cimento CPV-ARI, areia tipo média, pó de pedra mais pedrisco e água. Os corpos de prova extraídos aos 28 dias foram submetidos a esforços de compressão, flexão, densidade, análise macroscópica, peso úmido, peso seco, peso saturado, absorção de água, pH e inflamabilidade. Foi realizada a comparação dos resultados com blocos padronizados de mesmo tamanho feitos de concreto sem plástico e verificada sua viabilidade em relação a norma NBR 6136/2016, bem como o impacto ambiental que a aplicação da tecnologia poderá gerar no meio ambiente com a retirada do plástico do meio ambiente, reduzindo assim a interferência antrópica nos mares, costas e praias. Os dados extraídos do presente estudo indicam que é possível e viável a produção de blocos de concreto com o incremento de até no máximo 5% de material plástico, sem que assim, haja maiores perdas de capacidade de resistência aos esforços principalmente de compressão, atendendo dessa maneira à norma de qualidade. O que trará inúmeros benefícios ao meio ambiente costeiro e marinho pela blindagem desse material que é extremamente tóxico à fauna e flora marinhas.
A espécie Litopenaeus vannamei é cultivada em regime intensivo na carcinicultura e, apesar desse sistema exigir poucas trocas de água, o que reduz a geração de efluentes, existem preocupações crescentes em relação ao acúmulo à toxicidade de metais presentes na ração, como o cobre. O cobre é essencial para o metabolismo, porém em grandes quantidades se torna tóxico. Uma vez que L. vannamei pode ser cultivado em diferentes salinidades, o presente estudo buscou avaliar como diferentes salinidades podem influenciar nos efeitos tóxicos do cobre sobre o equilíbrio osmótico e iônico de pós-larvas (PLs) de L. vannamei. As PLs foram aclimatadas em 3 diferentes salinidades (5, 15 e 30 ppt) por 24h. Para tanto, as PLs foram distribuídas aleatoriamente em câmaras experimentas (N=10), nos controles (um controle por salinidade) e nos tratamentos (concentração de cobre em 100% do valor da CL50-24h calculado para cada salinidade). Após o período de 24h, as brânquias foram separadas para análise da bioconcentração do cobre (brânquias) e da concentração diferencial dos íons corpóreos (corpo e carapaça). Para a avaliação da taxa líquida de excreção de amônia (Jnetamm) e teor hídrico, as PLs foram expostas individualmente (n=36) aos mesmos tratamentos anteriores. Amostras de água foram retiradas a cada 3h para o cálculo do Jnetamm e, ao final de 24h, os camarões foram utilizados para medida do teor hídrico. A toxicidade do cobre para as PLs foi fortemente influenciada pela salinidade, sendo observado aumento nos valores da CL50-24h em menores salinidades. Nos animais aclimatados em 30 ppt, a CL50%-24 h foi de 106,82 mg/l (limite inferior de 84,87 e superior de 134,45 mg/l). Já nos animais aclimatados em 15 e 5 ppt, a CL50-24h foi de 49,21 mg/l (limite inferior de 35,53 e superior de 68,17 mg/l) e 0,30 mg/l (limite inferior de 0,23 e superior de 0,40 mg/l), respectivamente. Esses valores representam uma redução de cerca de 22 e 100% dos valores de CL50%-24h dos animais em 15 e 5 ppt, em comparação aos animais em 30 ppt. Embora não tenham sido evidenciados efeitos do cobre no teor hídrico dos animais, foram observadas alterações nos íons Na+ e K+ nas brânquias e no corpo, assim como um aumento significativo da excreção de amônia nos camarões expostos ao cobre nas salinidades de 5 e 30 ppt, sugerindo um mecanismo para contrabalancear perdas difusivas dos íons causadas pela presença do cobre. A bioacumulação do cobre foi maior nos camarões expostos ao na salinidade de 30 ppt, provavelmente devido à maior permeabilidade das brânquias dos organismos marinhos. O cobre foi tóxico para as PLs de L. vannamei aclimatadas e expostas em salinidade reduzida, particularmente em 5 ppt. Assim, a toxicidade do cobre via ração em sistemas de cultivo com baixa ou nenhuma renovação de água, em salinidades reduzidas, pode resultar em aumento da mortalidade de L. Vannamei. No entanto, essa mortalidade não está diretamente relacionada com a bioacumulação do cobre nas brânquias.
É notório o aumento da poluição atmosférica nas últimas décadas, principalmente nos centros urbanos, onde houve um processo desordenado de industrialização e de crescimento populacional. Moradores de centros urbanos são expostos a poluentes que influenciam negativamente sistemas orgânicos, primordialmente o cardiorrespiratório. Já os residentes de áreas costeiras desfrutam de meio ambiente mais limpo. Nosso objetivo foi avaliar a influência de diferentes concentrações de poluentes atmosféricos sobre variáveis respiratórias durante teste de esforço máximo. Foram avaliados 80 homens, idade a partir de 40 anos, divididos em 2 grupos: Residentes de São Paulo, Grupo 1 e residentes da Baixada Santista, Grupo 2. Os participantes realizaram teste cardiorrespiratório, determinando seu nível de condicionamento físico (VO2max) e as variáveis: equivalente ventilatório de dióxido de carbono (VE/VCO2), ventilação pulmonar (VE) e equivalente ventilatório de oxigênio (V/VO2). Os dados foram apresentados em média ± desvio padrão. O STATISTIC 9.0 foi utilizado para as análises e o teste aplicado foi de variância de um caminho para comparação dos dados respiratórios entre os grupos. Os resultados obtidos demonstraram que os grupos foram similares no consumo de oxigênio pico: Grupo 1= 17,5±0,04 ml/kg/min e Grupo 2, 18,3±0,08 ml/kg/min. O Grupo 1 apresentou respostas ventilatórias alteradas durante o teste cardiorrespiratório quando comparados ao Grupo 2: (VE=80±0,3 ml e VE=70±0,2 ml, p=0,004), (VE/VCO2=35.7±0,3 unidades e VE/VCO2=31.7±0,1 unidades, p=0,003) e (V/VO2=36,5±0,2 unidades e V/VO2=31,6±0,1unidades, p=0,03. Os dados obtidos no presente estudo revelaram que os indivíduos residentes em São Paulo apresentam eficiência respiratória diminuída quando comparada aos moradores de região costeira durante teste de esforço máximo
No Brasil, a pesca amadora representa mais que atividades de turismo e lazer, sendo também um instrumento de desenvolvimento socioeconômico e conservação ambiental. Sua prática, quando bem gerenciada, pode ser realizada em áreas protegidas. Este manejo depende de estudos técnicos que avaliem e direcionem o uso sustentável dos recursos nestas áreas, as quais possuem diferentes níveis de restrição. Este trabalho teve por objetivo analisar o ordenamento da pesca amadora em áreas protegidas por meio de exemplos encontrados em unidades de conservação, terras indígenas, sítios pesqueiros e reservas de pesca esportiva. Através de pesquisa documental, os documentos de gestão e/ ou atos normativos foram identificados e analisados em busca de regras para a pratica da pesca amadora, visando gerar subsídios que possam contribuir para o manejo e ordenamento desta atividade. Foram investigadas 3405 áreas protegidas, sendo registrados e analisados 807 documentos de gestão, dos quais 63 apresentaram regras para a realização da atividade em 64 áreas protegidas. As regras apresentadas foram acerca de elementos básicos previstos na regulamentação de pesca nacional, como por exemplo licença de pesca, períodos, locais, espécies e petrechos permitidos e/ou proibidos ou regras mais restritivas e específicas como: implementação de zonas de exclusão de pesca, limite de embarcações e pescadores, horários permitidos, obrigatoriedade do uso de serviços de guias locais e da prática de pesque e solte, além do pagamento de taxas de entrada. O documento que apresentou mais regras, e único exclusivo para ordenamento da pesca amadora em área protegida, foi o Plano de uso para a pesca esportiva da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã. As regras abordadas neste trabalho são de extrema importância para gestão da pesca amadora e devem compor um documento específico de gestão para o desenvolvimento sustentável desta atividade. Considerando a quantidade de áreas protegidas no Brasil que desenvolvem a pesca amadora, os documentos levantados, rasos e inespecíficos em sua maioria, são insuficientes para atender as demandas das comunidades locais envolvidas e proteger os recursos pesqueiros. Recomenda-se, portanto, maior investimento em estudos biológicos sobre os recursos pesqueiros locais explorados e a viabilidade socioeconômica e ambiental da prática, gerando documentos técnicos de regulamentação da pesca amadora, visto a importância dos mesmos para o ordenamento, manejo e monitoramento da atividade.
2021
As praias são ambientes especialmente vulneráveis à ação humana, cujo impacto é intensificado devido às atividades de lazer e turismo. A Praia de Santos está localizada no litoral de São Paulo, é cortada por sete canais que servem de divisa entre os bairros e, cada trecho de praia, recebe o nome do bairro a que pertence. As técnicas usualmente empregadas para a limpeza em Santos são intensificadas durante o verão, visando mais critérios estéticos do que aspectos ecológicos, o que pode prejudicar a biota de um ambiente já impactado. Assim, avaliações sobre a remoção das conchas são necessárias, pois os materiais esqueléticos deixados para trás têm funções importantes na ciclagem de nutrientes. Portanto, o nosso trabalho teve por objetivo analisar a abundância, riqueza, diversidade de conchas na Praia de Santos e os impactos causados devido às limpezas periódicas manuais e mecânicas. No verão de 2020, realizamos oito eventos de coleta, intercalando duas marés de sizígia e duas de quadratura. Antes de cada evento, sorteamos seis transectos, sendo três para cada zona (deposição e erosão). Utilizamos parcelas de 1m², duas dentro de cada transecto, nos setores de areia úmida e molhada. As conchas inteiras e os fragmentos coletados na superfície em cada parcela, foram lavados e armazenados em sacos plásticos com as devidas identificações. A seguir, pesamos os fragmentos e as conchas, que foram classificadas até o nível de espécie. Para as análises estatísticas, utilizamos modelos mistos, clássicos e generalizados, de um e de dois estágios, considerando como variáveis respostas a abundância, a riqueza e a diversidade de Shannon-Wiener. As conchas se distribuíram em 2 classes, 16 famílias, 23 gêneros e 29 espécies, dentre as quais três foram numericamente dominantes: Mulinia cleriana, Anadara ovalis, Anadara brasiliana. A abundância em número e em peso de fragmentos apresentou diferença significativa com valores maiores para o setor úmido, de maior impacto, resultado que se deu provavelmente devido ao uso de tratores para a limpeza. Isto é reforçado pelo fato de que observamos exatamente o oposto para as conchas inteiras, que apresentou valor significativo para o setor molhado, bem como para o efeito das marés (sizígia). Quanto à riqueza, encontramos apenas efeitos significativos de setor (menor riqueza no setor úmido), porém nenhum efeito significativo foi detectado para ?? ' , apesar de valores numericamente maiores terem ocorrido no setor molhado. Os impactos aqui estudados, e com o devido rigor metodológico, não são percebidos pela maior parte da população, que geralmente entende que a perda da biodiversidade é uma questão somente para especialistas, mas, na verdade, é uma ameaça à qualidade de vida de todos. Consideramos imprescindível todo o entendimento acerca da biodiversidade para que sejam tomadas medidas mitigatórias. Como proposta complementar, e constando integralmente no Apêndice, é apresentada uma cartilha intitulada: Conchas Marinhas: uma Herança em Nossa Praia. Neste material, estão as fotos de todas as espécies encontradas para a pesquisa, informações sobre praias arenosas e sua composição faunística (destaque para bivalves e gastrópodes), educação ambiental e preservação.
Com o passar do tempo, o crescimento da produção de produtos farmacêuticos vem aumentando gradativamente e consequentemente, os resíduos destes produtos de forma inadequada no ambiente aquático também. Neste contexto, destaca-se a escassez de estudos Ecotoxicológicos sobre os medicamentos da classe dos tuberculostáticos no meio aquático. Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar toxicidade ambiental dos fármacos tuberculostáticos utilizados como esquema padronizado pelo Ministério da Saúde para o tratamento de tuberculose, através do cálculo da concentração ambiental estimada em águas superficiais do município de Cubatão/SP, assim como foram avaliados os efeitos biológicos adversos nos organismos-testes Daphnia similis e Echinometra lucunter. As concentrações ambientais previstas (CAE) foram calculadas entre os quatro fármacos tuberculostáticos (Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol) de acordo com a diretriz da Agência Europeia de Medicamentos (EMEA) (CHMP, 2006). Após, foram realizados ensaios de toxicidade em D. similis e E. lucunter com os fármacos Isoniazida e Pirazinamida. Os resultados das CAE para todos os fármacos tuberculostáticos incluídos no presente estudo apresentaram valores que superaram o limite máximo considerado pela EMEA de 0,01 µg.L-1. Para o ensaio de toxicidade com D. similis, os fármacos Isoniazida e Pirazinamida apresentaram valores de CE50 respectivamente 69,97 mg.L-1 e 44,49 mg.L-1 sendo estes classificados como “nocivos” de acordo com a Diretiva da Comunidade Econômica Europeia (CEE) 93/67/CEE. Já para o ensaio de toxicidade com E. lucunter, os mesmos fármacos foram selecionados onde apresentaram valores de CI50, classificando-os como “nocivos” de acordo com a Diretiva 93/67/CEE, são eles: Isoniazida (CI50 23,66 mg.L-1); Pirazinamida (CI50 17,21 mg.L-1). Os resultados desta pesquisa poderão servir como subsídios a novas legislações e a criação de programas governamentais que buscam soluções promovendo redução e até mesmo a eliminação de fármacos no ambiente aquático.
Desde 1750 o pH da água do mar vem diminuindo, e essa diminuição é denominada acidificação oceânica. Segundo a literatura científica, a principal causa da acidificação oceânica é o aumento do dióxido de carbono (CO2), gás de efeito estufa, proveniente da queima de combustíveis fósseis. Em adição a esta problemática, nas zonas costeiras há o aumento do despejo de esgoto doméstico contendo drogas ilícitas, como cocaína e crack. Trabalhos já observaram a presença de cocaína no ambiente marinho, podendo acarretar efeitos deletérios em organismos marinhos. A hipótese deste trabalho é de que a acidificação associada ao enriquecimento de CO2 no ambiente marinho provocará uma modificação na toxicidade da droga ilícita crack. O objetivo é avaliar efeitos subletais da droga ilícita crack combinada com a acidificação pelo enriquecimento de CO2 nos ecossistemas marinhos. Foi determinada a toxicidade da cocaína em sua forma não ionizada (crack) em diferentes cenários de pH (8.1, 7.5, 7.0, 6.5 e 6.0) relacionados ao aumento de CO2 através da avaliação de efeitos subletais em organismos marinhos a partir de análises de biomarcadores de exposição (GST, GPx e GSH) e de efeito (AChE e estabilidade da membrana lisossomal). A análise do biomarcador GST demonstrou um aumento na atividade enzimática no pH 6.5 (0,5, 5 e 50 µg/L de crack) e no pH 6.0 (5 e 50 µg/L de crack), levando a um mecanismo de proteção celular. No biomarcador de neurotransmissão AChE houve uma inibição da enzima em 48h nos pHs 7.5, 7.0 e 6.5, e um aumento da produção enzimática no pH 6.0. Em 96h houve uma inibição no pH 7.0 e um aumento nos pHs 6.5 e 6.0. A inibição da atividade de AChE podem resultar na perda da biodiversidade e o aumento da AChE pode levar a apoptose celular. Na estabilidade da membrana lisossômica houve uma inibição na retenção do corante vermelho neutro conforme a diminuição do pH e aumento das concentrações de crack, podendo resultar no comprometimento da imunidade e da fisiologia dos organismos, entre outras. Portanto, tanto os estresses relacionados ao crack e redução de pH isoladamente, quanto em combinação observados neste estudo podem acarretar na diminuição recursos alimentícios aos seres humanos e diminuição da biodiversidade
A contaminação dos oceanos por plásticos em geral, especialmente microplásticos, é uma questão ambiental global emergente e diversos estudos têm sido realizados para a avaliação de fontes, destino e efeitos destes microplásticos no ambiente e na saúde humana. Estas são informações importantes para embasar a construção de políticas públicas e outras ações visando a redução e a gestão dos resíduos plásticos nos oceanos. O presente estudo teve como objetivo avaliar a bioacumulação de microplásticos em diferentes tecidos de peixes Centropomus undecimalis expostos ao polímero de polietileno de baixa densidade em laboratório, via água, durante 3 e 7 dias. Amostras de brânquias, trato gastrointestinal e músculos foram digeridas em solução alcalina de 10 M NaOH e analisadas por meio de Espectroscopia de Infravermelho com Transformada Fourier em Reflectância Total Atenuada (ATR - FTIR) para detecção de microplásticos. Os resultados obtidos por meio da análise de ATR - FTIR demonstraram a bioacumulação de microplástico nos diferentes órgãos analisados, inclusive em músculos dorsais de organismos expostos por 3 dias. Novos estudos devem ser realizados a fim de determinar o melhor método de digestão para peixes estuarinos, considerando a viabilidade financeira e o tempo necessário para a digestão das amostras, garantindo a redução do material biológico em níveis adequados para a detecção das eventuais partículas de microplásticos presentes bem como visando ampliar a compreensão sobre a bioacumulação de microplásticos – e substâncias associadas – em diferentes organismos e tecidos biológicos e suas implicações, inclusive como um fator de risco para a saúde humana.
O presente estudo teve como objetivo avaliar a efetividade do Projeto Viva-Verde (PVV), um projeto com mais de 15 anos de existência, como uma iniciativa de Educação Ambiental (EA) para crianças da Educação Infantil (EI) de duas escolas públicas dos municípios de Bertioga e Guarujá no litoral paulista em atores de diferentes estratos socioeconômicos. O estudo foi realizado com 65 crianças na faixa etária dos 5 anos de três turmas distintas que foram entrevistadas duas vezes através da aplicação de um mesmo roteiro de 15 perguntas (Pré-teste e Pós-teste). Em duas destas turmas houve a aplicação do PVV (Guarujá e Bertioga) e na terceira turma não houve a aplicação do PVV (sala controle de Bertioga). O PVV utiliza a coleta seletiva dos materiais recicláveis, a compostagem dos resíduos sólidos (RS) orgânicos da merenda escolar e a horta como recursos didáticos, trabalhados de forma transversal e interdisciplinar, propondo ações de não geração, de redução, de reutilização e de reciclagem dos resíduos sólidos domiciliares. Como avaliação foi considerada a mudança da mentalidade ambiental após a abordagem de diversos temas relacionados à EA. O fator socioambiental entre os municípios também foi testado ao longo do estudo, uma vez que uma escola se encontra em uma região vulnerável do município de Bertioga e a outra compreende uma região com maior nível socioeconômico, localizada no município de Guarujá. Os resultados foram testados através de Análise Permutacional de Variância e da Análise de Ordenação de Escalonamento Multidimensional Não Métrico. Os resultados demonstraram que o PVV é eficaz e teve efeito em públicos-alvo de diferentes contextos socioeconômicos, ainda que o maior efeito tenha acontecido na população em condições de menor vulnerabilidade socioeconômica e ambiental. As crianças da classe controle, de Bertioga, também obtiveram alterações em direção a comportamentos pró-ambientais ao longo do tempo, concluindo-se que outros fatores alheios à educação ambiental podem ter contribuído para a evolução da compreensão nas questões ambientais. Porém, esta alteração apresentou-se de forma mais tênue do que nas classes submetidas ao PVV. Este estudo apontou que iniciativas como as dos PVV contribuem para novas atitudes pró-ambientais.
Estudos apontam que fármacos estão sendo levados para os oceanos, onde não há um tratamento adequado para este fim, acarretando contaminação e toxicidade aos organismos aquáticos. O presente estudo avaliou a taxa de sobrevivência e a taxa de desenvolvimento embriolarval Anormal, após exposição ao fármaco Losartana, um anti-hipertensivo, e ao fármaco Diclofenaco, um anti-inflamatório não esteroidal (AINES), além de sua mistura entre seus compostos. Foram realizados ensaio de toxicidade Aguda para Artemia salina e de toxicidade Crônica empregando-se embriões de ouriço-do-mar (Echinometra lucunter). Os organismos foram expostos aos fármacos isolados a diferentes concentrações: 1,56 mg/L; 3,12 mg/L; 6,25 mg/L; 12,5 mg/L; 25 mg/L; 50 mg/L e 100 mg/L, e a sua mistura nas concentrações: 0,78 mg/L; 1,56 mg/L; 3,12 mg/L; 6,25mg/L; 12,5 mg/L; 25 mg/L e 50 mg/L. O resultado obtido no ensaio de toxicidade Aguda não evidenciou toxicidade aos organismos expostos. O resultado obtido no ensaio de toxicidade Crônica com a Losartana não apresentou toxicidade aos embriões de ouriço-do-mar, em contrapartida o Diclofenaco isolado apresentou toxicidade Crônica em CENO= 6,25mg/L, CEO= 12,5 mg/L e CI50= 62,15 mg/L. O resultado obtido com embriões expostos à mistura da Losartana e o Diclofenaco, evidenciou toxicidade Crônica em CENO= 6,25 mg/L e CEO=12,5 mg/L, não sendo possível evidenciar a CI50.
A Filogeografia é a ciência que estuda o arranjo espacial da diversidade genética e das linhagens divergentes de indivíduos da mesma espécie ou de espécies relacionadas. O tubarão-crocodilo Pseudocarcharias kamoharai é uma espécie epi- e mesopelágica, altamente migratória, capturada regularmente como captura acessória em pescarias de espinhel e classificada como “Pouco Preocupante” pela Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. A espécie forma uma população panmítica entre os oceanos Atlântico e Índico, entretanto a história demográfica de P. kamoharai nunca foi avaliada e pode ser que existam linhagens divergentes ou unidades de manejo diferenciadas. Desta forma, o presente estudo visa analisar a filogeografia da espécie entre os oceanos Atlântico e Índico através de sequências da região controle do DNA mitocondrial. Os resultados identificaram 22 novos haplótipos para a espécie, totalizando 53 haplótipos com alta diversidade haplotípica (hd = 0.901 ± 0.012) e moderada diversidade nucleotídica (p = 0.00342 ± 0.00016). Apesar dos novos haplótipos, nem a AMOVA (FST = -0.00398, p > 0,05), nem os agrupamentos espaciais identificaram a existência de estrutura genética populacional. Entretanto, a inferência filogenética Bayesiana evidenciou um evento coalescente há 14,09 milhões de anos durante o Mioceno Médio, possivelmente associado ao fechamento do Mar de Tethys e a formação do Istmo do Panamá, que originou duas linhagens mitocondriais divergentes e com grande diferenciação genética (FST = 0.37373, p = 0.00001). Além disso, ambas as linhagens apresentaram independência demográfica e evidenciaram expansão demográfica e espacial durante os ciclos glaciais e interglaciais do Pleistoceno. O fluxo gênico histórico também evidenciou a existência de uma população panmítica, provavelmente ambas as linhagens ficaram isoladas por um período considerável, mas após o restabelecimento dos níveis oceânicos, tiveram contato secundário e, atualmente, ambas são simpátricas entre as duas bacias oceânicas estudadas.
No combate a incêndios de classe B, os agentes de supressão de incêndio (FSA), como Líquidos Geradores de Espumas (LGEs) e agentes encapsulantes (EA) têm a finalidade de resfriar, suprimir e remover a superfície em chamas, mas vários estudos apontam para o ambiente aquático como o destino final desses compostos estáveis, bem como a liberação de compostos perfluorados em suas formas de degradação. Com características de persistência, a toxicidade dos compostos per- e polifluoroalquílicos (PFASs), especialmente os FSAs, levanta questões sobre a saúde ambiental. Neste estudo, a reprodução, maturação e comprimento corporal do microcrustáceo aquático Daphnia similis foram analisados através da exposição de organismos a diferentes marcas comerciais de 2 FSAs, Cold fire® Supressant Agent e Liovac®, nas seguintes concentrações: 0,000093%; 0,0001875%; 0,000375%; 0,00075%; 0,0015%, 0,0003125%; 0,000625%; 0,00125%; 0,0025%; 0,005%, respectivamente. Nossos resultados mostraram que a exposição a LGEs e EA causou efeito inibitório na reprodução de Daphnia similis. Além disso, houve um atraso significativo na maturação e diminuição significativa do comprimento corporal em indivíduos expostos a concentrações menores que as recomendadas pelos fabricantes. Esses resultados destacam a importância de estudos futuros com compostos perfluorados de cadeia longa e curta, por serem necessários considerar os diferentes efeitos causados por elas e, se necessário, apenas o uso de formulações que tenham menor impacto ecotoxicológico.
Riachos de cabeceira são ambientes de estrutura heterogênea, nos quais é possível encontrar um mosaico de micro-habitats, cuja exploração revela algumas adaptações como, por exemplo, os atributos morfológicos envolvidos nas estratégias de forrageio de cada grupo trófico. Este estudo buscou traçar um comparativo sobre a exploração dos recursos alimentares para os grupos tróficos nectônico e nectobentônico, e desta forma gerar subsídios que auxiliem na compreensão da coexistência dessas comunidades. A estrutura de grupos de espécies nectônicas e nectobentônicas foi analisada utilizando os dados de alimentação para avaliar a sobreposição de nicho (Índice de Pianka), a amplitude de nicho (Índice de Levins) e a variação de itens consumidos (diversidade beta). A ictiofauna foi coletada entre junho e novembro de 2014 em riachos de cabeceira de primeira a terceira ordem na bacia do Alto Paranapanema. Em laboratório os peixes foram identificados, pesados e mensurados quanto ao comprimento padrão. Os estômagos com alimento foram retirados e conservados em álcool 70%. O conteúdo estomacal foi identificado em estereomicroscópio e quantificado de acordo com o Grau de Preferência Alimentar que classificou os itens de origem autóctone (principalmente formas imaturas de insetos), como mais importantes na dieta das espécies. Foram analisados 78 espécimes, sendo 42 peixes de três espécies nectônicas, Psalidodon paranae, Psalidodon bockmanni, Piabina argentea e 36 peixes de três espécies nectobentônicas Characidium gomesi, Characidium schubarti e Characidium zebra. A média da amplitude de nicho foi maior para as espécies nectônicas, principalmente pela maior presença de itens alóctones no estrato próximo à superfície. A sobreposição de nicho foi mais elevada entre as espécies nectobentônicas que pertencem ao mesmo gênero e sendo assim apresentam grandes semelhanças no forrageio. Os dados sobre a diversidade beta total (ßSOR) foram elevados o que corrobora com a literatura sobre a variedade de recursos disponíveis em riachos Neotropicais. O componente de substituição (ßSIM) foi elevado enquanto o componente de aninhamento (ßNES) foi baixo, evidenciando que ocorre maior substituição do que ausência dos itens consumidos no forrageio para os diferentes extratos. A morfologia favorece a exploração de diferentes estratos da coluna d’água e promove uma segregação espacial que possivelmente configura um importante fator da coexistência desses grupos tróficos. Contudo, a combinação de múltiplos fatores pode contribuir para a coexistência das espécies de peixes de riacho de cabeceira como, por exemplo, a plasticidade trófica e a abundância de recursos alimentares em riachos Neotropicais. Estudos sobre a ictiofauna de riachos de cabeceira tornam-se fundamentalmente relevantes para a compreensão de sua assembleia, abundância, organização trófica e seus atributos, e assim gerar subsídios para que possibilitem a compreensão do funcionamento do ecossistema estudado.
2019
A maioria da população brasileira vive em área de Mata Atlântica, bioma considerado um hotspot de biodiversidade devido a seu alto grau de endemismo de espécies e por ser um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo. A vegetação exerce um papel determinante no funcionamento dos ecossistemas terrestres, influenciando diferentes espécies além de seu entorno. Restinga é um termo utilizado para definir diferentes formações vegetais estabelecidas em solos arenosos presentes na costa brasileira e também de outros países. São áreas consideradas sistemas de grande fragilidade do litoral brasileiro que sofrem de uma ocupação desordenada. Atualmente, poucas áreas encontram-se preservadas ou protegidas em Unidades de Conservação (UC). O Parque Estadual Restinga de Bertioga (PERB) é uma das poucas áreas que ainda abrigam trechos extensos e bem conservados da Mata Atlântica, além de possuir alta representatividade em termos de conservação. Este estudo teve como objetivo verificar se o PERB está cumprindo sua função como UC, provendo a proteção e conservação desta área de vegetação litorânea no município de Bertioga. A área do PERB foi analisada através de técnicas de sensoriamento remoto, utilizando como base de dados imagens dos satélites Landsat 5 (sensor TM) e Landsat 8 (sensor OLI) as quais foram calculadas para gerarem dois índices de vegetação, o Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) e o Enhanced Vegetation Index 2 (EVI2). Com o objetivo de analisar as condições da cobertura vegetal pelos valores dos índices de vegetação e através da complexidade e heterogeneidade do habitat do PERB registrados entre os anos de 2000 a 2018, antes, durante e depois da área se tornar uma UC. Os resultados foram analisados estatisticamente através da mediana, primeiro e terceiro quartil, valores mínimos e máximos e outliers através de gráfico boxplot e análise de variância utilizando Teste de Comparações Múltiplas. Ambos os índices utilizados, apresentaram oscilações nos valores de IVs, mas registraram uma tendência positiva nos valores resultados dos IVs a partir da criação do PERB. Sendo possível afirmar que boa parte da supressão vegetal e influencias antrópicas foram minimizadas dentro da área do Parque, e lentamente a vegetação está se regenerando, conforme evidenciado no crescimento tênue em ambos índices no decorrer dos anos da série temporal.
O presente trabalho tem como objetivo analisar a qualidade da água do canal da Avenida Jovino de Melo, na zona Noroeste de Santos, no estado de São Paulo durante o mês de agosto de 2018, na alta pluviosidade. Através dessas análises, buscou-se identificar as características físico-químicas, como temperatura, salinidade, pH, oxigênio dissolvido e nitrogênio amoniacal, a caracterização microbiológica além de verificar os efeitos ecotoxicológicos. Para isso, além da pesquisa bibliográfica, apoiou-se em estudo de campo, que envolveu coleta de material em três pontos específicos do canal de drenagem da Avenida Jovino de Melo para testes, ensaios ecotoxicológicos para avaliação de efeito crônico, realizados no laboratório de Ecotoxicologia da Universidade Santa Cecília. A construção dos canais foi fundamental no passado para o desenvolvimento de Santos, alterando de forma marcante e decisiva os rumos comerciais e o espaço geográfico da cidade. Incorporados à cultura local, ainda hoje são utilizados. Dessa forma, é importante saber o estado das águas que são despejadas neles e o que revelam a respeito das questões ambientais. Os resultados das análises ecotoxicológicas podem sugerir um possível risco para o ecossistema aquático local. Os dados obtidos foram comparados com os critérios estabelecidos nas Resoluções CONAMA nº 274/2000, n° 357/2005 e n° 430/2011. As análises estão sugerindo uma possível ação antropogênica no canal em estudo, que escoará suas águas no estuário.
Ações danosas praticadas pela humanidade em nome do progresso não são novas e vêm aumentando nos últimos anos. A Constituição Federal do Brasil é o documento máximo do país e todas as posições jurídicas evocadas a partir deste trabalho derivam dele. O artigo 225 da Carta Magna diz que todos os cidadãos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Os educadores são responsáveis pela educação primária formal de bebês e crianças pequenas, por isso é essencial saber como as instituições de ensino superior abordam questões ambientais em seus currículos. Este estudo pretende verificar se os egressos dos cursos de Pedagogia possuem formação adequada para gerar aprendizagens atitudinais em seus alunos em relação à biodiversidade e sustentabilidade ambiental, ao mesmo tempo em que os engajam em causas ambientais. Alunos de sete universidades privadas e duas públicas participaram desta pesquisa. Para coleta de dados, foi elaborado um questionário com duas questões abertas e dez fechadas (múltipla escolha). A Base Curricular Nacional, a ser implementada até 2020, prevê a necessidade de novos materiais e o aumento da proficiência. A pesquisa demonstra que não teremos profissionais preparados para ministrar temas ligados à educação ambiental, porque o conteúdo específico sugerido nessa área de estudo é abordado de forma insatisfatória pelos cursos de Pedagogia, notadamente pelo que se espera para os jovens estudantes no conteúdo do documento em fase de implantação.
Compostos perfluorados compreendem uma classe de substâncias com propriedades químicas que, nos últimos anos, têm recebido crescente atenção devido aos seus efeitos adversos sobre a biota, especialmente no meio aquático. O uso de Espumas de Formação de Filmes Aquosos (AFFF) tem sido relacionado à contaminação ambiental devido ao manuseio, armazenamento e uso no combate a incêndios de classe B. Estudos associaram o uso de AFFF com efeitos tóxicos de seus compostos perfluorados ao ecossistema aquático, o que levou a Convenção de Estocolmo a restringir seu uso. No Brasil, apesar do uso em larga escala, não há dados sobre consumo ou comercialização anual desses produtos. Este estudo avaliou a toxicidade de sete marcas de AFFFs utilizadas no incêndio do terminal petroquímico de armazenamento de combustíveis no Porto de Santos ocorrido em 2015, no qual mais de 61 mil litros de AFFFs drenaram para os ecossistemas aquáticos adjacentes. A avaliação da toxicidade foi realizada por meio do bioensaio agudo, utilizando o microcrustáceo de água doce Daphnia similis. As marcas AFFF testadas foram consideradas tóxicas para D. similis, inclusive com diluições muito inferiores às recomendadas pelos fabricantes. A marca que apresentou menor toxicidade foi a Kidde Sintex 3% x 6%, seguida da Kidde Sintex 1% x 3%, Argus Prime, Liovac, Cold Fire, Ageofoam e a de maior toxicidade foi a F-500 fire. Esses resultados fornecem informações valiosas para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à gestão da descarga de AFFFs em ecossistemas de água doce.
A acidificação dos oceanos é uma realidade e tem sido alvo de muitos estudos. Atualmente foi encontrado uma quantidade significativa de CO2 nos corpos hídricos, o mesmo que se acredita ser responsável pelo efeito estufa, é absorvido pela água e resulta na diminuição do pH oceânico. Apesar do processo de CCS ser considerada a melhor forma de redução na emissão de CO2, há riscos de vazamento. Outra realidade que vem sido muito estuda é a presença de produtos farmacêuticos e de higiene pessoal no meio ambiente. A presença desses produtos no ambiente pode se dar desde a falta de tratamento das águas dos esgotos e que acabam em nos corpos aquáticos, como ao descarte inadequado. O 17a-etinilestradiol é um dos produtos mais perigosos para o meio aquáticos, e já foi encontrado em diversas localidades. É um hormônio sintético presente na maioria dos métodos contraceptivos, e eliminado do organismo humano principalmente pela urina. Seus efeitos conhecidos são: diminuição na eclosão de ovos de pássaros, peixes e tartarugas, feminização de peixes machos, indução de vitelogenia de peixes, falhas na reprodução de peixes, répteis, pássaros e mamíferos, alterações imunológicas em mamíferos aquáticos, entre outros. Diante desse quadro, o presente estudo objetivou avaliar os efeitos do impacto ambiental da acidificação dos oceanos associada a toxicidade do EE2, considerando o desenvolvimento embriolarval de Echinometra lucunter, expondo-os a diferentes pHs, por injeção de CO2. Os resultados obtidos demonstraram que o EE2 causou retardo no desenvolvimento embriolarval de ouriços do mar em concentrações a partir de 10 ng/L. Estes dados, por si só, já demonstram os potenciais riscos deste composto ao ambiente marinho, uma vez que os efeitos ocorreram em concentrações ambientalmente relevantes. A partir dos resultados foi possível ainda observar efeitos a 50% dos organismos expostos a partir do pH 7,73. Por outro lado, quando considerados os efeitos do EE2 em diferentes cenários de acidificação oceânica, foi observada diminuição da toxicidade do composto. Os efeitos tóxicos mais severos observados em pH mais elevado podem estar relacionados a sub-produtos de degradação do EE2, que ocorrem em função de pHs mais elevados. Os dados gerados no presente estudo poderão subsidiar estudos de avaliação de risco ambiental, assim como tomadas de decisão e regulamentação de poluentes diante de um cenário de acidificação oceânica.
Atualmente, diversos estudos em âmbito mundial têm relatado problemas ambientais causados pela presença de fármacos sintéticos, entretanto, pouco se conhece sobre os possíveis efeitos ambientais ocasionados por substâncias naturais utilizadas na medicina farmacêutica. Diante deste contexto, o presente estudo teve como objetivo realizar estudos etnofarmacológicos e ecotoxicológicos das espécies vegetais Bauhinia forficata e Cocos nucifera e comparar os problemas ambientais com fármacos utilizados para o tratamento de úlcera gástrica. Para identificar os compostos, foram realizados ensaios fitoquímicos e tanto a fração aquosa de Bauhinia forficata quanto os extratos aquosos brutos de Cocos nucifera (mesocarpo e endosperma sólido) foram submetidos às análises, por meio de ensaios cromáticos e/ou precipitação. Para a espectrofotometria, a absorbância foi medida em espectrofotômetro (CELM) a 750 nm. Posteriormente, também foi realizada para a fração aquosa de Bauhinia forficata, análise em espectrometria de massa através da identificação do íon precursor e íons provenientes da fragmentação, e comparados por paridade com dados de espectrometria de massas já existentes e descritos através da literatura de moléculas. Por fim, foram realizadas análises de toxicidade para avaliação de efeitos crônicos e agudos com Echinometra lucunter e Daphnia similis, respectivamente. Nos ensaios fitoquímicos foram detectadas a presença de flavonoides e taninos do tipo condensado. Na dosagem de compostos fenólicos, o endosperma sólido apresentou maior quantidade de fenólicos totais. Na análise de espectrometria de massas de Bauhinia forficata, foram encontrados os compostos Quercetina-3-O-ramnosídeo e Quercetina-3,7-O- diramnosídeo. No que se refere aos testes de toxicidade, embora não tenham sido observados efeitos agudos, foi possível observar efeitos crônicos tanto dos compostos sintéticos quanto dos compostos naturais. O fármaco que apresentou maior toxicidade crônica foi o Lanzoprazol (8,06 mg.L-1), seguido do Omeprazol (10,36 mg.L-1), e do Mesocarpo (20,1 mg.L-1), enquanto a Amoxicilina apresentou menor toxicidade (744,37 mg.L-1). Além disso, foi possível aplicar uma classificação com relação a toxicidade dos compostos de acordo com a diretiva europeia 93/67/CEE. O Lanzoprazol foi o composto que apresentou maior toxicidade e foi classificado como “tóxico”. O Omeprazol, mesocarpo, endosperma sólido e B. forficata foram classificados como “nocivos” enquanto a Amoxicilina foi classificada como “não tóxica” nos testes com E. lucunter. Já para os testes realizados com D. similis todos os compostos foram classificados como “não tóxicos”, de acordo com a diretiva europeia.
A modalidade pesque-e-solte, do inglês catch-and-release (CandR) vêm crescendo rapidamente em vários países. Entre as espécies apreciadas por pescadores esportivos, a Hoplias malabaricus (traíra) é conhecida por sua agressividade e esportividade quando fisgada, sendo apreciada nesta modalidade. Entretanto, até o nosso conhecimento, nenhum estudo foi realizado para avaliar os efeitos do CandR nesta espécie. O presente estudo buscou avaliar as injúrias causadas pelo anzol (localização do anzol, sangramento e facilidade de remoção do anzol), o preditor de mortalidade (RAMP), medindo parâmetros fisiológicos (cortisol, glicose, lactato, composição iônica (Na+, K+ e Cl-) e osmolalidade) plasmáticos, e avaliar a mortalidade imediata pós soltura, na traíra após a simulação de pesca esportiva com exposição ao ar de 0 s (controle), 30 e 60 s em dois momentos (Primavera e Outono). A utilização do anzol sem farpa do tipo J associada ao pequeno período de exposição ao ar provou ser eficiente para a pesca esportiva da traíra, uma vez que a mortalidade imediata foi baixa (6.66%) o que indica a integridade do peixe durante o CandR. Os peixes ainda apresentaram baixa taxa de injúrias e sangramentos, baixo número de reflexos comprometidos (baixo RAMP score) e baixo efeito na fisiologia dos peixes. Não houve alteração nas respostas ao stress (cortisol, lactato e glicose), apenas a concentração de Na+ plasmático aumentou em relação a exposição ao ar, enquanto diferenças no RAMP score e na concentração de K+ plasmático foram relacionados ao peso dos peixes e a temperature da água, mas não com exposição ao ar. Nossos resultados aumentam o conhecimento dos efeitos do CandR na traíra e pose ser útil na gestão do turismo de pesca, contribuindo com a disseminação de boas práticas e a sustentabilidade dessa atividade.
O desenvolvimento tecnológico e o aumento da produção de equipamentos eletroeletrônicos geram, como consequência, grandes volumes de resíduo eletrônico. O mundo produz em torno de 46 milhões de toneladas, os Estados Unidos contribuem com 32% deste montante, enquanto o Brasil participa com 1,5 milhões de toneladas (7,1 kg/hab). Somente 3% deste montante é descartado de forma adequada. Os resíduos eletrônicos possuem em sua constituição elementos potencialmente poluentes e ao mesmo tempo, a presença de metais preciosos, tornando-os atraentes para o setor da reciclagem. Este trabalho verificou procedimentos e dados da coleta de resíduo eletrônico realizada pela Fundação Settaport na cidade de Santos/SP, no ano de 2017. A fundação realizou 745 coletas de lixo eletrônico nos diversos endereços da cidade de Santos/SP. Foram aproximadamente 30 mil itens eletrônicos coletados, totalizando 85.842kg, com destaque àqueles relacionados com a área de computação. Houve uma maior demanda, para a coleta de tv de tubo, com um total de 32000 itens coletados. Em relação aos dias da semana, há uma demanda maior nos dias de quarta à quinta-feira, com um aumento de aproximadamente 15% quando comparado a sexta e sábado. As coletas foram mais intensas nos meses de novembro a janeiro. Nestes meses, a cidade de Santos recebe mais pessoas para passar férias, aumentando o seu consumo e a renovação de produtos eletrônicos. Além disso, os trabalhadores recebem o 13º salário, férias, aumentando o poder de compra. A pesquisa constatou que o volume coletado pela Settaport corresponde, aproximadamente, a 0,2 kg/habitante e está de acordo com estudos em que apontam apenas 3% do lixo eletrônico é descartado adequadamente. Além do lixo eletrônico, a Settaport também coleta material de sucata, gerando no total 198.805kg. Foi possível a elaboração de tabela e um mapa para ilustrar a distribuição dos pontos de coleta da referida cidade. Os bairros com o maior número gerador do resíduo foram Gonzaga, Embaré, Ponta da Praia e Aparecida. Estes bairros se estendem desde o canal 2 até o canal 7 e compreende um total de 47% de todo o lixo eletrônico descartado na cidade de Santos. Fica evidente a importância das iniciativas como da Fundação Settaport para minimizar os impactos do descarte inadequado de resíduos eletrônicos, pelos danos provocados ao meio ambiente e à saúde das pessoas, como também pela oportunidade da criação de uma nova atividade econômica
O Brasil tem a maior biodiversidade de peixes do mundo, que é explorada por diversas comunidades e modalidades pesqueiras. O presente trabalho foi desenvolvido da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una (RDSBU), que abriga uma população caiçara praticante da pesca artesanal marinha, estuarina e dulcícola. Os objetivos foram descrever a ictiofauna capturada e analisar a composição, diversidade e variações espacial e sazonal das espécies capturadas. Foram amostrados 211 desembarques pesqueiros entre o período de agosto de 2017 a julho de 2018 para registro de informações sobre a localização dos principais pontos de pesca, os tipos de redes, as espécies mais capturadas e importância econômica. Foram identificadas 66 espécies, 11.393 exemplares e um total de 10.569Kg capturados em 24 pontos de pesca, dos quais 5 delas em ambiente marinho, 8 em ambiente estuarino e 11 em ambiente dulcícola. A família de peixes com maior representatividade foi Sciaenidae, e quanto às espécies, Eugerres brasilianus, Centropomus parallelus, Larimus breviceps, Hoplias malabaricus e Genides barbus, foram as mais representativas em abundância numérica. A diversidade foi maior no ambiente dulcícola (H’=2,324bel/ind) assim como, a maior equitabilidade (J’=0,6834) e a menor dominância (D’=0,1295). A menor diversidade ocorreu no estuário (H’=1,837 bel/ind) e maior dominância (D’=0,2606). A riqueza de Margalef apresentou maior valor no ambiente marinho (Mg=4,389). Algumas espécies foram exclusivas de cada ambiente ou de um período climático. A riqueza foi maior no verão (n=45), assim como a abundância (n=4489). A pesca artesanal na RDSBU tem boa produção pesqueira indicando um volume considerado de biomassa, com taxa de captura demonstrando a importância da área protegida, fornecendo proteção para espécies alvo das pescarias e de espécies vulneráveis. Além disso, os pescadores, mesmo possuindo espécies alvo evidentes para as pescarias nos diferentes ambientes e nas diferentes estações climáticas não descartaram nenhuma espécie e assim evitam maiores impactos sobre a fauna acompanhante. Os resultados aqui gerados representam importantes subsídios para a gestão e proteção da biodiversidade de peixes das Unidades de Conservação do Mosaico Jureia Itatins, em especial, a RDS Barra do Una.
O Brasil é considerado um país megadiverso, sendo o segundo mais rico em espécies de morcegos, apresentando 182 dentre as 1300 espécies existentes. Morcegos possuem um papel ecológico muito importante, pois a rápida digestão dos morcegos, o forrageio em grandes distâncias, assim como sua capacidade de defecar durante o voo os tornam bastantes eficientes na dispersão de sementes. Os morcegos nectarívoros são capazes de polinizar até 500 espécies de plantas neotropicais e morcegos insetívoros atuam no controle de pragas agrícolas. No entanto, as interações entre homens e morcegos podem ser perigosas, pois muitas espécies são depósitos naturais de patógenos, como o vírus da raiva, que podem ser transmitidos ao homem. Assim, este estudo objetivou realizar a descrição da comunidade de morcegos sinantrópica e averiguar a presença do vírus rábico (Lyssavirus), além de descrever parâmetros hematológicos de espécimes coletados em uma área de remanescente de Mata Atlântica (São Vicente – SP, Parque Ecológico Voturuá). Foram identificadas sete espécies (8,9% das espécies registradas para o Estado de São Paulo) pertencentes a quatro guildas tróficas. As Famílias mais e menos abundantes foram a Phyllostomidae e Vespertilionidae, respectivamente. Foi possível observar fêmeas gestantes e lactantes ao longo do período amostral. Do total de 35 animais coletados, vinte foram submetidos à análise da presença do vírus da raiva, sendo cinco A. lituratus, três D. rotundus, quatro S. tildae, cinco S. lilium, dois G. soricina, e um M. nigricans. Sendo que, nenhum apresentou contaminação pelo vírus. Apresentamos eritograma e leucograma, os mais completos, encontrados na literatura, para as espécies G. soricina, S. lilium e P. lineatus. Conseguimos traçar o perfil bioquímico para 5 indivíduos da espécie Artibeus lituratus. O presente estudo sugere o importante papel ecossistêmico prestado pelos morcegos no processo de regeneração da área de estudo, disponibiliza dados hematológicos e contribui para conhecimento da diversidade de morcegos restritos aos remanescentes florestais urbanos da cidade de São Vicente-SP.
O trabalho dos centros de acolhimento como o CePTAS (Centro de Pesquisa e Triagem de Animais Silvestres), em que pese a sua divulgação, não recebe a relevância correta no que tange às informações produzidas e sua notável contribuição na preservação do meio ambiente. A diversidade de espécies resgatadas, seu trato e destinação sob diversos enfoques, muitas vezes não são analisados detidamente pelosórgãos estatais gestores do meio-ambiente. Este trabalho de cunho exploratório objetivou quantificar o número de animais recepcionados, quais as espécies mais resgatadas, seus locais de origem, quantos e quais animais são reintroduzidos no meio ambiente, quais e quantas espécies ameaçadas foram inventariadas. Além disso, foram levantadas informações acerca das cidades e regiões com maior número de resgates e apreensões. A pesquisa foi realizada usando-se do levantamento dos dados fornecidos pelo CePTAS. O levantamento das informações se estendeu ao longo de 84 meses (junho/2008 a dezembro/2016). Foram feitas as análises gráficas dos resultados, bem como a análise sócio-cultural responsável por promover o comércio ilegal de animais silvestres. Estabelecemos uma proposta com abordagens visando a diminuição das ocorrências. Com base nos resultados rastreamos as principais ameaças antrópicas para cada grupo taxonômico. Constatamos que há necessidade de mais disseminação de conhecimento situacional das condições dos biomas paulistas para a preservação da fauna silvestre, em especial, a disseminação de mais conhecimento sócio ambiental ao longo de todo o programa curricular do ensino fundamental e médio visando educar a população para banir a captura, caça e posse ilegal de animais silvestres. Foram atendidas 357 espécies dentro de um conjunto de 5179 ocorrências, destas, 48 espécies são classificadas em 4 níveis críticos de conservação, sendo a maior parte avifauna. Foram constatadas diferenças entre os dados oficiais do Poder Público e os dados atualizados dos organismos internacionais de proteção a fauna.
Este trabalho propõe analisar o grau de degradação da Mata Atlântica na zona de morros da porção insular do município de Santos (São Paulo, Brasil), especialmente nos morros da Caneleira, Monte Serrat e Marapé e a influência dessa perda nas ocorrências de Movimentos gravitacionais de massa. As etapas de trabalho consistiram em uma revisão bibliográfica, no geoprocessamento de cartas topográficas antigas e fotos aéreas atuais, comparando as áreas verdes de dois períodos (1970-2014) e identificando locais onde ocorreu um ganho ou uma perda de área de mata. Comparou-se também esses locais com as ocorrências da defesa civil, para movimentos de massa na última década, entre os anos de 2008 a 2018, com a finalidade de correlacionar os atendimentos recentes com a perda de vegetação. Por fim foi possível identificar os locais-chave para a conservação nas três áreas estudadas e assim como a identificação das ameaças a conservação. A principal ameaça de degradação dos três morros foi a ocupação urbana sem controle, que além de desmatar as áreas também induz um aumento considerável no número de ocorrências de processos erosivos. O que indica que a perda de vegetação natural em áreas urbanas resulta tanto de causas naturais, deslizamentos de terra, por exemplo, como de causas antrópicas, trata-se, portanto, de um processo social ambiental urbano. As áreas mais preservadas em todos os morros correspondem a propriedades privadas ou municipais e que tem como características principais o difícil acesso e a alta declividade o que impedem a sua ocupação, além da vigilância dos proprietários.
Os riachos de Mata Atlântica são constituídos por espécies de peixes de pequeno porte, elevado grau de endemismo e que mantêm relações intra e interespecíficas diversas, com forte influência das características ambientais e estruturais. O objetivo do trabalho foi analisar a ictiofauna de riachos da Bacia do Rio Cubatão, Núcleo Itutinga-Pilões, SP, descrevendo aspectos da diversidade taxonômica e atributos funcionais das espécies. Os peixes foram amostrados com equipamento de pesca elétrica do tipo backpack em 10 pontos ao longo de 100 metros de extensão, na Bacia do Rio Cubatão, em julho de 2016. No laboratório foram conservados em álcool 70%, identificados com literatura especializada, contados e pesados (g). Para análise da diversidade taxonômica foram calculados os Índices de diversidade de Shannon-Wiener, Equitabilidade de Pileou e Riqueza de Margalef. Visando evidenciar os padrões de similaridade na composição das espécies entre os pontos, foi realizada uma análise de agrupamento utilizando o Coeficiente de Bray-Curtis. Foram descritos atributos funcionais das espécies, relacionados à dieta, uso do hábitat e preferência por fluxo, obtidos por meio de revisão bibliográfica. Foram amostrados 10 pontos, capturados 461 indivíduos de 15 espécies, sendo Siluriformes (8 espécies) e Characiformes (6 espécies), as ordens mais representativas. A maioria dos peixes encontrados nos riachos amostrados possuem hábitos bentônicos e dieta onívora. Os peixes de riachos são importantes na manutenção do ecossistema, sendo fundamental entender sua funcionalidade no ambiente, assim como conhecer sua riqueza e ocorrência.
A contaminação dos ambientes aquáticos é um dos principais problemas mundiais das últimas décadas. Além do problema da crescente urbanização e industrialização não planejada, alguns centros urbanos sofrem ainda com a presença de uma população flutuante. Esse aumento populacional pode levar a maior consumo dos recursos naturais, como a água, e aumento da carga de efluentes domésticos, muitas vezes, sobrecarregando os sistemas de tratamento de esgotos presente nessas cidades, levando a prejuízos na qualidade da água na qual recebem esses efluentes. Além disso, a qualidade das águas pode também ser influenciada pelos períodos com maior ou menor índices pluviométricos, uma vez que pode acontecer a diluição desses efluentes pela água da chuva. O presente estudo buscou avaliar a qualidade da água do rio Tejereba (Guarujá-SP), no qual deságua em uma praia muito apreciada por turistas, durante os períodos de alta (janeiro) e baixa (março e maio) pluviosidade e temporada de turistas no ano de 2018. Foi observado uma diminuição na qualidade da água nos meses de menor pluviosidade e baixa temporada (maio). A análise integrada dos dados (PCA) demonstrou correlações positivas entre os parâmetros físico-químicos e o mês de maio, no qual foram negativamente correlacionados com a pluviosidade e a porcentagem de turistas. Apesar de uma piora na qualidade da água no mês de maio, nenhum dos meses estudados apresentou toxidade para Daphnia similis. Nossos dados demonstram que a qualidade da água (parâmetros físico-químicos e microbiológicos) está muito mais relacionada com pluviosidade do que com a presença de turistas na cidade do Guarujá, nos meses estudados.
Cada vez mais, indústrias, tráfegos automobilísticos, resíduos orgânicos e fatores naturais, têm causado a contaminação do meio ambiente, causando danos aos seres. O objetivo deste estudo foi avaliar e testar a capacidade ecotoxicológica de componentes tóxicos do ar atmosférico de duas regiões centrais da cidade de Santos, um importante polo industrial e petrolífero composto por indústrias e também o maior porto da América Latina, através do processo de deposição de água da chuva, valorizando a resposta à Daphnia simlis através de testes agudos. Espécies de nitrogênio e amônia foram identificadas nessas águas pluviais, mas não mostraram resultados de toxicidade para Daphnia similis, sugerindo que a presença de amônia e os demais componentes que formamas partículas finas (MP2.5 ) do ar atmosferico poluído que mesmo incoporados na água de chuva, não foram capazes de causar toxicidade. Outros componentes tóxicos além de compostos nitrogenados e componentes poluentes do ar atmosférico não foram avaliados.
Em substratos biogênicos de Phragmatopoma caudata Krøyer in Mörch, 1863, existe uma diversidade de organismos que vivem associados a esses bancos de areia, e os crustáceos formam 90% da macrofauna associada a esses tubos. O objetivo deste trabalho foi estudar a composição faunística a fim de identificar e elaborar uma sinopse taxonômica das espécies encontradas, categorizando as espécies em grupos hierárquicos de importância ecológica pelo Índice de Valor Ecológico, Índice de Constância e Índices Ecológicos; e avaliar os resultados obtidos entre as estações do ano no costão rochoso na Ilha Porchat, em São Vicente (SP). Foram realizadas entre o ano de 2017 e 2018 coletas trimestrais de aproximadamente 1 kg. O levantamento registrou 4.202 organismos distribuídos em 22 espécies de crustáceos, sendo três ordens de Peracarida (Amphipoda: Elasmopus sp., Gammaropsis togoensis, Monocorophium acherusicum, Ericthonius brasiliensis, Jassa statlery, Apohyale media, Stenothoe sp., Caprella danilevskii, Podoceridae Tanaidacea: Zeuxo coralensis e Isopoda: Joeropsis dubia, Sphaeroma walkeri) e duas ordens de Decapoda (Brachyura: Pachygrapsus transversus, Menippe nodifrons, Acantholobulus schmitti, Acantholobulus bermudensis, Panopeus austrobesus, Eurypanopeus abbreviatus e Anomura: Petrolisthes armatus, Pachycheles laevidactylus, Pachycheles monilifer e Megalobrachium roseum). Apesar de a sazonalidade não ser tão marcada, talvez os elementos amostrais tão parecidos, em ambos os locais, tenham características próprias, permitindo a abundância e a ocorrência destas espécies de crustáceos. Com base nos resultados da hierarquização das espécies realizada pelo IVE aponta que Sphaeroma walkeri com o maior resultado de importância ecológica e a segunda espécie mais importante ao nível de valor ecológico Elasmopus sp. seguida de Gammaropsis togoensis. Contudo, apesar da maior riqueza, constância e IVE apresentar no grupo dos peracarídeos, o grupo dos decápodes foram encontradas três espécies constantes durante o estudo (P. armatus, P. transversus e M. nodifrons).
Este trabalho apresenta uma matriz de referência educacional para cursos de graduação em Ciências Biológicas. Essa matriz foi elaborada para o curso da biodiversidade na vertente evolutiva. O estudo direciona e alinha perfis e habilidades do formando, a fim de assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, de acordo com o objetivo 4 da Agenda 2030 das Nações Unidas. Foram encontrados 8 perfis e 14 competências que foram relacionadas através de 10 atividades (temas). Para isso, foram utilizados nove recursos didáticos, que implicam nove ações formativas e onze reações avaliativas. Pode ser estendido a toda a estrutura curricular do curso, tanto no Brasil como em outros países. O uso deste modelo também é permitido para outros cursos de graduação.
Zonas ripícolas são hábitats frágeis, dinâmicos e complexos, sobretudo os insulares. Desenvolvemos uma abordagem, relacionando 71 variáveis ambientais dos rios de Ilhabela (Brasil), através de um protocolo de avaliação rápida adaptado para os rios e seus ambientes adjacentes. As principais perturbações foram relacionadas a alterações na estrutura física do ecótono ripícola. Altura e tipo de vegetação ripária, estabilidade das margens dos rios, deposição de sedimentos e assoreamento do leito foram os fatores que mais determinaram o estado do ambiente. Avaliamos 20 rios, das 8 bacias de Ilhabela, dos quais, 7 apresentaram ótimas condições, 10 em bom estado e 3 com condição regular. Os ambientes localizados na porção mais populosa da ilha apontaram situações mais críticas, face aos impactos antropogênicos. É basilar que o manejo ribeirinho considere a necessidade de observação mais estrita das leis, e dos planos de ocupação e zoneamento, visando a conservação ambiental e sua biodiversidade.
O presente estudo aborda a temática dos métodos de valoração ambiental, de uma perspectiva econômica, como eles devem ser usados no caso de danos ambientais. Existem diversos métodos de valoração que podem ser usados para calcular o valor econômico dos recursos ambientais e serviços ecossistêmicos. O tema proposto se justifica, pois os especialistas alegam que no futuro os serviços ecossistêmicos e os recursos naturais serão valorados, o que levará a uma utilização mais sustentável. No entanto, atualmente as ações antrópicas podem degradar o meio ambiente, por isso a valoração ambiental passa a ser necessária, se há a pretensão que o meio ambiente seja recuperado, e volte a ser próximo do estado que já foi um dia. Neste sentido o objetivo deste trabalho foi realizar uma análise crítica sobre os métodos de valoração ambiental. Este estudo foi realizado por meio de uma revisão bibliográfica, pois configura-se como um estudo exploratório. A pesquisa foi realizada com base na literatura especializada, sobre economia ecológica, serviços ecossistêmicos perícia ambiental, compensação ambiental e métodos de valoração. Após esta fase os métodos de valoração mais citados na literatura foram selecionados para realização de uma análise crítica. Os dados foram organizados em quadros onde foram apontados os pontos fortes e pontos fracos, onde foram apontadas as fragilidades, potencialidades e a abrangência de cada método. Os resultados mostraram que existem diversos métodos, que abrangem de forma diferente os recursos naturais e serviços ecossistêmicos, porém cada método possui pontos fortes e pontos fracos, não sendo totalmente eficiente aplicar apenas um método na valoração ambiental. Sendo assim, para estabelecer valores mais coerentes e aproximados da real importância dos recursos e serviços ambientais deve-se combinar diversos métodos e diferentes abordagens na valoração
Este trabalho aborda sobre a percepção ambiental e o consumo consciente de pescado na Região Metropolitana da Baixada Santista, especificamente nos municípios de Santos e São Vicente, tendo como objetivo avaliar o Grau de Percepção Ambiental (GPA) dos consumidores de pescado, para verificar se há um potencial mercado consumidor de pescado sustentável. O tema da pesquisa é relevante pois a manutenção da biodiversidade marinha é fundamental em termos econômico-ecológicos e sociais, incluindo a subsistência de várias comunidades pesqueiras tradicionais, espera-se que este estudo possa estimular o consumo e a pesca sustentável. Esta pesquisa utiliza pesquisa bibliográfica para levantar mais informações sobre o tema. Na segunda etapa, utiliza pesquisa empírica, por meio de entrevistas com 150 consumidores de pescado presentes no mercado de peixe e em um supermercado de grande rede localizados em Santos-SP, nas feiras livres do município de Santos-SP e São Vicente-SP e em uma peixaria localizada em São Vicente-SP. Após esta etapa são realizadas análises estatísticas, utilizando os testes t e F para verificar se há relação significativa entre os dados demográficos como ‘gênero’, ‘idade’, ‘nível de formação’, e ‘atividade profissional’, e utiliza o teste Kruskal-Wallis para verificar a relação da variável ‘local de compra’ com o GPA. Os resultados mostram diferença estatística significativa entre as variáveis gênero e o GPA, porém não há diferença significativa entre as variáveis idade, nível de formação, atividade profissional, local de compra e o GPA. O presente estudo também revela que em meio às espécies mais consumidas ainda existem espécies que estão em estado vulnerável de conservação, assim como aponta uma falta de informação ao consumidor final sobre a origem e qualidade ambiental de seu pescado. Conclui-se que embora os consumidores estejam preocupados com a qualidade do pescado e em geral revelam alta percepção ambiental, é necessária uma mudança na atuação ambiental quando direcionada para o consumo sustentável de recursos pesqueiros, desafio atual para os formuladores de políticas públicas de conservação, que devem desenvolver programas para informar e educar os consumidores acerca da conservação dos recursos naturais e da biodiversidade.
O arquipélago de Fernando de Noronha-PE está dividido em Parque Nacional Marinho, destinado à proteção da fauna, flora e recursos naturais e Área de Proteção Ambiental, em que a ocupação humana é permitida. Oferece diversas opções de passeios terrestres e marítimos, inclusive subaquáticos, gerando assim, transformações no modo de vida insular em relação às atividades econômicas e o contato com a natureza. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo analisar o conhecimento local e costumes alimentares dos noronhenses, suas preferências e aversões no que concerne ao consumo de peixes do arquipélago. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas individuais utilizando um roteiro e estes foram analisados quantitativa e qualitativamente. Constatou-se, na pesquisa realizada com 81 (oitenta e um) entrevistados, que os peixes preferidos para consumo são xaréu-preto (Caranx lugubris), piraúna (Cephalopholis fulva), albacora (Thunnus albacares), barracuda (Sphyraena barracuda), anchova (Pomatomus saltatrix), cioba (Lutjanus spp.) e cavala (Acanthocybium solandri). Restou confirmada a aversão a peixes reimosos e predileção pelas espécies que possuem carne branca, corroborando os conhecimentos encontrados na literatura sobre o tema.
A hematologia em peixes pode ser considerada um sensível biomarcador de poluição aquática, sendo uma importante ferramenta para o diagnóstico ambiental de áreas altamente impactadas como o Estuário Santos-São Vicente, economicamente o mais importante do Brasil. O objetivo deste trabalho foi estudar as respostas hematológicas de tilápias do Nilo, Oreochromis niloticus, expostas experimentalmente à água do estuário Santos-São Vicente, verificando a dependência com relação ao tempo de exposição, bem como a efetividade das alterações nos eritrócitos e leucócitos como biomarcadores ambientais. Para tanto, os peixes permaneceram em aquários individuais com água do estuário e com seu respectivo controle (água declorada e com salinidade semelhante a do local) por 72 e 120 horas, quando foram anestesiados e tomadas as amostras de sangue por punção da veia caudal para determinação de eritrócitos totais, hemoglobina, hematócrito, índices hematimétricos, os leucócitos totais e a quantificação de seus tipos celulares por extensões sanguíneas. O efeito da poluição e do tempo de exposição sobre as variáveis hematológicas foram analisados por Análise de Variância Multivariada de dois fatores. A exposição por 72 horas promoveu a imunossupressão caracterizada pela redução do número de neutrófilos, monócitos e linfócitos na corrente sanguínea, enquanto que, após 120 horas, houve a estimulação do sistema imune com o incremento de todos os tipos celulares de leucócitos. A exposição a água do estuário resultou em profundas alterações na contagem de leucócitos de O. niloticus, demostrando que esses tipos celulares são biomarcadores mais sensíveis a poluentes do que os eritrócitos.
A composição da ictiofauna está associada à interação de diversos fatores abióticos e processos bioecológicos que podem influenciar nos padrões espaciais e temporais na ocorrência de peixes. Em Sergipe, a prática da pesca é de grande importância socioeconômica, sendo artesanal e incide principalmente nos estoques de camarão e de peixes estuarinos e costeiros. O presente estudo tem como objetivo geral a análise da variação sazonal e espacial da diversidade de peixes demersais no litoral de Sergipe, Brasil. A área de estudo corresponde ao litoral do estado de Sergipe, onde foram realizadas campanhas trimestrais durante um ciclo anual utilizando um bote de arrastos de fundo local. Cada campanha foi constituída por seis pontos amostrais relativos a três localidades (estuários dos rios Japaratuba, Sergipe e Vaza-Barris). Um arrasto de fundo foi feito em frente a cada estuário (cerca de 2mn) e outro mais afastado (cerca de 3 mn), sendo aferidos fatores abióticos: temperatura e salinidade de fundo e superfície e profundidade em cada ponto. Em laboratório, cada exemplar foi identificado, quantificado e pesado. Foram estimados os fatores bióticos: diversidade de Shannon numérico, de peso, de hábitat e de categoria trófica, riqueza de Margalef, equitabilidade de Pielou, por ponto amostral e período sazonal. Foram feitas Análises de variância two way considerando os pontos de coleta e as quatro estações climáticas para todos os fatores bióticos. A similaridade da ictiofauna foi verificada entre os pontos amostrais e período sazonal através do índice de Jaccard, análise de componentes principais e agrupamento. Para detectar possíveis relações entre os fatores bióticos e abióticos foi realizada uma análise de Pearson e uma análise de correlação canônica. Os dados foram analisados com o software Past. Foram coletados 4019 indivíduos pertencentes a 65 espécies, 23 famílias e 14 ordens. Das 65 espécies registradas, 22 espécies ocorreram em todas as estações e 18 ocorreram em todos os pontos. No outono observou-se os maiores índices de diversidade exceto de dominância, enquanto que no verão observou-se maior valor de dominância e menores valores de Shannon e equitabilidade. O ponto de maior destaque é mais afastado no Rio Vaza-Barris por apresentar maior valor de dominância e menores valores de diversidade de Shannon e equitabilidade. C. spixii, I. parvipinnis, S. brasiliensis, P. harroweri e O. mucronatus se destacam por serem as espécies mais abundantes sazonal e espacialmente. O estado de Sergipe é caracterizado por haver duas estações climatológicas principais (estiagem e chuvoso) e notou-se forte influência do ciclo hidrológico sobre a variação temporal das condições da água que influência na composição e abundância das comunidades de peixes, embora apresente uma composição de espécies homogênea sazonal e espacialmente.
As bacias hidrográficas costeiras são importantes para o desenvolvimento socioeconômico do litoral paulista, devido aos usos múltiplos das águas. A urbanização e a expansão portuária, industrial e agrícola têm causado o desmatamento da mata ciliar, expondo o solo à erosão, alterando o aporte de matéria orgânica particulada, nutrientes e poluentes para os riachos e afetando também a biota aquática. O índice de integridade biótica (IIB) analisa múltiplos parâmetros relacionados à composição trófica, riqueza, diversidade de habitat e abundância da ictiofauna, correlacionando-os com intervenções antrópicas no entorno dos riachos, para mensurar a qualidade da água. O objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade ambiental dos riachos das bacias hidrográficas costeiras da baixada santista e do litoral norte do estado de São Paulo, por meio da análise do índice de integridade biótica (IIB). A coleta de peixes foi realizada em 72 pontos de 4 bacias hidrográficas e posteriormente foram calculadas métricas para compor o índice de integridade biótica. O IIB apontou uma qualidade boa nas bacias hidrográficas de Itanhaém, Quilombo e Una e uma qualidade ruim em Boiçucanga. Embora o uso e a ocupação do solo variem entre as bacias hidrográficas analisadas, as intervenções antrópicas vêm afetado negativamente a qualidade ambiental dos riachos costeiros de São Paulo. Com a tendência de aceleração do processo de urbanização na região litorânea nos próximos anos, faz-se necessário aumentar a fiscalização e o monitoramento ambiental dos corpos hídricos e da vegetação ripária
2017
O Conhecimento Ecológico Local (CEL) em comunidades tradicionais tem recebido atenção da comunidade científica devido aos saberes acumulados por estas populações ao longo de muitas gerações. Diversos ramos da ciência, em especial a etnobotânica, têm buscado extrair da sabedoria popular conhecimento sobre recursos vegetais Este trabalho tratou de um diagnóstico da utilização de espécies vegetais no cotidiano da população caiçara da Prainha Branca, localizada no município de Guarujá (São Paulo, Brasil). Com os objetivos de investigar os diferentes usos dos recursos vegetais e a diversidade de espécies apontadas pelos moradores de uma das últimas populações caiçaras da região. Foram entrevistadas 29 pessoas, utilizando o método Bola de Neve, onde cada participante indicou outro morador que utilizasse plantas no cotidiano. As amostras foram coletadas por meio de turnê guiada, herborizadas, identificadas e os vouchers depositados no herbário HUSC. Com um total de 100 nomes populares de plantas úteis apontadas, correspondendo a 96 espécies, foi calculado o índice de diversidade de Shannon com base 10 (H’=1,83) e, para as plantas de uso medicinal (a maioria), o índice de Importância Relativa (IR), com 11 espécies apresentando IR>1. A maioria das espécies levantadas é exótica (60%), no entanto as plantas mais utilizadas são nativas. Além disso, a maior parte dos vegetais utilizados é coletada ou cultivada, indicando que apesar das pressões da vida urbana, há bom nível de conservação do Conhecimento Ecológico Local (CEL) que é transmitido, na Prainha Branca, predominantemente de modo horizontal.
A pesca esportiva é definida como aquela praticada por lazer, sendo de grande importância socioeconômica e ecológica, com potencial risco de impacto nos recursos pesqueiros. Entretanto, dados sobre a atividade são escassos no Brasil, inclusive em Mongaguá, cidade do litoral sul do Estado de São Paulo, que possuí a segunda maior estrutura de concreto armado projetado para prática da pesca esportiva na América Latina. Assim, o presente estudo teve como objetivo caracterizar a pesca da Plataforma Marítima de Pesca Amadora de Mongaguá. Os dados foram coletados durante os anos de 2012 à 2016 através de questionários semiestruturados. Foram realizadas 114 entrevistas com pescadores esportivos locais em diversos períodos e horários. Os pescadores eram predominantemente do sexo masculino, compostos principalmente de turistas residentes na cidade de São Paulo, com idade média de 51 anos, frequentavam a plataforma devido à segurança e comodidade dos serviços prestados pela estrutura, investindo bastante tempo em suas pescarias junto de familiares e amigos. Uma grande parte dos pescadores esportivos não possui a licença obrigatória para pesca, apesar de ser um local gerenciado pela Prefeitura Municipal de Mongaguá-SP e com acesso restrito a pagamento da taxa de entrada. Foram identificadas 11 espécies de peixes, a captura média foi de 9,4 (±11,8) peixes por pescador em cada pescaria, equivalendo a 1,9 kg. As espécies mais capturadas foram o bagre (Ariidae), o cangoá (Stellifer rastrifer) e o xaréu (Caranx latus). Os peixes mais procurados na plataforma foi o espada (Trichiurus lepturus), o robalo (Centropomus sp.) e o bagre (Arridae). Pescadores demonstraram técnicas específicas de captura, bem como etnoconhecimento sobre as espécies locais. Foi encontrada diferença na composição da captura entre período diurno e noturno, sendo que as capturas de oveva (Larimus breviceps) ocorreram exclusivamente á noite, enquanto que a captura do robalo ocorreu somente durante o dia. Houve também diferença na composição das capturas entre as estações outono/inverno e primavera/verão, sendo que a oveva e a parati barbada (Polydactilus virginicus) ocorreram somente no outono/inverno e o robalo foi capturado somente na primavera/verão. A produção da pesca esportiva na plataforma possui um potencial (30.120kg/ano) superior a de toda a pesca comercial da cidade de Mongaguá (25.922kg/ano). A plataforma possui características únicas na região sendo que os usuários desenvolveram saberes relacionados a locais e épocas de captura, equipamentos e iscas utilizados no local. Apesar de satisfeitos com o local de pesca, os pescadores esportivos apontaram problemas relacionados à infraestrutura e conflitos com a pesca comercial e com o surfing, bem como problemas ecológicos, como a redução no tamanho e quantidade de peixes. A estrutura possui um grande potencial turístico, que pode ser alavancado se prestadas atenção nos apontamentos dos entrevistados, bem como um potencial risco de impacto aos recursos pesqueiros, que demandam urgente necessidade de manejo. Espera-se que este estudo sirva como ferramenta para o ordenamento da pesca e turismo local.
Atualmente a utilização de técnicas alternativas para o tratamento de água contendo nutrientes tem se mostrado altamente promissora e econômica. Este estudo avaliou a taxa de absorção e eficiência do aguapé Eichhornia crassipes na remoção dos macronutrientes nitrogênio amoniacal (NH3/NH4+) e fosfato (PO43-) considerando os fatores que influenciaram a absorção que são o tempo necessário para que haja a remoção de nutrientes, taxa de massa de nutrientes removida ao dia, concentração dos nutrientes, temperatura e luminosidade ambiente, razão entre massa removida e massa total, em processo estático. Após medições que duraram entre uma e cinco semanas, verificou-se que esta espécie vegetal apresenta ótimo desempenho na remoção dos nutrientes avaliados (100% do NH3/NH4+ e mais de 80% do PO43-), que a temperatura afeta a eficiência e a taxa de remoção para os dois íons, que a luminosidade não afeta a quantidade total do nitrogênio amoniacal removido mas reduz a quantidade absorvida por unidade de tempo e que a luminosidade afeta tanto a quantidade quanto o tempo necessário para remoção do fosfato. Após os testes, concluiu-se que o uso desta espécie vegetal se mostrou viável para tratamento da água doce contendo baixos teores dos nutrientes avaliados. Também se concluiu que a proporção utilizada de 1000 gramas de aguapé para cada volume de efluente contendo 50 litros de água, produz resultados satisfatórios.
A incrustação de organismos marinhos (fouling) no fundo de embarcações traz sérios prejuízos a economia no mundo. Para diminuir os efeitos negativos causados pela bioincrustação são utilizadas frequentemente tintas tóxicas, que embora eficientes, são de difícil degradação pela natureza. O objetivo deste trabalho é testar se substâncias naturais a base de taninos contidos em folhas secas da planta chapéu de sol (Terminalia cattapa) e da casca da banana verde (Musa sp), que possuem forte ação contra patógenos, são também eficazes no controle da bioincrustação dos organismos estuarinos. Utilizou-se placas cerâmicas recobertas pelos diferentes tratamentos (só resina, resina mais extrato de Terminalia cattapa e resina mais extrato de Musa sp) imersas em três locais do estuário da Baixada Santista (São Vicente, Guarujá e Bertioga). Serviram como controle, lajotas sem qualquer tipo de recobrimento. O trabalho avaliou a biomassa bruta a cada 21 dias e o percentual de recobrimento inicial nas placas, e a biomassa acumulada após um período de 90 dias das placas imersas nos diferentes tratamentos e nos diferentes locais. Os resultados comparativos entre os diferentes tratamentos demonstraram que os tratamentos causam diferentes biomassas incrustantes. Houve maior incremento de biomassa nas placas controle, do que nas placas com recobrimento de resina e daquelas que tinham a mistura com extratos vegetais a base de tanino. Esta diferença foi mais acentuada no início do recrutamento da sucessão ecológica, nas três localidades estudadas, indicando que se trata de uma alternativa sustentável e menos agressiva ao meio aquático, e cuja utilização para combater a incrustação em curto prazo foi considerada eficiente, comparativamente aos prazos maiores que 45 dias, que já não garante efeito anti-incrustante perene, quando os seres mais tardios da sucessão começam a crescer cobre outros seres recém-incrustados e não mais sobre o substrato repelente.
A presente dissertação tem por finalidade elucidar, pesquisar e identificar as causas e motivos pelos quais a população vem descartando móveis que perderam a sua vida útil, em vias públicas, nas cidades de Santos e São Vicente, RMBS (Região Metropolitana da Baixada Santista), SP. Ainda, entender o papel do poder público, escolas e mídia diante dessa prática, fazem parte dos objetivos desta dissertação. Dentro desse aspecto, foram feitos levantamentos em acervos de comunicação, inclusive eletrônicos, verificando a forma em que os veículos midiáticos da região têm optado para o tratamento e divulgação das questões ambientais e, quanto isso contribui para a conscientização da população. As indústrias, cada dia, criam novos produtos, e a mídia incentiva o consumo desenfreado. A fabricação de produtos que eram considerados bens duráveis mudaram de conceito nas últimas décadas, optando por outros com uma vida útil muito efêmera. E com isso, a utilização dos recursos naturais está acontecendo em uma velocidade bem maior do que aquela que a natureza precisa para renovar os mesmos recursos. O objetivo final do presente trabalho é contribuir para a conscientização tanto da sociedade, quanto dos meios de Comunicação Local, além dos Órgãos Públicos, no que se refere ao tema de Resíduos Sólidos Urbanos. A região turística está mais sujeita ao problema de resíduos, principalmente em época de temporada de férias e feriados. A topografia da Baixada Santista, por serem áreas planas, praticamente do mesmo nível do mar, acaba contribuindo para que alguns bairros das cidades passem por situações mais dramáticas por conta das marés altas. Como recomendação, os móveis depositados a céu aberto, poderão ser encaminhados à projetos sociais e cooperativas populares, inclusive para servirem como fonte de renda e capacitação de jovens desempregados. O estudo revelou, claramente, que o tema preocupa todas as instituições envolvidas, tanto quanto à própria sociedade civil. Porém, faltam maior fiscalização e conscientização da população em relação ao descarte desses resíduos. Com maior persuasão, a mídia poderia melhor contribuir para que essa prática seja minimizada, tornando assim as cidades mais limpas e melhorando a qualidade de vida de todos que nelas vivem.
O presente trabalho se propôs a relembrar o projeto original dos canais de drenagem pluvial localizados no município de Santos (São Paulo, Brasil), com suas motivações e consequências e acompanhar a evolução da ocupação do espaço urbano e as modificações modernizadoras sofridas no sistema elaborado por Saturnino de Brito, visando contribuir para apontar soluções para uma questão vital para as concentrações urbanas, a adequada coleta, transporte, processamento, tratamento e despejo do esgoto sem provocar impactos ambientais previsíveis. Foram realizadas análises microbiológicas (indicadores de contaminação fecal), físico-químicas (temperatura, salinidade, pH e turbidez) e químicas (fosfato, nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato) feitas a partir da coleta em três pontos, localizados em três dos canais de drenagem de águas pluviais de Santos, denominados de canais 1, 3 e 6, dispostos paralelamente desde a região oeste (canal 1) até a região leste (canal 6), tendo o canal 3 como região intermediária. A partir dos resultados obtidos, foi possível observar a influência de esgoto doméstico, especialmente nos pontos de coleta localizados no canal 3, atingindo valores para as análises de Escherichia coli superiores a 1X106 UFC/100mL, contrariando a destinação dos canais de drenagem pluvial. A presença de esgoto doméstico nos canais representa riscos ambientais e riscos para a saúde pública e medidas para a localização das ligações de esgoto aos canais e interrupção destas ligações devem ser tomadas pelos órgãos competentes.
A introdução de espécies exóticas bioinvasoras em comunidades naturais, pode afetar tanto na perda de diversidade biológica como ocasionar prejuízos a atividades econômicas e riscos sanitários. O presente estudo sobre a biologia populacional de Charybdis hellerii na ilha Porchat, São Vicente, SP, Brasil, teve como objetivo, analisar os aspectos da estrutura da população, como a distribuição de frequência dos indivíduos por classes de tamanho, razão sexual e estágios de desenvolvimento. As coletas foram realizadas no período de um ano entre setembro de 2013 e agosto de 2014, foram capturados 248 indivíduos de sendo 87 machos adultos, 66 machos jovens, 23 fêmeas adultas, 48 fêmeas jovens e 24 fêmeas ovígeras. O Coeficiente de Pearson apresentou correlação positiva entre a espécie e a salinidade r = 0,83 (p>0,05), a análise entre a espécie e a temperatura apresentou uma correlação negativa r= -0,52 (p>0,05). Na estrutura populacional machos se distribuíram entre as maiores classes de tamanho, jovens estiveram presente em todas as estações do ano. A largura da carapaça dos machos variou entre 20,51 a 80,18 mm sendo este um dos maiores indivíduos encontrados na literatura, já a variação da LC das fêmeas foi de 18,34 a 75,7 mm, a amostra total apresentou uma distribuição normal com maior concentração na quinta classe de tamanho, a proporção de macho para fêmeas foi de 1,6:1. A reprodução ocorreu em todas as estações, exceto no verão e o recrutamento de jovens é contínuo ao longo dos meses, evidenciando que a população de C. hellerii encontra-se estabelecida no local, recomenda-se que estudos sejam realizados para verificar se tal invasão tem provocado impactos sobre as outras espécies de portunideos nativos que ocorrem na área.
O uso de recursos naturais é importante para a população humana e em inúmeras comunidades caiçaras brasileiras que vivem da pesca como meio de sobrevivência. Com base nisso, o presente trabalho foi desenvolvido em três comunidades de pescadores artesanais de Ilha Comprida (SP): Juruvaúva, Pedrinhas e Ubatuba com o principal objetivo de analisar o uso de recursos naturais na dieta das comunidades caiçaras. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas semiestruturadas e recordatório 24 horas verificando-se hábitos alimentares, preferências e aversões da população local. Os resultados sugeriram que as dietas das três comunidades seguem os padrões alimentares de outras comunidades estudadas, sendo o arroz, feijão e o pescado seus principais constituintes. No entanto, tem tido a inserção de alimentos industrializados e outras fontes de proteína animal, mediante o acesso ao centro comercial e ao desenvolvimento de atividades turísticas. Esta influência fica evidente na comunidade de Pedrinhas que apresenta uma dieta de maiores itens consumidos quando comparada as comunidades de Juruvaúva e Ubatuba. As comunidades também apresentaram preferências e aversões relacionadas à proteína animal, no caso aos pescados. Critérios como sabor, preparo, morfologia e odor foram padrões de preferência e aversões. Vários pescados foram citados como os alimentos mais saudáveis pelas comunidades entrevistadas. Plantas e ervas medicinais são ainda amplamente utilizadas, especialmente nas comunidades de Juruvaúva e Ubatuba. Os resultados demonstram que as três comunidades caiçaras de Ilha Comprida mantêm conhecimento cultural local especializado e que o acompanhamento da dieta caiçara possa constituir boa ferramenta para a estimativa da diversidade de recursos.
A Baía de Santos localiza-se na porção central do litoral do Estado de São Paulo, região Sudeste do Brasil. Nesta baía encontra-se a área em estudo, as praias de Santos que são subdividias de leste para oeste por canais de drenagem que desaguam no mar e com diferentes distâncias entre os canais, totalizando a área em análise em 4.664 m², constituem-se em extensas faixas arenosas, com sedimentos de granulação fina, homogênea e com declividade de sub-horizontais, o que as caracteriza como do tipo dissipativo. Os limites desses ambientes são propícios ao estabelecimento de faunas marinhas particulares, estabelecidas em função das características abióticas, bem como das necessidades ecológicas de cada espécie. Desse modo, o objetivo deste presente trabalho foi avaliar a ocorrência da Mellita quinquiesperforata, as “Bolachas-do-Mar”, nas praias de Santos com o intuito de verificar padrões de distribuição espacial das mesmas, relacionando-os com mudanças temporais sazonais (estações do ano, direção dos ventos) e circadianas (marés, fase lunar). Foram realizadas 24 saídas de campo diurnas, entre os meses de Março de 2015 e Março de 2016. O levantamento dos dados consistiu em dois processos, a contagem dos indivíduos e a biometria das Bolachas-do-Mar inteiras. A contagem dos indivíduos era realizada durante o percurso de ida, Canal 6 ao Emissário e a biometria durante o retorno do Emissário ao Canal 6, através de caminhada realizada no limite do mar (linha do deixa), dentro de uma faixa de largura de 10m (5m de cada lado da linha do deixa). A distribuição espacial das Bolachas-do-Mar é influenciada pela ação dos ventos, maré, lua e estação do ano, com todas estas informações que foram obtidas a cada saída de campo, foi elaborada uma Análise de Correspondência Canônica que se pode verificar que a direção do vento foi a variável que mais predominou, a altura da maré, em conjunção com a estação do ano e a fase lunar também influenciaram, principalmente quando a ação dos ventos era menor. O diâmetro médio das Bolachas-do-Mar foi calculado [(comprimento + largura) x 0,5] e comparado por Canal, observou-se que existe uma ligeira alteração entre os trechos, em relação às mudanças temporais sazonais e circadianas o tamanho médio não demonstraram alterações.
A Ilha de São Vicente tem sua área densamente urbanizada e conta com características peculiares que vão desde seus morros, ricos em nascentes e corpos d’água, até uma rede de canais de drenagem idealizada no início do século XX para drenar as águas da superfície alagadiça da ilha de modo a torná-la mais salubre. Este trabalho tem o objetivo de descrever a hidrologia da Ilha de São Vicente com enfoque nas alterações promovidas pela ocupação urbana do seu território: os principais cursos d’água, a influência antrópica sobre seu traçado e os sistemas de drenagem dos dias atuais. Para o desenvolvimento do trabalho, foi utilizada bibliografia pertinente ao tema, além de ferramentas para representação gráfica da região estudada tais como mapas, imagens de satélite, fotos aéreas e imagens ilustrativas. Como resultado da pesquisa, foi apresentada uma análise geral sobre a hidrologia na Ilha de São Vicente com base em registros dos séculos XVI a XX em comparação com os registros atuais de seus cursos d’água e de seus sistemas de drenagem urbana. Analisando-se as informações apresentadas, concluiu-se que houve grande alteração na hidrografia da ilha em consequência de sua densa ocupação urbana, com grandes diferenças entre o estabelecimento da malha urbana na região situada a leste do seu maciço de morros em comparação ao restante da Ilha. Como perspectiva para a problemática apresentada, propõem-se maiores investimentos em políticas de planejamento urbano, planos de regularização fundiária, criação de áreas de contenção hídrica com tratamento paisagístico e a passagem da tutela das Áreas de Proteção Permanente, parcial ou totalmente, para o poder público.
A presente dissertação tem como objeto de estudo a investigação da conservação e dos impactos urbanos no ambiente de restinga Litoral central do Estado de São Paulo, principalmente no que diz respeito à diversidade de cobertura vegetal. A cidade de Bertioga apresenta grandes extensões de vegetação de restingas ainda preservadas, com um número de material botânico identificado ainda reduzido, frente a grande biodiversidade estimada para a área. A expansão urbana ocorrida nas últimas décadas, a rápida destruição desse ambiente, por pressão de empreendedores do ramo imobiliário e outras intervenções antrópicas com tecnologias ainda muito impactantes ao meio ambiente natural, torna urgente a avaliação da extensão das áreas impactadas nas últimas décadas. O principal objetivo deste trabalho foi avaliar os impactos urbanos na vegetação de restinga ocorridas no município de Bertioga-SP e comparar esta ocupação urbana com a diminuição de diversas comunidades vegetais que antes ocupavam a planície de restinga, com destaque especial para a diminuição da vegetação medida pelo Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI). O índice é uma matemática de bandas espectrais que são captadas por sensores na maioria dos casos do NDVI, em particular no período compreendido entre 1985 e 2011, obtido por imagens de satélite. Os resultados apontam para uma redução média de 25% no valor de índice entre os anos estudados. Podemos concluir que a vegetação da restinga sucumbiu de forma muito rápida até a criação do Parque Estadual da Preservação de Bertioga. Estes e outros dados socioambientais levantados neste trabalho poderão vir a auxiliar na elaboração de políticas públicas e subsidiar propostas para estratégias conservacionistas sustentáveis para a região.
O objetivo do presente estudo foi caracterizar a estrutura trófica da comunidade de peixes, por meio das principais espécies na zona de arrebentação de praias na Baía de Santos, SP. Especificamente buscou-se verificar se ocorrem padrões na alimentação e se estes padrões se alteram entre duas estações do ano. Buscou-se verificar também se a dieta se altera ao longo das classes de comprimentos. A dieta foi analisada pelo Grau de Preferência Alimentar (GPA), e o grau de sobreposição alimentar mensurado pelo Índice de Pianka (Ojk). Os exemplares foram coletados com picaré nos meses de fevereiro e junho de 2015. Para verificar se a similaridade de nicho entre espécies depende da proximidade taxonômica foi criada uma matriz de distância taxonômica seguindo a ordem evolutiva e correlacionada com os itens alimentares por meio de um teste de Mantel, analisando se há mudanças na alimentação entre espécies próximas e distantes. O padrão de sobreposição foi analisado por um Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) e, para verificar se ocorrem mudanças temporais, foi utilizado o teste de Procrustes. Para classificar cada espécie quanto ao grupo trófico foi realizada uma análise de agrupamento utilizando a distância de Bray-Curtis e o método UPGMA. Para verificar se existem mudanças ontogenéticas na dieta das espécies foi utilizada uma Análise de Correspondência (AC). Foram amostradas 14 espécies Caranx hippos, Chaetodipterus faber, Conodon nobilis, Genidens barbus, Haemulopsis corvinaerformis, Menticirrhus americanus, Menticirrhus littoralis, Oligoplites saliens, Polydactylus oligodon, Polydactylus virginicus, Selene vomer, Trachinotus carolinus, Trachinotus falcatus e Trachinotus goodei. Foram mensurados 1261 exemplares, sendo 614 estômagos analisados, correspondendo a 13 espécies no verão e 12 no inverno. Foram encontrados 73 itens, pertencentes a Porifera, Cnidaria (Hydrozoa), Mollusca, Polychaeta, Arthropoda (Crustacea e Insecta), Equinodermata, Chordata (Teleostei), sendo Crustacea o mais importante para as espécies. Quando considerada a distância taxonômica, os resultados demonstraram que espécies próximas tendem a se alimentar de itens semelhantes e que não ocorrem mudanças temporais na dieta. A análise de agrupamento evidenciou dois grupos alimentares para a comunidade. A AC indicou para a maioria das espécies o consumo de crustáceos planctônicos nas menores classes de comprimento e de peixes e crustáceos não planctônicos para as maiores classes. As altas sobreposições de nicho indicam dietas generalistas/oportunistas, com consumo de itens diversos e possivelmente muito abundantes na região.
A Ecologia Humana enquanto campo interdisciplinar e abrangente, permite compreender o modo no qual comunidades locais interagem com a natureza. Assim como a etnoecologia que analisa o conhecimento ecológico gerado a partir das interações entre populações humanas e o ambiente. Pesquisadores de etnobiologia evidenciam a importância do conhecimento de pescadores artesanais sobre o uso de recursos locais, uma vez que podem contribuir para o avanço de pesquisas científicas. As comunidades caiçaras exercem papel fundamental na conservação dos ecossistemas e algumas espécies de peixes são extremamente importantes para essas populações, entre eles, destacam-se os robalos. O nome robalo é utilizado comumente para identificar algumas espécies de peixes da família Centropomidae, pertencentes à ordem Perciformes. O gênero Centropomus spp. atrai muitos pescadores esportivos em Iguape e Cananéia, municípios do sudeste do litoral brasileiro. O presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento etnoecológico sobre os robalos na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una (Peruíbe/SP), com a população local residente, que possui a pesca artesanal como principal atividade econômica. Os dados foram coletados em duas etapas de entrevistas através de questionários semi-estruturados aplicados aos pescadores artesanais utilizando a metodologia “Bola de Neve”. Para o estudo da dieta de robalos foram amostrados 28 estômagos de exemplares de C. parallelus e analisados em laboratório segundo o grau de preferência alimentar. Os pescadores demonstraram um conhecimento local detalhado sobre etnotaxonomia, mapeamento de pesqueiros e etnoecologia de robalos. Estes resultados podem servir para subsidiar o plano de manejo da unidade de conservação, evidenciando a época do ano na qual ocorre a reprodução, os locais de pesca, a função ecológica dos robalos bem como, a importância socioeconômica do gênero para a comunidade, contribuindo para a prática de pesca sustentável na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una.
O conhecimento ecológico local sobre a pesca de caranguejo-uçá (Ucides cordatus) por comunidades litorâneas do litoral sul do Estado de São Paulo, analisado sob as dimensões de fatos, valores e normas que regem a exploração do recurso natural, constitui-se em fator contributivo para a ampliação do conhecimento técnicocientífico a respeito da pesca do crustáceo. Considerando a inserção do caranguejouçá na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção do Estado de São Paulo, bem como a excepcionalidade de emissão de autorizações especiais para a pesca do crustáceo pelo órgão competente, a presente pesquisa teve como objetivo realizar um estudo etnoecológico tridimensional da pesca do caranguejo-uçá no litoral sul do Estado de São Paulo, através da criação de um conceito de Etnoecologia Tridimensional, visando proporcionar aos órgãos gestores da pesca e às próprias comunidades litorâneas, instrumentos para a exploração sustentável do recurso, a conservação da biodiversidade e a consonância de referida pesca aos preceitos de Ordem Pública Ambiental. Foram realizadas entrevistas com 59 pescadores autorizados a pescar ou capturar o caranguejo-uçá, nos municípios de Cananéia, Iguape e Peruíbe, no período de setembro de 2015 a outubro de 2016, através da aplicação de questionário semiestruturado. Os resultados obtidos demonstraram a caracterização do conhecimento ecológico local da pesca do caranguejo-uçá no litoral sul do Estado de São Paulo, a incidência de técnicas conflituosas de captura do crustáceo, a adequação e efetividade das normas que regem o manejo e exploração do recurso pesqueiro, o georreferenciamento das áreas de captura do caranguejo e as perspectivas para a sustentabilidade da atividade, frente à dinâmica do ambiente e aos valores que permeiam o ordenamento da pesca nestes territórios. O amplo conhecimento local dos pescadores de caranguejo-uçá sobre fatores bióticos, abióticos, normativos e valorativos a respeito do crustáceo demonstraram a necessidade de implantação de políticas públicas que evitem a utilização de armadilhas na pesca do caranguejo, proibição de captura na época de andada, observância da proibição de pesca no período de defeso, alteração do status de conservação do Ucides cordatus no Estado de São Paulo como ameaçado de extinção para sobreexplotado ou com risco de sobrexplotação, incremento da educação ambiental e fiscalização da pesca, fomento à valorização cultural e culinária da atividade e continuidade de estudos etnoecológicos na região, sob uma perspectiva tridimensional.
Este trabalho se refere a questões jurídicas que tem ocorrido na Juréia-Itatins, porção de Mata Atlântica destinada à conservação ambiental situada no Litoral Sul do Estado de São Paulo, no Brasil. Trata especialmente do que se discute na segunda ação direta de inconstitucionalidade proposta em face de iniciativa de reclassificação da estação ecológica criada em 1986 em mosaico de unidades de Conservação. Referida reclassificação preservou o status da maior parte da área como de proteção integral, mas estabeleceu parte do território como de desenvolvimento sustentável, para permitir que a população tradicional caiçara existente na área possa permanecer na região que ocupa há muitas gerações, como estratégia de preservação não só do meio ambiente, mas também da cultura peculiar ali existente. Os dois principais fundamentos utilizados pelo autor da ação são de violação ao princípio de proibição de retrocesso ambiental ausência de estudo de impacto ambiental. A ação foi julgada improcedente em primeira instância sob o fundamento de que a reclassificação faz justiça histórica à população tradicional que vive no local há muitas gerações preservando o meio ambiente, bem como valorizando também os direitos culturais dos mesmos. Há recurso pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal cuja decisão definirá o status protetivo da área e as dimensões da realocação da população tradicional caiçara, uma vez que, se prevalente a estação ecológica, todos deverão deixar o local, e se prevalente o mosaico de unidades de conservação, aqueles que vivem dentro das unidades destinadas à proteção integral deverão ser realocados às duas reservas de desenvolvimento sustentável, de Barra do Una e do Despraiado.
O uso de recursos vegetais por comunidades tradicionais que vivem sob o domínio da Mata Atlântica vem ganhando destaque em função do valioso saber dos moradores destas áreas. O presente trabalho realizado no Perequê, Guarujá- SP teve como objetivo registrar a diversidade de espécies vegetais úteis e seus diferentes usos (medicinal, artesanato, construção, etc.), descrevendo o conhecimento da comunidade local em relação às espécies utilizadas. Para tanto, foram realizadas entrevistas através do método “Bola de Neve” com questionário semiestruturado e turnê-guiada. Foram entrevistados 20 moradores residentes no bairro há pelo menos dez anos, resultando 201 indicações de nomes populares e 92 espécies. Os dados obtidos foram comparados a outros trabalhos também desenvolvidos em domínios da Mata Atlântica. Para todas as citações foi calculado o índice de Diversidade de Shannon na base 10. Para as plantas da categoria medicinal foram feitos os cálculos do índice de Importância Relativa (IR) e de Concordância de Uso Principal corrigido (CUPc). O índice de Shannon obtido foi de H’=1,82. O maior valor de IR pertence à Dysphania ambrosioides L. (IR=2,0). Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br. que alcançou o maior resultado de CUPc (59,5%). Os resultados permitiram um olhar sobre o cenário atual demonstrando que ainda há conhecimento local sobre as plantas e suas variadas formas de uso. Assim, foi possível construir importantes registros sobre a sabedoria existente que poderão contribuir para a manutenção deste relevante conhecimento conquistado ao longo do tempo e subsidiar novos trabalhos e ações voltadas à conservação.
As relações homem-ambiente oferecem um vasto campo de estudo para a etnobiologia e a ecologia humana. São diversas as pesquisas que abordam as interações humanas com os recursos naturais, especialmente nas comunidades tradicionais como a caiçara, que têm no extrativismo a sua principal atividade, seja para fins econômicos ou de subsistência. Estas disciplinas investigam a maneira como uma comunidade classifica e nomeia o meio ambiente. Neste contexto, a, etnobotânica investiga as relações entre pessoas e plantas, destacando seus usos para finalidades medicinais e alimentares.Tais estudos abordam, também, a influência dos impactos do processo de urbanização nas relações homem-ambiente, entre os quais, a poluição gerada pela atividade portuária e a poluição industrial e doméstica sobre o patrimônio natural (águas, recursos pesqueiros, vegetação) e cultural (tradições). O presente estudo buscou investigar, por meio de entrevista semiestruturada e aplicada em 48 entrevistados (68,6% da comunidade), as interações dos caiçaras da Praia do Góes, em Guarujá (SP), com a natureza em seu entorno, e a extração de recursos do mar, da praia e da mata. Por ser um local tão próximo do grande centro urbano que é Santos, a comunidade estudada configura-se em um exemplo de resiliência socioecológica. Principalmente, no sentido em que novas práticas são incorporadas ao Conhecimento Ecológico Local (CEL), como a extração de recursos pesqueiros para turistas que praticam a pesca esportiva, e o cultivo de hortas individuais e comunitárias e o uso de plantas medicinais de origem exógena. Dos recursos extraídos do mar, 68,8% dos entrevistados afirmaram coletar recursos pesqueiros e mais de 90% destes são para a própria alimentação. Os recursos pesqueiros estão nomeados neste trabalho conforme a nomenclatura popular local, obtida no momento das entrevistas. Além dos recursos pesqueiros, 27% dos entrevistados retiram recursos da praia, como areia, conchas e pedras, para finalidades diversas, sendo a mais comum o uso de areia e de fragmentos de conchas para a pavimentação dos acessos às casas. O recurso mais importante para a comunidade são as plantas. Ficou constatado que 100% dos entrevistados extraem algum recurso natural, sendo as plantas o recurso mais citado (85,4%). Por este motivo, este estudo detalhou a investigação e descreveu as plantas mais citadas pelos entrevistados, com base no CEL e na manutenção desses saberes diante da expansão urbano-industrial no ambiente. Quarenta e um entrevistados citaram 78 espécies, identificadas pelo nome popular. A maioria dos entrevistados (63,4%) usa as plantas tanto como alimentação como para curar enfermidades. As plantas medicinais mais utilizadas são o boldo (Plectranthus barbathus Andrews ou Plectranthus neochilus Schltr,43,9%) e a erva-cidreira (Melissa oficinalis, 34%), com a finalidade de tratar de problemas gastrointestinais, e a erva-de-santa-maria – Dysphania ambrosioides (L) Mosyakin & Clemants, 21,9% – contra cólicas e parasitas como vermes e pulgas. A riqueza de espécies conhecidas e utilizadas pela comunidade e registrada neste estudo é importante no que tange à resistência do CEL frente à intensa atividade urbana, portuária e turística em seu entorno. Registrar o CEL destas comunidades é uma das formas de garantir sua continuidade para melhorar a qualidade de vida das populações locais.
As relações homem-ambiente oferecem um vasto campo de estudo para a etnobiologia e a ecologia humana. São diversas as pesquisas que abordam as interações humanas com os recursos naturais, especialmente nas comunidades tradicionais como a caiçara, que têm no extrativismo a sua principal atividade, seja para fins econômicos ou de subsistência. Estas disciplinas investigam a maneira como uma comunidade classifica e nomeia o meio ambiente. Neste contexto, a, etnobotânica investiga as relações entre pessoas e plantas, destacando seus usos para finalidades medicinais e alimentares.Tais estudos abordam, também, a influência dos impactos do processo de urbanização nas relações homem-ambiente, entre os quais, a poluição gerada pela atividade portuária e a poluição industrial e doméstica sobre o patrimônio natural (águas, recursos pesqueiros, vegetação) e cultural (tradições). O presente estudo buscou investigar, por meio de entrevista semiestruturada e aplicada em 48 entrevistados (68,6% da comunidade), as interações dos caiçaras da Praia do Góes, em Guarujá (SP), com a natureza em seu entorno, e a extração de recursos do mar, da praia e da mata. Por ser um local tão próximo do grande centro urbano que é Santos, a comunidade estudada configura-se em um exemplo de resiliência socioecológica. Principalmente, no sentido em que novas práticas são incorporadas ao Conhecimento Ecológico Local (CEL), como a extração de recursos pesqueiros para turistas que praticam a pesca esportiva, e o cultivo de hortas individuais e comunitárias e o uso de plantas medicinais de origem exógena. Dos recursos extraídos do mar, 68,8% dos entrevistados afirmaram coletar recursos pesqueiros e mais de 90% destes são para a própria alimentação. Os recursos pesqueiros estão nomeados neste trabalho conforme a nomenclatura popular local, obtida no momento das entrevistas. Além dos recursos pesqueiros, 27% dos entrevistados retiram recursos da praia, como areia, conchas e pedras, para finalidades diversas, sendo a mais comum o uso de areia e de fragmentos de conchas para a pavimentação dos acessos às casas. O recurso mais importante para a comunidade são as plantas. Ficou constatado que 100% dos entrevistados extraem algum recurso natural, sendo as plantas o recurso mais citado (85,4%). Por este motivo, este estudo detalhou a investigação e descreveu as plantas mais citadas pelos entrevistados, com base no CEL e na manutenção desses saberes diante da expansão urbano-industrial no ambiente. Quarenta e um entrevistados citaram 78 espécies, identificadas pelo nome popular. A maioria dos entrevistados (63,4%) usa as plantas tanto como alimentação como para curar enfermidades.As plantas medicinais mais utilizadas são o boldo (Plectranthus barbathus Andrews ou Plectranthus neochilus Schltr,43,9%) e a erva-cidreira (Melissa oficinalis, 34%), com a finalidade de tratar de problemas gastrointestinais, e a erva-de-santa-maria – Dysphania ambrosioides (L) Mosyakin & Clemants, 21,9% – contra cólicas e parasitas como vermes e pulgas. A riqueza de espécies conhecidas e utilizadas pela comunidade e registrada neste estudo é importante no que tange à resistência do CEL frente à intensa atividade urbana, portuária e turística em seu entorno. Registrar o CEL destas comunidades é uma das formas de garantir sua continuidade para melhorar a qualidade de vida das populações locais.
O litoral paulista é constituído por uma vasta área de Mata Atlântica e ecossistemas associados, como manguezais e restingas. Ainda que fragmentado e reduzido a pequenas áreas, esses ambientes naturais abrigam uma grande diversidade de aves residentes e migratórias. Este estudo objetivou realizar um inventário da avifauna do Portinho (Parque Ezio Dall?Aqua) em Praia Grande, ao longo das quatro estações do ano, categorizando as espécies através do status de ocorrência (e.g. residente ou migratória), além de fazer um levantamento da estrutura trófica, identificando a categoria alimentar das espécies observadas. O levantamento teve duração de 12 meses, totalizando 528 h de esforço amostral em 48 dias de saídas de campo. O inventário foi realizado por intermédio de análise quantitativa, pelo qual se priorizou detectar o maior número possível de espécies, através de identificação visual e auditiva, com o auxílio de máquina fotográfica para o registro das espécies em campo. Foram identificadas 139 espécies, distribuídas em 45 famílias. A ocorrência da Saíra-sapucaia (Tangara peruviana) e do Gavião-pombopequeno (Leucopternis lacernulatus), espécies globalmente ameaçadas de extinção, foram extremamente significativas para a região. Esses resultados demonstram que a área do Portinho é um importante refúgio para a avifauna no litoral sul paulista.
O presente estudo teve como objetivo avaliar a diversidade, a riqueza e a distribuição espaço-temporal de macroalgas e cianobactérias em distintos manguezais do Complexo Estuarino de Paranaguá. O material macroficológico foi coletado em quatro pontos amostrais: Rocio, Ilha dos Valadares, Ilha do Mel (Praia do Belo) e Antonina. O material foi coletado durante o ano 2016 em um ciclo sazonal, triado e fixado com formalina 4% para posterior análises taxonômicas. As estruturas vegetativas e reprodutivas dos cortes histológicos foram analisados através de microscopia estereoscópica e óptica com captura de imagem. A biomassa foi avaliada por porcentagem de cobertura em quadrados de 0,5m2 (n=10). Para analisar os dados foi originada uma matriz de similaridade utilizando o índice de Sorensen, o software R (3.3.1), diagrama de Venn e para análise de cobertura ANOVA (One Way). Foram registradas 41 espécies de macroalgas (21 spp. de Chlorophyta e 20 spp. de Rhodophyta), sendo nove novas ocorrências para o litoral do Paraná. A maior riqueza de espécies e porcentagem de cobertura ocorreu no Rocio, área mais próxima a zona portuária. As famílias de maior representatividade dentre os cinco pontos amostrais foram Cladophoraceae, Ulvaceae e Rhodomelaceae. A maior riqueza de Chlorophyta foi observada durante inverno e primavera, sendo conspícuas, Rhizoclonium africanum Kützing e Boodleopsis pusilla (Collins) W.R.Taylor, a.B.Joly & Bernatowicz. A maior riqueza de Rhodophyta ocorreu durante verão e outono , sendo conspícuas Bostrychia radicans (Mont.) Mont. e Catenella caespitosa (Withering) L.M. Irvine. Foram também registradas 9 taxons de cianobactérias, sendo 5 novas ocorrências. Este estudo atualizou a base de dados sobre a diversidade de macroalgas de manguezais do Complexo Estuarino de Paranaguá.
Este é um estudo sobre a ocupação do solo pela vegetação de restinga da costa Sudeste do Brasil, na área litorânea, em que se localiza o município de Ilha Comprida, através da análise de imagens obtidas por sensoriamento remoto que denotam a ocupação do solo, entre os anos de 1993 a 2010. O trabalho tem como objetivo, mapear esse tipo de cobertura vegetal observando as consequências da ação antrópica neste período. Foram utilizadas imagens de satélite Landsat-5 TM de quatro períodos, aproximadamente a cada 5 anos e, posteriormente processadas e tratadas para a obtenção de NDVI, (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada) pelo software QGIS, ( Quantum Georeferenciated System) e pelo plugin SCP. Também o uso de fotografias aéreas obtidas a partir de um drone e, visitas “in loco” auxiliaram complementarmente na categorização da vegetação avaliada pelas imagens de satélite. Foram obtidas e comparadas 2 imagens em cada ano (uma da ilha inteira e outra de um recorte da parte mais ao Norte da ilha, delimitado pelo arruamento asfaltado e mais habitado). A Banda de Infravermelho Próximo e a Banda do Vermelho, que melhor refletem e absorvem respectivamente, a quantidade de clorofila da cobertura vegetal, foram utilizadas e serviram ao cálculo do NDVI. Pelo NDVI as imagens apresentaram diferença significativa no grau de recobrimento vegetal, segundo a comparação feita por ANOVA de um fator. Destaque foi dado para a perda de vegetação, quando comparados os anos de 1993 com 2010, destacando-se o agravamento da degradação até o ano de 1999, em que se acentuou a especulação sobre a inauguração da ponte de ligação com o continente ocorrida em 2000, que permitiu a ampliação de loteamentos na ilha, graças à facilidade de acesso por via rodoviária. São apresentadas neste trabalho também algumas alternativas para a recuperação e a preservação da flora e dos ecossistemas litorâneos envolvidos. Áreas prioritárias para programas de recuperação das áreas degradadas de restinga pela ação antrópica são sugeridas a partir das imagens obtidas e do levantamento de uso do espaço realizado no período de estudo.
Este é um estudo sobre a ocupação do solo pela vegetação de restinga da costa Sudeste do Brasil, na área litorânea, em que se localiza o município de Ilha Comprida, através da análise de imagens obtidas por sensoriamento remoto que denotam a ocupação do solo, entre os anos de 1993 a 2010. O trabalho tem como objetivo, mapear esse tipo de cobertura vegetal observando as consequências da ação antrópica neste período. Foram utilizadas imagens de satélite Landsat-5 TM de quatro períodos, aproximadamente a cada 5 anos e, posteriormente processadas e tratadas para a obtenção de NDVI, (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada) pelo software QGIS, ( Quantum Georeferenciated System) e pelo plugin SCP. Também o uso de fotografias aéreas obtidas a partir de um drone e, visitas “in loco” auxiliaram complementarmente na categorização da vegetação avaliada pelas imagens de satélite. Foram obtidas e comparadas 2 imagens em cada ano (uma da ilha inteira e outra de um recorte da parte mais ao Norte da ilha, delimitado pelo arruamento asfaltado e mais habitado). A Banda de Infravermelho Próximo e a Banda do Vermelho, que melhor refletem e absorvem respectivamente, a quantidade de clorofila da cobertura vegetal, foram utilizadas e serviram ao cálculo do NDVI. Pelo NDVI as imagens apresentaram diferença significativa no grau de recobrimento vegetal, segundo a comparação feita por ANOVA de um fator. Destaque foi dado para a perda de vegetação, quando comparados os anos de 1993 com 2010, destacando-se o agravamento da degradação até o ano de 1999, em que se acentuou a especulação sobre a inauguração da ponte de ligação com o continente ocorrida em 2000, que permitiu a ampliação de loteamentos na ilha, graças à facilidade de acesso por via rodoviária. São apresentadas neste trabalho também algumas alternativas para a recuperação e a preservação da flora e dos ecossistemas litorâneos envolvidos. Áreas prioritárias para programas de recuperação das áreas degradadas de restinga pela ação antrópica são sugeridas a partir das imagens obtidas e do levantamento de uso do espaço realizado no período de estudo.
2015
O presente estudo partiu do cenário atual de expansão portuária e os impactos socioambientais relacionados da região de Santos/SP. Neste contexto, especificamente, foi analisada a interferência das obras de instalação portuária do Terminal Embraport no modo de vida da comunidade caiçara da Ilha Diana, situada nas proximidades do empreendimento. Historicamente, as comunidades caiçaras viviam da exploração dos recursos naturais do ambiente como, os peixes, as plantas, a caça, etc. Contudo, o ambiente do estuário de Santos veio sendo modificado pela expansão portuária e, por consequência, os moradores da Ilha Diana tiveram seu modo de vida alterado. Este estudo teve por objetivo geral investigar quais foram as mudanças na comunidade decorrentes da instalação do terminal portuário Embraport e, especificamente, investigar quais as ações feitas pelo empreendedor como contrapartida socioambiental na comunidade. O estudo foi realizado durante os anos de 2013 e 2014, através de: 1- pesquisa bibliográfica e documental sobre a construção do terminal e seus impactos negativos (EIA-RIMA); 2- Visitas na comunidade da Ilha Diana para observação e conversas informais entre os pesquisadores e moradores locais sobre os aspectos importantes do modo de vida na Ilha; 3- Foram realizados dois encontros previamente agendados, com as lideranças locais para discutir a problemática da Embraport; 4- Foi realizada uma entrevista com a responsável pelo departamento de marketing da EMBRAPORT na sede da empresa, sobre o programa de educação ambiental e turismo de base comunitária na Ilha e 5- Acompanhamento de uma das etapas do curso de capacitação coordenado pela EMBRAPORT para monitores ambientais entre moradores da Ilha, que fez parte de um incipiente projeto de turismo de base comunitária nomeado de “vida caiçara”. Os resultados mostraram que, de maneira geral, o empreendimento do novo terminal portuário gerou impactos ambientais e sociais negativos à comunidade da Ilha Diana e que, apesar disto ter sido destacado no EIA-RIMA, o potencial benefício econômico gerado pela operação do terminal à cidade de Santos, foi predominante para a aprovação e instalação do mesmo. Na documentação analisada nesta pesquisa (termos de ajuste de conduta, atas de reuniões realizadas na associação local, cartas endereçadas ao poder público, etc.), mostram-se diversos acordos estabelecidos neste processo, que versaram sobre: cursos de capacitação para o trabalho dos moradores da Ilha Diana no terminal, reurbanização da comunidade com instalação de infraestrutura como energia elétrica e saneamento básico, desenvolvimento de novas atividades econômicas que gerassem renda à comunidade, entre outros. Contudo, concluiu-se que não foram efetivamente cumpridas as ações de compensação socioambiental e que a comunidade da Ilha Diana ainda hoje, não tem respaldo do empreendedor para sua sobrevivência. Neste contexto, destacamos a importância da existência de um incipiente projeto socioambiental de turismo de base comunitária que se inicia na Ilha Diana, nomeado de “Vida Caiçara: Educação Ambiental e Turismo Comunitário” na Ilha Diana. Sugere-se que seja dada continuidade, com aprimoramento e monitoramento do mesmo, já que, nesta pesquisa, este foi identificado como uma alternativa socioeconômica viável, que vem sendo incentivada pelo empreendedor e apresenta relativa adesão da comunidade local.
Este estudo consiste em uma análise e diagnóstico da arborização de três canais de drenagem da cidade litorânea de Santos (São Paulo, Brasil), considerando a composição da vegetação arbórea. Com o objetivo de identificar a diversidade na distribuição de árvores e o valor de importância das espécies, foi realizado um censo total das árvores plantadas nas calçadas que margeiam os canais sendo percorrida toda sua extensão. Para cada árvore, foi tomando o DAP, a altura relativa e identificada a espécie a que pertencia. O número de indivíduos foi usado para avaliar a densidade de árvores em cada quadra. No primeiro semestre de 2015, foram percorridos 3473 m do canal 1 (trecho compreendido entre Av. Presidente Wilson e Av. Ana Costa); 2460m do canal 4 e 1741 m do canal 6, registrando-se um total de 1219 árvores sendo 30 espécies no canal 1; 25 no canal 4 e apenas 17 no canal 6. O índice de diversidade de Shannon (H`) variou de H`= 0.667 no canal 6 até H`= 1.993 no canal 1. O maior índice de valor de importância (IVI) ocorreu para espécie nativa regional por Inga laurina (IVI = 1.146) seguido da espécie exótica Terminalia catappa (IVI=0.541). Concluímos que, há um maior número de indivíduos de espécies de árvores nativas regionais, embora se note também ainda um grande número espécies exóticas, o que satisfaz critérios de paisagismo, mas relega a uma menor importância a manutenção de uma flora biodiversificada natural, que poderia ser adotada para uma maior conectividade com os ecossistemas da Mata Atlântica do entorno da cidade. Este padrão está sendo modificado, à medida que os indivíduos morrem e são substituídos por outros, de espécies nativas. A fitossociologia urbana é uma importante ferramenta para a elaboração de planos que venham a estabelecer corredores ecológicos nas cidades.
Observa-se que na maioria das cidades não há uma preocupação com a qualidade da arborização urbana, que deveria considerar quais espécies arbóreas são mais adequadas para cada localidade e principalmente um planejamento paisagístico que permita ampliar a utilização de espécies nativas regionais, incentivando assim sua interação com a paisagem natural existente. Interconectar a cidade através de suas árvores é uma forma de torna-la mais resiliente do ponto de vista ambiental, promovendo um equilíbrio ecológico para a flora e avifauna da região e contribuindo para assegurar qualidade de vida para a população. O presente trabalho objetivou o levantamento florístico e o estudo fitossociológico das espécies arbóreas existentes em praças da cidade de Santos-SP e a investigação da possibilidade de existir uma conexão entre espécies arbóreas presentes nas praças e os remanescentes florestais típicos de mata atlântica (morros com maciços vegetados). Para isso, foi realizado um levantamento da arborização de nove praças de três bairros da cidade de Santos-SP: Centro, Vila Belmiro e Vila Mathias. Visando investigar a funcionalidade das praças como trampolins ecológicos, foram sorteadas três unidades por bairro, que possuíam no mínimo cinco árvores. Foram identificadas e avaliadas todas as espécies arbóreas presentes nestas praças, e calculados os parâmetros de frequência e densidade. Foram detectadas as síndromes de dispersão e, sempre que possível, foram identificadas as espécies epifíticas presentes nessas árvores. Foram encontradas 20 famílias botânicas arbóreas, representando 65 espécies e totalizando 276 indivíduos. Do total encontrado, 34 espécies são de exóticas estrangeiras, somando 134 indivíduos, 24 espécies nativas regionais, com um total de 122 indivíduos, e sete espécies exóticas brasileiras, com um total de 20 indivíduos. A família mais bem representada foi Fabaceae com 16 spp. seguida pela Arecaceae com 10 spp. Os gêneros com maior número de representantes foram Ficus e Handroanthus, ambos com quatro spp. As espécies mais comuns foram: Licania tomentosa (oiti), com 22 indivíduos e Syagrus romanzoffiana (jerivá), com 21 indivíduos. Em relação à Frequência Relativa, no Centro, os maiores valores foram encontrados em oito espécies (todas com 4,08%); na Vila Belmiro, esses valores foram exibidos por sete espécies (5,13% cada); na Vila Mathias, seis espécies apresentaram o valor máximo de 6,90%. Em relação à Densidade Absoluta, as três espécies com o maior número de indivíduos ocupando o total por bairro foram: no Centro - Licania tomentosa, Roystonea oleracea e Ficus microcarpa; na Vila Belmiro - Tibouchina granulosa, Syagrus romanzoffiana e Clitoria fairchildiana; na Vila Mathias - Syagrus romanzoffiana, Handroanthus heptaphilus e Handroanthus chrysotrichus. Foi verificado que as epífitas fornecem recompensas à avifauna e que a síndrome de dispersão predominante nas praças nos três bairros foi a zoocoria, o que pode ser um indicativo de estarem contribuindo para a conexão (especialmente feita por pássaros) entre as matrizes vizinhas.
Inúmeros trabalhos científicos relatam a importância das árvores no ambiente urbano como indispensáveis ao bem-estar do ser humano, já que fornecem conforto térmico, e à melhoria da qualidade do ar, entre outros aspectos. A presente dissertação teve como foco o estudo da arborização de ruas, suas epífitas, plantas parasitas e a avifauna em três bairros da cidade de Santos-SP: Campo Grande, Vila Belmiro e Vila Mathias. A pesquisa contou com o inventário das árvores das vias públicas, por meio de três amostragens que cobriram 25% da extensão territorial de cada bairro, totalizando 726.935.56 m², na forma de quadras (43). Espécies arbóreas e arbustivas foram identificadas, bem como as epífitas e vegetais parasitas, além da avifauna local. Aspectos ecológicos (aspectos bióticos) da arborização, epifitismo, plantas de hábito parasítico e avifauna foram anotados e discutidos, bem como problemas de adequação de espécies arbóreas / arbustivas das vias públicas, ocorrência de espécies vegetais e de aves exóticas estabelecidas / invasoras e a questão da poda das árvores, além da manutenção de mudas. Para a arborização das ruas, foram registrados os dados biométricos e calculados os parâmetros de Frequência, Densidade, Dominância e o Valor de Importância das espécies (IVI). Para as epífitas e plantas parasitas, foram calculadas as porcentagens de forófitos que as contêm, nos três bairros. Constatou-se que há diferença de cobertura vegetal ao se contrastar o Campo Grande e a Vila Belmiro com a Vila Mathias, já que neste bairro há trechos em que a arborização é insuficiente ou inexistente, embora os números não revelem essa discrepância. Foram computadas 39 famílias e 90 espécies de plantas lenhosas, totalizando 881 indivíduos. Verificou-se que 25 spp. ocorreram simultaneamente nos três bairros e 18 spp. puderam ser encontradas em dois bairros. Foram detectadas 48 spp. exóticas e 42 spp. nativas. Na análise fitossociológica, considerando-se apenas os indivíduos com PAP = 10 cm, os maiores Índices de Valor de Importância (IVI) de espécies foram apresentados por Inga laurina (Sw.) Willd. (29,0), no Campo Grande; Terminalia catappa L. (24,0), na Vila Belmiro; e, novamente, Inga laurina (Sw.) Willd. (38,5), na Vila Mathias. As epífitas somaram onze espécies, distribuídas em quatro famílias, com destaque para Polypodiaceae (ocupando 514 forófitos), Cactaceae (362) e Bromeliaceae (106). Rhipsalis baccifera (J. S. Muell.) Stearn, Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel., e Pleopeltis pleopeltifolia (Raddi) Alston possuem o maior número de ocorrências em forófitos (362, 334 e 118, respectivamente). As plantas parasitas aparentemente não constituem problema ambiental e pertencem a duas famílias botânicas distintas: Loranthaceae e Convolvulaceae, representadas por Struthanthus flexicaulis (Mart. ex Schult.f.) Mart. e Cuscuta racemosa Mart., nesta ordem. Foi registrada a presença de 44 espécies de pássaros, distribuídas em 24 famílias. Tyrannidae, Thraupidae e Columbidae apresentaram o maior número de espécies (oito, cinco e quatro, de modo respectivo). O trabalho verificou discreta colonização de aves cuja presença na cidade é recente, como Furnarius rufus (Gmelin, 1788), Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) e Patagioenas picazuro (Temminck, 1813). Em contrapartida, a baixa ocorrência de Passer domesticus (Linnaeus, 1758), tendência atual nos centros urbanos, foi percebida e aponta para dificuldades de readaptação desta espécie sinantrópica ao vertiginoso processo de verticalização de Santos e consequente perda de habitat.
A população tradicional está sendo expulsa das áreas que passaram a contar com proteção integral, especialmente o Parque Estadual da Serra do Mar, objeto deste estudo, por caracterizar-se um bem público ambiental, sem contudo, serem compensados, quer seja pela realocação ou pela indenização. Tais populações permanecem à mercê da instabilidade jurídica do poder público, ao não poderem contar com uma previsão legal específica que as proteja, possibilitando explorarem o bem público ambiental a fim de subsistirem por meio da utilização dos recursos naturais. A entrada em vigência do marco regulatório do terceiro setor trouxe a tona a relevância acadêmica do tema, em face da necessidade da retomada social de tamanha importância para as comunidades que formam as populações tradicionais. A pesquisa se deu por meio de pesquisa exploratória com delineamento técnico de pesquisa bibliográfica, a fim de atingir como objetivo deste trabalho demonstrando a possibilidade da exploração comercial do bem público ambiental por meio de Organizações Sociais Civis de Interesse Público (OSCIP), por intermédio de parcerias formadas por instrumentos de Colaboração ou Fomento. Para tanto abordou-se os aspectos jurídicos do meio ambiente em relação às populações tradicionais, a natureza jurídica do Plano de Manejo e sua importância, além das diversas modalidades de terceirizações das atividades do poder público por meio de parceiras. Finalizou-se com a análise do acolhimento do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar da possibilidade da exploração comercial do bem público pela população tradicional, bem como, do reconhecimento por aquele instrumento de integração ambiental, da existência e reconhecimento da população. De tal sorte que se apresenta ao final a necessidade da população residente nestas comunidades de se adequem às condições exigidas pela legislação de forma criativa, enquanto o estado não se posiciona de forma definitiva.
A água é um recurso finito e essencial para todas as formas de vida. Estudos realizados pela OMS constataram que diversas doenças podem ser causadas por águas contaminadas, além disso, as crescentes taxas de urbanizações nas grandes cidades agravam os níveis de poluição dos corpos d’água. O canal de drenagem da praia da Guaiuba, Guarujá – SP é o responsável pelo escoamento das águas pluviais do bairro com o mesmo nome para o mar, porém estas águas podem estar comprometendo a balneabilidade da praia, pois possui alguns problemas como: o lançamento de efluentes domésticos sem o tratamento adequado. Este estudo teve por objetivo avaliar a qualidade das águas do canal e da praia do Guaiuba, por meio de avaliações físicoquímicas, microbiológicas e ecotoxicológicas. A vazão das águas no canal para a praia é ininterrupta, independente de chuvas, o que sugere o lançamento clandestino de efluentes domésticos. Para execução do trabalho foram definidos 04 (quatro) pontos de coletas de águas no canal e 03 (três) pontos de coletas de águas na praia. O estudo foi realizado no período de janeiro a julho de 2014. Com as amostras foram realizados ensaios de toxicidade para avaliação de efeitos agudo e crônico com ouriço-do-mar Lytechinus variegatus. Além disso, foram analisados os parâmetros oxigênio dissolvido, salinidade, pH, temperatura, nitrito, nitrato, sulfeto, fosfato, amônia e indicadores microbiológicos de poluição fecal, Coliformes fecais e Escherichia coli. Os resultados obtidos apontam para a existência de descarga de esgoto clandestino no canal de drenagem, comprometendo a qualidade da água da praia do Guaiuba.
Os parâmetros hematológicos são úteis para a determinação de características sanguíneas dos peixes, pois propiciam importantes informações sobre a saúde e as condições físicas de uma população ou indivíduo, bem como podem atuar como biomarcadores para o monitoramento ambiental. O objetivo do trabalho foi verificar se existe diferença entre os parâmetros hematológicos de Mugil curema de um estuário mais poluído (Santos) e outro menos poluído (Barra do Una – Juréia) em diferentes estações do ano. Os 133 exemplares do parati Mugil curema foram coletados no verão e no inverno de 2015 nos estuários de Santos e da Juréia, anestesiados com solução de óleo de cravo e o sangue coletado através da incisão do pedúnculo caudal (Santos) e pelas brânquias (Juréia), e armazenado em tubos identificados contendo anticoagulante EDTA. Os peixes foram levados ao laboratório para análises posteriores. Foram realizados hematócrito (Ht), contagem de eritrócitos (Er), cálculo do volume corpuscular médio (VCM), extensões sanguíneas para verificar micronúcleos, formato dos eritrócitos e para biometria das áreas do citoplasma e do núcleo dos eritrócitos. Verificou-se diferença entre os locais, sendo que Santos apresentou maiores valores de Ht no verão e Er no inverno, enquanto o VCM foi mais elevado nos peixes da Juréia em ambas as estações do ano. Quanto às biometrias dos eritrócitos, a área do citoplasma foi, aparentemente, maior nos exemplares de Santos. O efeito da estação do ano não foi significativo para a biometria da área do núcleo, mas o núcleo dos eritrócitos foi em média maior nos peixes de Santos. Com isso, conclui-se que as análises dos parâmetros hematológicos podem ser agregadas a análises ambientais e toxicológicas para auxiliar no diagnóstico de alterações nos peixes de acordo com o ambiente em que ele vive.
As macroalgas marinhas são amplamente distribuídas no Brasil e possuem grande potencial para o desenvolvimento de estudos que visam à caracterização de seus compostos, bem como o detalhamento de suas atividades biológicas, ecológicas e farmacológicas. Neste contexto, pode-se destacar a descoberta de compostos para elucidação de novas drogas, que possam auxiliar na terapia de doenças relacionadas ao estresse oxidativo. Esta dissertação teve por objetivo avaliar o perfil de componentes químicos e potencial antioxidante das macroalgas marinhas Ulva fasciata, Ulva linza, Padina gymnospora e Jania adhaerens presentes no litoral do estado de São Paulo. Macroalgas in natura foram coletadas no município de Guarujá (São Paulo, Brasil), identificadas e desidratadas em estufa. Em seguida, as algas foram trituradas e submetidas aos processos de maceração exaustiva por 7 dias, com solventes de diferentes polaridades (Hexano, Clorofórmio, Metanol e Água). Para as análises químicas foram empregados ensaios cromáticos para a identificação de metabólitos secundários e também foram realizadas análises químicas por Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e Espectroscopia Raman. A avaliação do potencial antioxidante dos extratos foi realizada através do emprego do método do DPPH em CCD (Autografia). Os resultados obtidos evidenciaram a presença de flavonóides em todas as algas estudadas; saponinas nas algas verdes U. fasciata e U. linza; alcaloides, taninos e esteroides/terpenóides nas algas U. fasciata, U. linza e P. gymnospora. A intensa fluorescência presente nas amostras exerceu forte influência na obtenção de espectros Raman com boa resolução. Em relação à presença de compostos com potencial antioxidante, a alga P. gymnospora apresentou 04 compostos com atividade antioxidante nos extratos hexânico e metanólico. A alga U. fasciata apresentou 01 composto com atividade antioxidante no extrato aquoso e a alga Ulva linza apresentou 02 compostos com potencial antioxidante nos extratos hexânico e metanólico. Os resultados obtidos no presente estudo abrem perspectivas para a utilização dos extratos obtidos a partir das algas U. linza, U. fasciata e P. gymnospora em estudos que visam a descobertas de novos fármacos com potencial antioxidante.
Devido à crescente utilização de Fármacos e Produtos de Higiene e Cuidados Pessoais (FPHCPs), o interesse em estudar estes contaminantes emergentes vem aumentando. Os efluentes domésticos sem tratamento específico são a principal fonte de lançamento em ambientes aquáticos, causando contaminação e efeitos adversos à biota aquática. O 17a- etinilestradiol é um hormônio estrogênio amplamente usado em pílulas anticoncepcionais. A metformina é um antidiabético oral da classe das biguanidas. Por serem compostos bioativos são capazes de interagir com organismos não-alvo e estudos pretéritos demonstraram ação perturbadora sobre o sistema endócrino. Nesse contexto, o presente estudo assume a hipótese da capacidade desses fármacos causarem efeitos adversos sobre a reprodução do mexilhão marinho. Para verificação dessa hipótese foram propostos dois objetivos: (i) avaliação dos efeitos do 17a-etinilestradiol e metformina sobre a taxa de fertilização de gametas e o desenvolvimento embriolarval do mexilhão marinho Perna perna; (ii) determinação do risco ambiental desses compostos através da razão entre as concentrações ambientais e as concentrações de efeito agudo e crônico. Para tanto, foi utilizada uma metodologia escalonada composta pela identificação de concentrações ambientais em estudos pretéritos (TIER 0), determinação da toxicidade aguda (TIER I) e determinação da toxicidade crônica (TIER II). Nos ensaios agudos com o EE2 foi encontrada a CE50 média de 4,70 mg.L-1 e para a metformina não foi possível calcular a CE50 até a concentração máxima testada de 1000 mg.L-1. Nos ensaios de toxicidade crônica foram obtidas para o EE2 médias de CENO 0,3 mg.L-1; CEO 0,56 mg.L-1 e CI50 0,91 mg.L-1. Os valores médios para a metformina foram CENO 67,5 mg.L-1, CEO 175,0 mg.L-1 e CI50 256,0 mg.L-1. A partir desses resultados foi avaliado o risco ambiental desses compostos. Para o EE2 o risco foi caracterizado como médio e o composto como “muito tóxico”, enquanto para a metformina o risco foi caracterizado como baixo e o composto como “não tóxico”.
A presença de compostos farmacêuticos tem sido detectada em grande número de ecossistemas aquáticos e, neste sentido, é de interesse sua avaliação através de estudos ecotoxicológicos. Fármacos e produtos de higiene e cuidados pessoais (FPHCP) representam um grupo diversificado de substâncias químicas usadas na saúde humana e veterinária, em cosméticos e práticas agrícolas. Os antibióticos como Amoxicilina (AMX) são utilizados para tratar uma ampla variedade de infecções bacterianas e são essenciais no tratamento médico, tais como tratamento intensivo, transplante de órgãos, quimioterapia, cuidado de bebês prematuros, e procedimentos cirúrgicos que não podem ser realizados satisfatoriamente sem o uso de antibióticos eficazes. O grupo de antidepressivos são os medicamentos mais analisados no contexto de sistemas aquáticos. A Fluoxetina (FLX) é a droga neuroativa mais receitada, e a sua contaminação é propagada em rios, águas superficiais e efluentes de estações de tratamento de esgoto. Diante deste contexto, o objetivo do presente estudo é avaliar efeitos agudo e crônico do antibiótico AMX e do antidepressivo FLX por meio de ensaios de toxicidade com mexilhões Perna perna. A AMX e FLX foram capazes de interferir em processos reprodutivos do molusco bivalve Perna perna, a partir de inibição na fertilização (FLX) bem como no desenvolvimento embriolarval (AMX e FLX). Os resultados obtidos apresentaram efeitos da AMX a partir de 1,0 gL-1 e da FLX a partir da concentração 0,125 mgL-1 . Os riscos desses compostos foram avaliados como baixo para AMX e médio para a FLX. Seguindo a Diretiva Europeia 93/67/EEC que classifica as substâncias de acordo com as concentrações de efeito, a Amoxicilina foi classificada como não tóxica, enquanto a Fluoxetina foi classificada como muito tóxica.
Pfaffia glomerata (Spreng) Pedersen (Amaranthaceae), conhecida popularmente como "Ginseng Brasileiro" tem suas raízes e folhas amplamente utilizadas pela medicina tradicional para tratar distúrbios gástricos. O extrato etanólico 70% (EtOH 70) obtido a partir das folhas de Pfaffia glomerata quando administrado na dose de 500 mg.Kg-1 apresentou significativa atividade antiulcerogênica (**p<0.01) no modelo de úlcera gástrica induzida pela administração de HCl-Etanol em camundongos e no modelo de indução de úlcera gástrica pela administração de etanol absoluto em ratos (***p<0.001). Amostras de conteúdo gástrico sob ação de EtOH 70 de Pfaffia glomerata promovem significativo aumento dos níveis de muco gástrico (p<0.0001) demonstrando mecanismo antiulcerogênico citoprotetor. Além disso, os dados apontam atividade antioxidante através do método de seqüestro de radicais livres utilizando protocolo DPPH e a presença de compostos fenólicos através do método de Folin-Ciocalteu. A realização do ensaio de toxicidade aguda em roedores mediante overdose (5 g.Kg-1 , administrado pela via oral) de EtOH 70 de Pfaffia glomerata não demonstra respostas de intoxicação. Além disso, após ensaio realizado com organismos vivos de água doce Daphnia similis demonstram CE50 de 180 mg.L-1 , enquadrando a amostra como não tóxica ao ambiente com base na diretiva 93/67/EEC da União Européia. Já em ensaio agudo realizado com Lytechinus variegatus (Ouriço-do-mar) demonstra CE50=93,75 mg.L-1 (Nocivo ao meio ambiente), ao passo que em ensaio crônico foi obtida CE50=9,63 mg.L-1 (Tóxico ao meio ambiente). Pode-se concluir que EtOH 70% obtido a partir das folhas de Pfaffia glomerata apresenta atividade antiulcerogênica com proposta citoprotetora e antioxidante. As atividades são atribuídas à ?-ecdisona e ao Kaempferol. Foi observada ausência de toxicidade aguda em roedores e diferentes níveis de classificação ecotoxicológica.
A interferência antrópica em áreas costeiras como o despejo de efluentes sem o devido tratamento é uma das principais fontes de poluição dos ambientes marinhos. Os fármacos e produtos de higiene e cuidados pessoais são constituintes desses efluentes e não há uma legislação específica para esta classe de poluentes que regularize o seu descarte. O Paracetamol é um antiinflamatório não esteroidal com propriedades antialérgicas e antipiréticas. Por ser um composto bioativo,a interação com organismos não alvo pode ocorrer.A fim de realizar uma análise do risco oferecido por esse fármaco ao meio marinho, este estudo utilizou uma metodologia escalonada denominada “TIER”, consistindo na quantificação do Paracetamol ao entorno do Emissário Submarino de Santos e na avaliação dos efeitos adversos da exposição ao composto utilizando o molusco bivalve Perna perna como modelo. As amostras de água superficial analisadas identificaram a presença do Paracetamol entre 0,02 e 0,03 µg.L-1 . O ensaio agudo realizado não possibilitou a estimativa de uma CE50 nas concentrações testadas, porém no ensaio crônico 20,58 mg.L-1 foi capaz de inibir em 50% o desenvolvimento embriolarval dos embriões expostos por 48h. A estabilidade da membrana lisossômica foi afetada a partir de exposições de 48 h a 300 ng.L-1 . Efeito genotóxico (DNA strand break) também foi evidenciado em brânquias de organismos expostos por 48h a concentrações de 3,0 µg.L-1 . A análise de risco demonstrou-se como baixo quando utilizado os resultados dos ensaios de desenvolvimento embriolarval (QR = 0,0006), porém, quando utilizado o ensaio de estabilidade de membrana lisossômica, o risco foi caracterizado como alto (QR = 100) para a baía de Santos. Um tratamento eficiente deve ser empregado para a remoção do Paracetamol e outros fármacos presentes nos efluentes, bem como uma legislação específica estabelecendo padrões seguros para emissão deste composto nos sistemas aquáticos.
A densidade de Callichirus major (corrupto) (Say, 1818) (Crustacea: Decapoda: Thalassinidea) foi analisada nas regiões entremarés da Praia do Itararé (São Vicente) e da Praia do José Menino (Santos), situadas na Baía de Santos, litoral do Estado de São Paulo, Brasil. Na Praia do Itararé, foram ainda analisadas características populacionais de C. major, como proporção sexual dos indivíduos, frequência de indivíduos em classes de tamanho e identificação de períodos reprodutivos e indícios de recrutamento, visto que a espécie possui potencial como recurso econômico devido a sua utilização como isca na pesca artesanal ao longo da costa brasileira. Sua distribuição espacial e temporal nas áreas de estudo foi considerada como ao acaso, sem indícios de zonas de ocupação e sem picos sazonais de densidade definidos. As maiores densidades de C. major foram observadas na Praia do José Menino, local em que sua captura é proibida por lei municipal, sendo as densidades obtidas superiores às registradas em estudos prévios realizados no local. Contudo, as densidades obtidas em ambas as praias não estiveram sob influência dos sedimentos e dos teores de matéria orgânica presentes nesses ambientes. Na Praia do Itararé, a população de C. major foi caracterizada pela predominância de fêmeas e pela presença de indivíduos com pequenos tamanhos corpóreos quando comparado com outros estudos desenvolvidos com essa espécie. O período reprodutivo ocorreu entre os meses de dezembro e março, e o recrutamento, avaliado pela ocorrência de indivíduos jovens, foi contínuo ao longo do tempo. Foi observado o deslocamento da moda do comprimento da área oval da carapaça para classes inferiores ao longo do estudo, além de diferenças significativas entre os meses quanto as medidas obtidas para essa estrutura corpórea. Através dos dados obtidos, acredita-se que a população de C. major na Praia do Itararé pode estar sendo sobre-explotada devido às capturas realizadas por pescadores no local.
O Puruba está localizado em Ubatuba – SP, a 25 quilômetros do centro. O local é dividido em Puruba Praia e Puruba Sertão. Este estudo focaliza-se no Puruba Praia, local ainda povoado pela mesma família e seus descendentes desde 1808. Hoje, das 50 casas que formam o Puruba Praia, 30 são de famílias moradoras e 20 são de turistas. O objetivo deste estudo foi analisar mudanças no modo de vida dos habitantes do local a partir de dois cenários (1991 e 2013). Esses habitantes habitam áreas costeiras da Mata Atlântica, ou seja, são caiçaras. Foram avaliadas as novas tecnologias presentes no cotidiano dos moradores como o telefone celular e a internet; a construção da BR-101; os impactos destas mudanças nas suas vidas e como as tecnologias contribuíram ou se tornaram obstáculos no modo de vida das pessoas. A partir da montagem dos dois cenários temporais (1991 e 2013), foi feita uma análise comparativa considerando aspectos que não estavam presentes em suas vidas na década de 1991 e que em 2013 tornaram-se imprescindíveis. Para a realização do trabalho foram utilizadas as entrevistas feitas em 1991 pela Professora Dra. Alpina Begossi e entrevistas em trabalho de campo realizado em 2013 no local. Além das entrevistas, foram utilizados outros trabalhos de pesquisa realizados na região do Puruba. Na década de 1970 veio a separação física do Puruba Praia e do Puruba Sertão, com a chegada da BR-101. Junto com a rodovia chegaram também a especulação imobiliária, o turismo, a migração, a demarcação de áreas de proteção ambiental e a pesca internacional. Este conjunto de fatores acabou por impedir que os caiçaras continuassem seu trabalho de pesca, caça e lavoura, fazendo com que os purubenhos tivessem que procurar trabalho em outras áreas como a construção civil, nos condomínios como caseiros, faxineiras ou mesmo no comércio local. A prefeitura de Ubatuba também empregou muitos dos purubenhos. Com relação aos meios de comunicação, hoje todos os moradores do Puruba utilizam telefonia celular, porém apenas para comunicar-se entre eles. A internet está presente em poucas casas e eles só possuem 2 telefones públicos. Atualmente há televisores em quase todas as casas. Apenas um entrevistado, que mora com a esposa e 3 filhos, declarou não ter e não assistir televisão por não gostar. Com relação às mudanças no modo de vida dos moradores do Puruba, apesar de o tempo ter passado, eles continuam vivendo basicamente da mesma forma. Ainda vivem da extração dos recursos naturais, mas complementam com outras atividades econômicas, preservam sua terra, seu local e vivem, na medida do possível, do que tiram da própria terra. A comunidade se manteve – muito pelos laços de parentesco – e seguiu vivendo principalmente da pesca e de seus roçados.
A ecologia humana tem sua origem na ecologia, mas ultrapassa seu domínio incluindo o estudo dos aspectos econômicos, culturais e sociais da interação entre o meio ambiente e as populações humanas. A ligação entre cultura e a ecologia, pode ser investigada pela dependência econômica de um determinado grupo social aos recursos naturais. Neste contexto, a cadeia econômica da pesca pode fornecer dados tanto da diversidade do ecossistema, quanto das estruturas sociais que regem sua dinâmica, sendo fundamental para a gestão sustentável de recursos pesqueiros. Pesquisas atuais demonstram um declínio dos estoques pesqueiros, ao mesmo tempo de forte apelo dos órgãos de saúde e alimentação para o aumento do consumo de pescado como garantia à segurança alimentar da população humana. Portanto, sem formas adequadas de manejo do setor pesqueiro, inclusive as relacionadas ao mercado, os recursos marinhos não suprirão a demanda de alimento. Este trabalho teve como objetivo descrever a comercialização dos recursos pesqueiros em Santos/SP, identificando os peixes vendidos e a cadeia produtiva. A coleta de dados foi realizada semanalmente no Mercado José Augusto Alves (“mercado do peixe”), 2014 e 2015, através de observação direta e entrevistas com questionários semi-estruturados. Foram identificadas as espécies comercializadas, os valores, os fornecedores e consumidores em 14 boxes de venda de pescado. Os resultados registraram uma variação do custo mensal entre os boxes amostrados (menor gasto R$ 9.175,00 (box 14) e maior R$ 22.580,00 (box 10). O custo médio mensal dos boxes foi de R$ 17.095,00, sendo o gelo a principal despesa fixa mensal para todos eles, pelo fato de conservarem os produtos pesqueiros nas caixas de isopor, em gelo e água. Os custos mensais destes boxes incluem: encargos trabalhistas envolvidos no número de funcionários registrados (ou não), gastos com compra de gelo, pagamentos da conta de luz, água, material de limpeza, etc. Segundo observações no trabalho de campo, as condições higiênicas do mercado precisam de melhoria, especialmente no armazenamento do pescado e limpeza da área do box, para cumprir a demanda da segurança alimentar para os consumidores finais. Foram identificados 42 peixes, que representam a variedade no comércio local e compatibilidade com as espécies anteriormente registradas para o litoral sudeste do Brasil. Contudo, verificou-se a importância da importação de pescado e da piscicultura na cadeia produtiva. Entre os peixes comercializados, existem grupos de alto valor comercial que estão vulneráveis à exploração como os vermelhos, garoupas, corvinas e grupos de peixes com períodos de defeso já estabelecidos como as sardinhas e cações. O fornecedor de pescado local são embarcações de pesca comercial e os moradores de Santos o principal consumidor final, seguido dos turistas e restaurantes. Todos os peixes amostrados mostraram variação de preço médio ao longo da cadeia produtiva, entre o preço pago pelo comerciante ao pescador e o repassado aos consumidores finais. Os comerciantes se mostraram inseguros quanto a origem, legislação de tamanho mínimo e respectivas épocas de defeso do pescado que comercializam. Portanto, um trabalho de educação ambiental voltado à legislação pesqueira junto aos comerciantes locais e a fiscalização pelos órgãos responsáveis das espécies comercializadas no mercado e suas condições sanitárias, é de suma importância para a conservação dos estoques pesqueiros da região e garantia da segurança alimentar.
A supressão da Mata Atlântica no litoral devido ao avanço da especulação imobiliária, do turismo, do aumento do contingente populacional e a consequente expansão das cidades, trouxeram déficit demográfico para os grandes felinos, pois muitas destas populações entraram em colapso ao longo da costa, antes mesmo de serem conhecidas. A situação para os mamíferos silvestres de maior porte de uma forma geral, na planície junto ao mar, é crítica. Comunidades de mamíferos bem estruturadas são raras em todo o litoral brasileiro e o Mosaico da Juréia-Itatins (MUCJI), nestes dois quesitos é privilegiado. Banhado pelo Oceano Atlântico, o MUCJI é uma das maiores unidades de conservação da Mata Atlântica, sem interferência de rodovias, além de apresentar uma potencial conexão com o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), que é o remanescente que possui a maior área protegida de todo esse bioma. O Mosaico da Juréia-Itatins tem riqueza de 90 mamíferos distribuídos de maneira ainda pouco conhecida em seus diversos habitats e pelo seu considerável gradiente altitudinal. Contraditoriamente, nestas áreas de tamanha riqueza natural, o que tem ocorrido há muito tempo, é um legado ambiental da falta de significado e importância de toda a sociedade e de seus representantes na política, o que acaba resultando em caça, extração ilegal de palmito, desmatamento e ocupação de áreas protegidas, sem a real noção do enorme prejuízo que isso causa aos animais ameaçados de extinção. Logo, não só a preservação de grandes áreas verdes basta para conservar toda a integridade deste bioma, mas o entendimento de como os animais usam seus territórios e até quanto aguentam a pressão humana exercida de diversas maneiras. O conceito de “floresta vazia” não é novo e alerta sobre a ação silenciosa da extinção, que apesar da cobertura arbórea extensa, pode estar comprometendo a biodiversidade por muitos desfalques em suas comunidades. A onça-pintada e a onça-parda são predadores de topo, e nos ambientes que ainda persistem, garantem a manutenção da diversidade biológica através do controle populacional dos níveis tróficos inferiores da pirâmide alimentar. Para que haja sobrevivência do maior número de animais e plantas em equilíbrio na Mata Atlântica, neste que é o segundo mais ameaçado dos 34 Hotspots do mundo, há de se garantir a interdependência dos processos ecológicos que ocorrem no ambiente natural entre os seres vivos que ali vivem. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a situação da população destes dois grandes felinos no Mosaico da Juréia-Itatins e a potencialidade de conexão com o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM). Para isso, foi dividido em dois capítulos, o primeiro visou estimar a abundância populacional de onça-parda Puma concolor e determinar o padrão de distribuição temporal e espacial na Estação Ecológica de Juréia-Itatins, e o segundo, examinar o estado de conservação da espécie onça-pintada Panthera onca em uma área mais ampla, considerando todas as unidades de conservação presentes no Mosaico da JuréiaItatins e uma área anexa, que faz parte da APA-Cananéia-Iguape-Peruíbe para conhecer o potencial de conexão com o PESM. Os resultados de ambos os trabalhos apontaram para necessidade de conectar estas áreas ao Mosaico da Juréia-Itatins. A onça-parda, embora a curto prazo, apresente uma população bem estruturada com 15 indivíduos, a médio e longo prazo pode sofrer com cruzamentos consanguíneos por causa do isolamento proveniente da parte continental, já que a MUCJI naturalmente já faz limite com o Oceano Atlântico, que impossibilita qualquer tipo de conexão para mamíferos terrestres ao longo de 31 quilômetros de seu perímetro. Por outro lado, a onça-pintada do MUCJI inspira medidas emergenciais, pois neste estudo, apesar de um grande esforço amostral, foram detectados entre 1 e 3 indivíduos apenas, consequência de um histórico de animais abatidos por caça e retaliação que resultou na redução de sua população atual. Uma destas medidas é a restauração do corredor de biodiversidade que une o MUCJI ao PESM e a viabilização de uma passagem de fauna que seja realmente efetiva para a migrações de onças através dele, entre os dois fragmentos. Este trabalho vem no intuito de alertar para a herança dos quase 15% desconexos de Mata Atlântica do Brasil, resultado de séculos de exploração. As exigências ecológicas dos grandes felinos podem ser usadas como subsídios para conectar áreas que visem a restauração da integridade biológica natural e promover cada vez mais o desenvolvimento sustentável regional pautado na perspectiva da biota
O manguezal é um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho, típicos de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao regime de marés. Esse ecossistema fertiliza águas costeiras a partir da produção de matéria orgânica, especialmente originada da serapilheira, exportando esta matéria e a transformando em detritos, que posteriormente será usada por uma variedade de organismos. A dinâmica da serapilheira (produção, estoque, decomposição e exportação) envolve uma série fatores físicos e biológicos. Esses fatores influenciam tanto na produção, quanto no tempo em que este material será novamente incorporado como nutriente ao solo. Portanto, a relevância de se quantificar a produção de serapilheira, o estoque presente no sedimento, bem como o tempo de decomposição da matéria orgânica, está ligada à compreensão dos fluxos de energia, que representa a principal via de fornecimento de nutrientes por meio da mineralização dos restos vegetais. Sendo assim, a produção, a decomposição, e o estoque de serapilheira, foram estudados em um bosque de franja dominado por Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. ex Moldenke, situado no município de São Sebastião, litoral norte do estado de São Paulo. Foram avaliadas seis parcelas de 100 m2 , distribuídas em duas transecções. Para tanto, realizou-se coletas de dados mensais (março de 2014 à fevereiro de 2015) referentes à produção de serapilheira, estoque de serapilheira no solo (junho de 2014 à maio de 2015), tempo de decomposição de folhas (julho à novembro de 2014). Além disso, foram feitas coletas de dados sobre a estrutura do bosque, as características edáficas, a luminosidade e as características climáticas objetivando demonstrar se há correlações entre esses dados e a dinâmica de serapilheira. A produção média total de serapilheira foi de 854,7 (±304,2) g/m2 /ano com picos de produção nas estações chuvosas, o estoque acumulado médio no solo foi de 112,1(±12,4) g/m2 com taxa de renovação igual a 6,1 vezes por ano. A decomposição de folhas apresentou taxa de decaimento maior no primeiro mês e o coeficiente de decomposição obteve um valor médio de 0,019 (±0,006) e meia vida de 39 dias (±10,1). A taxa de exportação foi maior que 95% do total produzido e a quantidade de carbono exportado foi igual a 210,2 g/m 2 . Não houve correlação entre a produção, a decomposição e o estoque de serapilheira com a estrutura do bosque, as características edáficas e a luminosidade, contudo, tanto a produção e o estoque de serapilheira apresentaram correlação com as características climáticas
Estudos sobre dinâmica populacional que abordam estrutura populacional, biologia reprodutiva, crescimento relativo e fator de condição, possibilitam a compreensão da estabilidade ecológica de uma espécie num determinado habitat. O presente estudo teve como objetivo investigar a dinâmica populacional de Menippe nodifrons em São Vicente (SP), analisando a distribuição de frequência mensal em classes de tamanho, recrutamento juvenil, razão sexual, período reprodutivo e maturidade sexual, além de aspectos de seu crescimento. Foram realizadas coletas em um ano, de agosto/2013 a julho/2014, com esforço de captura de dois coletores por uma hora, no costão rochoso da Ilha Porchat, município de São Vicente (SP), por ocasião da maré baixa. Na análise da estrutura populacional foram utilizados 441 indivíduos, jovens e adultos, de ambos os sexos. Fêmeas adultas ocuparam as maiores classes de largura, e os machos se distribuíram nas intermediárias. Não houve um recrutamento claro dos jovens, e os indivíduos adultos estiveram em maior número. O padrão reprodutivo da espécie foi contínuo, com picos no verão. A maturidade morfológica foi em torno de 39 mm da largura da carapaça (LC), tanto para machos como para fêmeas, já a fisiológica ocorreu em cerca de 39,3 mm (LC) para fêmeas e 36,1 mm (LC) para os machos. Para as análises de crescimento foram utilizados 345 indivíduos. Fêmeas na relação LA/LC e machos para a relação CPQD/LC apresentaram crescimento alométrico positivo. No fator de condição (PT/LC), o crescimento foi isométrico nos machos e negativo nas fêmeas, estratégias adotadas para maximizar a produção de descendentes, seguindo o padrão dos braquiúros. Análises do própodo quelar evidenciaram uma heteroquelia, com a maioria da população apresentando maior comprimento, espessura e altura no própodo quelar direito, em ambos os sexos. Os resultados do presente estudo apresentam subsídios para um futuro manejo da espécie, onde ainda não há um comércio evidente, mas possui grande potencial econômico.
Observa-se que na maioria das cidades não há uma preocupação com a qualidade da arborização urbana, que deveria considerar quais espécies arbóreas são mais adequadas para cada localidade e principalmente um planejamento paisagístico que permita ampliar a utilização de espécies nativas regionais, incentivando assim sua interação com a paisagem natural existente. Interconectar a cidade através de suas árvores é uma forma de torna-la mais resiliente do ponto de vista ambiental, promovendo um equilíbrio ecológico para a flora e avifauna da região e contribuindo para assegurar qualidade de vida para a população. O presente trabalho objetivou o levantamento florístico e o estudo fitossociológico das espécies arbóreas existentes em praças da cidade de Santos-SP e a investigação da possibilidade de existir uma conexão entre espécies arbóreas presentes nas praças e os remanescentes florestais típicos de mata atlântica (morros com maciços vegetados). Para isso, foi realizado um levantamento da arborização de nove praças de três bairros da cidade de Santos-SP: Centro, Vila Belmiro e Vila Mathias. Visando investigar a funcionalidade das praças como trampolins ecológicos, foram sorteadas três unidades por bairro, que possuíam no mínimo cinco árvores. Foram identificadas e avaliadas todas as espécies arbóreas presentes nestas praças, e calculados os parâmetros de frequência e densidade. Foram detectadas as síndromes de dispersão e, sempre que possível, foram identificadas as espécies epifíticas presentes nessas árvores. Foram encontradas 20 famílias botânicas arbóreas, representando 65 espécies e totalizando 276 indivíduos. Do total encontrado, 34 espécies são de exóticas estrangeiras, somando 134 indivíduos, 24 espécies nativas regionais, com um total de 122 indivíduos, e sete espécies exóticas brasileiras, com um total de 20 indivíduos. A família mais bem representada foi Fabaceae com 16 spp. seguida pela Arecaceae com 10 spp. Os gêneros com maior número de representantes foram Ficus e Handroanthus, ambos com quatro spp. As espécies mais comuns foram: Licania tomentosa (oiti), com 22 indivíduos e Syagrus romanzoffiana (jerivá), com 21 indivíduos. Em relação à Frequência Relativa, no Centro, os maiores valores foram encontrados em oito espécies (todas com 4,08%); na Vila Belmiro, esses valores foram exibidos por sete espécies (5,13% cada); na Vila Mathias, seis espécies apresentaram o valor máximo de 6,90%. Em relação à Densidade Absoluta, as três espécies com o maior número de indivíduos ocupando o total por bairro foram: no Centro - Licania tomentosa, Roystonea oleracea e Ficus microcarpa; na Vila Belmiro - Tibouchina granulosa, Syagrus romanzoffiana e Clitoria fairchildiana; na Vila Mathias - Syagrus romanzoffiana, Handroanthus heptaphilus e Handroanthus chrysotrichus. Foi verificado que as epífitas fornecem recompensas à avifauna e que a síndrome de dispersão predominante nas praças nos três bairros foi a zoocoria, o que pode ser um indicativo de estarem contribuindo para a conexão (especialmente feita por pássaros) entre as matrizes vizinhas.
Distúrbios abrem clareiras no costão rochoso e disponibilizam novas áreas passiveis de colonização. Estas áreas são reocupadas formando manchas com diferentes estágios de sucessão que com o passar do tempo resulta em um incremento de espécies, biomassa e diversidade. Este trabalho teve como objetivo avaliar a estrutura da comunidade bentônica da região do entremarés de substrato consolidado e a recuperação da mesma após impactos naturais e antrópicos ocorridos no canal de drenagem da praia de Santos-SP, através de estudos de identificação de suas espécies constituintes e da biomassa das mesmas. A coleta foi realizada na porção final dos canais de drenagem 4 e 5, próxima ao mar, com raspagem da flora e da fauna incrustante em quadrados com área amostral definida de 100 m2 em três faixas distintas do entremarés (limite da maré alta, limite da maré baixa e faixa intermediária das marés). Em laboratório, as espécies foram identificadas e dados de biomassa foram mensurados (peso fresco, peso seco e peso seco livre de cinzas) e analisados estatisticamente. A cada trimestre uma fração destes quadrados foi raspada novamente e analisada a reocupação dos organismos na área estudada. Foram encontrados 30 taxa sendo que Mytilaster solisianus, Chthamalus spp. e Crassostrea rhizophorae foram as espécies que apresentaram maior biomassa. Houve diferença significativa entre a biomassa dos dois canais. Foi observado que algumas espécies mais resistentes são pioneiras e tem alta taxa de recrutamento, logo ocupando o local raspado. A biomassa dos organismos que incrustaram nos canais 4 e 5 ao longo do período do estudo diferiu estatisticamente. Há uma tendência para a pluviosidade e, principalmente a temperatura explicarem as variações na biota local. A comunidade marinha nos dois canais após a sucessão foi significativamente diferente da observada antes da raspagem e apesar dos impactos que acometem a região, a comunidade mostrou-se resiliente, requerendo porém, um período maior para os organismos recuperarem a estrutura comunitária após as perturbações sofridas.
O lançamento de esgotos é uma das formas mais comuns de poluição de cursos d’água. O lançamento desses efluentes causam impactos ambientais tais como contaminação microbiológica, alteração da biodiversidade e acréscimo de matéria orgânica no meio. Esta dissertação teve por objetivo realizar um estudo comparativo utilizando hipoclorito de sódio e peróxido de hidrogênio para o tratamento bacteriológico dos esgotos domésticos. Foram realizados testes in vitro para a determinação dos parâmetros de crescimento microbiano e as densidades ópticas foram medidas por espectrofotometria visível em 600 nm. Nestes ensaios foram utilizadas as bactérias S. typhimurium e E. coli e os agentes inibidores de crescimento peróxido de hidrogênio e hipoclorito de sódio. A partir das curvas de crescimento foram calculadas as velocidades exponenciais médias e os tempos de latência para cada uma das concentrações de H2O2 e NaClO. Após os testes verificou-se que o agente inibidor mais eficiente foi o H2O2 para ambas bactérias. Para a bactéria S. typhimurium, o H2O2 apresentou efeito bactericida na concentração de 150 mg/L e com o NaClO apresentou ação bacteriostática na concentração de 200 mg/L. Para a E. coli, a concentração de 25 mg/L para H2O2 e 50 mg/L para NaClO, resultaram em efeito bacteriostático.
O processo de verticalização da cidade de Santos se iniciou na década de 50 e, até os dias atuais continua crescendo. Com a recente explosão imobiliária que ocorreu junto ao aparecimento do pré-sal em 2008, propiciou ainda mais a construção de torres e a formação de ?ilhas de calor? ou microclima urbano, o que comprometeu a qualidade de vida da população da baixada santista, deixando os corredores de circulação de ar entre os edifícios bastante deficientes em relação ao conforto térmico. A influência positiva da vegetação natural como árvores, bosques e jardins, tem sido demonstrada por meio de vários estudos que apontam, entre outros benefícios, a amenização da temperatura e o conforto térmico. Devido a uma política de planejamento urbano que, freqüentemente, privilegia os interesses do setor imobiliário, e o uso inadequado de recursos arquitetônicos em relação à ventilação e insolação, as cidades tornaram-se verdadeiras ?ilhas de calor?, desafiando constantemente seus habitantes a conviver com tamanho desconforto térmico. O presente trabalho tem por objetivos avaliar as oscilações térmicas em três bairros distintos da cidade e a sua relação com o conforto térmico. Os dados obtidos revelaram uma variação, tanto da estrutura urbana e, como seqüência, no padrão térmico, tanto dos espaços externos, quanto aos internos, em cada bairro. Ainda as interferências da vegetação natural, da topografia e da proximidade do porto tiveram a sua influência nas oscilações térmicas dos bairros estudados. São sugeridas propostas para minimizar o desconforto térmico como aberturas no conjunto arquitetônico através de implantação de praças e áreas verdes bem como soluções de projetos de arborização, entre outros, sempre pensando na recuperação do conforto térmico e na melhor qualidade de vida.
Dispositivos eletrônicos deixaram de ser artigos de luxo, tornando-se necessários para o desenvolvimento da sociedade moderna, em especial os computadores, auxiliando no gerenciamento de organizações e aumentando sua produtividade. No entanto, é preciso pensar de que forma são adquiridos, utilizados e descartados quando chegam ao final de sua vida útil e qual a responsabilidade envolvida com o lixo eletrônico dos recém-criados “ecossistemas tecnológicos”. A crescente utilização de equipamentos eletrônicos, computadores e servidores despertou o interesse em analisar as Instituições de Ensino Superior (IES), verificando de que forma podem colaborar com a sustentabilidade por meio de práticas sustentáveis, mitigando o impacto sofrido pelo meio ambiente por suas ações. Aqui apresenta-se uma análise e uma avaliação das ações relacionadas à Tecnologia da Informação (TI) de algumas IES da Baixada Santista, de como estas organizações enxergam a TI Verde e como poderão colaborar com o desenvolvimento sustentável. Para tanto foram realizadas visitas as IES, precedidas por contato telefônico e eletrônico para a aplicação de pesquisa de opinião. Também foi visitada a Fundação Settaport, que realiza coleta de lixo eletrônico na Baixada. Os dados obtidos foram tabulados e analisados por meio de planilhas eletrônicas, identificando percepções e ações dos gestores das IES sobre o tema. Esta pesquisa poderá auxiliar nas tomadas de decisão das próprias IES analisadas e demais instituições de Ensino. Das 27 IES registradas na Baixada Santista, 21 participaram da pesquisa representando 78% do universo amostral. O termo TI Verde foi apontado como desconhecido por 38% dos participantes. Sobre a detenção de certificação ambiental, apenas uma IES identificou possuir a ISO 14001 e outra possuir uma própria certificação. Sobre ações voltadas a TI Verde somente 33% dos pesquisados responderam positivamente. As práticas de TI Verde identificadas como mais adotadas foram o gerenciamento de impressão e o uso de descarte consciente. A preocupação em atingir metas verdes foi evidenciada por 67% dos pesquisados sendo o fator mais relevante a economia de energia. A realização do descarte foi identificada por 29% como realizada pela própria IES e 48% por empresa terceirizada. Os períodos predominantes foram retratados como semestral e em segundo lugar o anual. Quanto ao fator numérico de equipamentos descartados o maior índice foi na faixa de 1 a 100, correspondendo a 43% dos respondentes, mas um índice relevante, 29%, não registrou o que descarta e a falta de identificação impossibilitou uma possível associação a metais e componentes tóxicos dos resíduos. O percentual de 62% das pesquisadas identificou a doação de seu lixo eletrônico e 28% a venda. A maioria das IES pesquisadas, 86%, conhece os danos causados ao meio ambiente, mas o fato de 9% não ter esse conhecimento identifica a problemática que pode ter como um fator de colaboração a educação ambiental.
Estudos atuais têm abordado a fixação de carbono em florestas nativas que pertencem ao Bioma Mata Atlântica, tendo em vista avaliar o potencial destas florestas para redução de emissões desse gás. Considerando a crescente degradação do ecossistema de Restinga na Baixada e a escassez de estudos de biomassa e sequestro de carbono no Bioma Mata Atlântica, este trabalho teve como objetivos apresentar os estudos florístico e fitossociológico e verificar qual o potencial de produção de biomassa e estocagem de carbono em um dos últimos remanescentes de Floresta baixa de Restinga do município de Santos, SP. Para isso, em oito parcelas de dimensão de 10 x 5 m, foram amostrados (nos anos de 2012 e 2013), todos os indivíduos com DAP (diâmetro à altura do peito) acima de 4,0 cm, anotando-se as medidas de perímetro à altura do peito (PAP) e altura total da árvore. A estimativa da biomassa foi realizada usando-se o método não destrutivo. A compilação dos dados apontou para a existência de 186 indivíduos em 2012 e 199 indivíduos em 2013. Foram listadas 28 espécies, distribuídas em 15 famílias. As espécies que apresentaram os maiores Índices de Valor de Importância nos dois anos consecutivos foram Syagrus romanzoffiana e Tabebuia cassinoides. O índice de diversidade de Shannon (H?) foi de H? = 1,23 nats/ind em 2012 e de H? = 1,24 em 2013. No cálculo de equidade pelo índice de Pielou (J) o valor encontrado para os dois anos foi de J = 0,38. Em 2012, obteve-se estimativa de biomassa de 56,9 t.ha-1 e de estoque de carbono de 28,4 t.ha-1. Em relação ao ano de 2013 a estimativa de biomassa foi de 60,1 t.ha-1 e o estoque de carbono de 30,0 t.ha-1. Os valores de biomassa e sequestro de carbono encontrado neste trabalho foram baixos quando comparados com outrso estudos. Assim, novos estudos são necessários para a melhor compreensão da dinâmica das florestas de restinga, no que tange à formação de biomassa e consequente estoque de carbono.
Cortiço é um tipo de habitação característica de zonas urbanas desfavorecidas, encontradas no Brasil, principalmente em regiões portuárias. Caracteriza-se por edificações onde os quartos são alugados para várias famílias, com o uso comum de banheiro e cozinha. Em Santos (São Paulo, Brasil), o primeiro cortiço surgiu no final do século 19, como resultado de uma dinâmica urbana incapaz de fornecer infraestrutura para atender a demanda de pessoas. Suas principais características predominam hoje em dia, tais como ambientes altamente insalubres para a vida humana, tendo papel fundamental para o desenvolvimento de deficiências físicas e mentais em seus moradores. O objetivo deste trabalho é avaliar o habitat humano no cortiço, que caracteriza as relações entre as condições arquitetonicas e ambientais. Para isso, foram utilizados na pesquisa de campo, indicadores e parâmetros sociais e ambientais, em duas áreas do município de Santos. Foram identificados 1.497 imóveis, dos quais 766 ocupados por famílias compostas por 1-3 pessoas, com baixo poder aquisitivo e renda entre um e dois salários mínimos vigentes mensais (equivalentes a U$ 200 e U$ 300 mensais). A partir dessas propriedades, 57 foram escolhidas para a coleta de dados de temperatura, umidade, ruído, iluminação, e ventilação, bem como a condição de telhados, paredes e pisos. A temperatura interna dos quartos variou entre 23 ° e 28 ° C. Umidade relativa do ar variou entre 68 e 82% ea iluminação de cada quarto variou entre 0 e 87 lux, condições que não oferecem conforto ambiental para os seus residentes. A falta de manutenção dos edifícios está diretamente ligada às características negativas de índices ambientais, relacionando as condições das edificações para os baixos índices de qualidade de vida
O aumento da prática da pesca artesanal, ao longo das últimas décadas, resultou numa diminuição dos estoques pesqueiros pela sobrepesca, levando os pescadores artesanais a buscar outras fontes de renda como o turismo e os serviços provenientes da pesca esportiva, uma das atividades de turismo e lazer mais praticadas em todo o mundo. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi analisar a mudança temporal dos sistemas pesqueiros desenvolvidos pela comunidade caiçara da Vila Barra do Una, Peruíbe/SP, nos períodos de 1999- 2000 e 2013-2014. Os dados foram coletados através de entrevistas realizadas com o auxilio de questionários semiestruturados, com os pescadores artesanais e com pescadores esportivos. Os resultados da mudança temporal apontaram, no primeiro período, a pesca artesanal como a principal atividade profissional para 100% dos pescadores entrevistados. No segundo período, houve uma diminuição passando para 81% dos entrevistados, indicando uma tendência de transição para outras atividades, como por exemplo, as relacionadas à pesca esportiva e ao turismo, como aluguel de barco (33%), passeio de barco, pousada para camping, caseiro, obras e monitoria ambiental. A similaridade de espécies capturadas nos dois períodos, dada pelo Coeficiente de Jaccard foi de 58%, o que indica uma alta similaridade. Do total de 67 espécies, 39 foram comuns aos dois períodos, sendo que as famílias mais representativas foram Sciaenidae, representada por 10 espécies no primeiro período e 11 no segundo; Carangidae com 6 espécies em ambos períodos e Ariidade com 5 e 6 espécies, respectivamente. Na pesca esportiva, houve um aumento significativo dos entrevistados com ensino superior que passou de 8,3% para 50% no segundo período. Nos dois períodos analisados, mais de 90% dos entrevistados não tinham nenhum tipo de documento de pesca. O robalo (Centropomus spp.) foi citado como a espécie de maior interesse por 56,25% dos entrevistados no primeiro período e 76,4% no segundo. Dentre os entrevistados no período de 2013/2014, 35% apontaram a ausência de informação sobre a atividade e o turismo local, bem como a necessidade de folhetos informativos ou algum tipo de orientação sobre a prática sustentável da pesca esportiva. Os resultados da análise da mudança temporal dos sistemas pesqueiros da Vila Barra do Una sugerem a 8 necessidade de implementação e desenvolvimento de gestão e planejamento adequados para promoção da pesca esportiva e turismo local de forma responsável e sustentável, uma vez que a degradação dos recursos naturais pode levar ao colapso da pesca, afetando especialmente os aspectos sociais e econômicos da atividade na região.
Esse estudo compreende dois capítulos. O primeiro capítulo aborda a descrição dos dados obtidos em pesquisa de campo realizada de 25 de setembro de 2013 a 2 de agosto de 2014, em Copacabana, Rio de Janeiro, sobre a ecologia (pesca e biologia) da espécie Mycteroperca acutirostris, conhecida como badejo (n=170 de badejos analisados). Essa é uma espécie alvo da pesca artesanal de pequena escala e da pesca esportiva. Sendo recifal, hermafrodita protogínico, bem como alvo da pesca, o badejo ocupa destaque na necessidade de manejo pesqueiro. O segundo capítulo inclui uma ‘short communication’ com dois objetivos: dar subsídios sobre a reprodução do badejo e contribuir com métodos de pesquisa colaborativos e integrados às comunidades de pesca artesanal. Nesse capítulo foram acrescentados dados, com coleta até dia 20 de agosto de 2014 (n=178 de badejos analisados). O Capítulo 1 mostra que a maioria dos indivíduos (83, n= 170) foi capturada na estação do outono. Dentre esses, dois indivíduos apresentaram gônadas maduras na primavera e um no outono. Observamos que a maioria dos badejos capturados em Copacabana, Rio de Janeiro, encontra-se em comprimento total de 30 a 50 cm, sendo o comprimento total mínimo de 20 cm (apenas dois espécimes) e máximo de 90 cm. O capítulo 2 confirma os dados anteriores e realiza comparação entre a pesquisa realizada com e sem a interação dos pescadores, através de dados coletados em 2006-2007. Esse estudo mostra a importância da colaboração com pescadores na coleta de dados para pesquisas: há muito mais eficiência quando há integração, treinamento e colaboração entre pesquisadores e pescadores. Apesar dos resultados desse estudo serem inconclusivos sobre o período da reprodução do badejo, esses são, entretanto, indicativos para a primavera e o verão.
2013
Este trabalho envolve uma pesquisa com a população residente em Santos/SP e em Cubatão/SP, a fim de detectar a sua percepção a respeito de questões ambientais na Baixada Santista que tiveram repercussão na mídia, no período de 2005 a 2012. A partir da análise desses dados, foi traçada uma tabela que aponta a relação do público com os eventos. Buscou-se a visão consolidada que inclui representantes de classes sociais distintas, jovens, adultos e terceira idade, a partir de uma amostragem envolvendo 611 pessoas, algumas de convívio próximo do autor, e outras indicadas ou tomadas aleatoriamente nos municípios citados. No conjunto total das doze questões apresentadas no questionário há evidência de que a maior parte dos respondentes busca informações em três mídias, na seguinte ordem: internet, tevê e jornal impresso, independentemente de suas condições socioeconômicas, intelectuais e culturais. Discute-se aqui também a cobertura jornalística na região envolvendo o tema meio ambiente.
Esta pesquisa envolveu a análise e apresentação de uma proposta de adequação dos conteúdos de Ecologia presentes no Currículo de Biologia do Estado de São Paulo, através da produção de um material didático-pedagógico de apoio para o ensino de Ecologia da Região Metropolitana da Baixada Santista, com uma abordagem mais regionalizada e lúdica sobre as diversas temáticas de Ecologia aplicáveis ao Ensino Médio. O material “Aprendendo Ecologia com a Região Metropolitana da Baixada Santista”, de autoria do próprio pesquisador, foi testado e avaliado durante o ano letivo de 2012, junto a um universo amostral constituído por um total de 104 alunos, do 1º ano do ensino médio da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves (escola pública localizada no município do Guarujá/SP, pertencente à Diretoria de Ensino de Santos). A aplicação envolveu uma turma denominada Controle (C): com total de 38 alunos (que utilizou apenas os materiais convencionais disponibilizados pela Secretaria Estadual de São Paulo: Caderno do Aluno de Biologia e Livro didático) e outras duas turmas que participaram da aplicação do novo material, denominadas: (T1) com total de 37 alunos e (T2) com total de 34 alunos (que utilizaram além do material proposto os materiais convencionais disponibilizados pela Secretaria Estadual de São Paulo, como caderno do aluno e o livro didático). A verificação dos resultados da aplicabilidade e eficiência didática de tais materiais foi feita através de estudo quantitativo e qualitativo, com a aplicação de 4 avaliações. Os resultados obtidos foram tratados estatisticamente através da aplicação do “teste t”; “ANOVA” e “Comparações Pareadas de Tukey”, que mostraram em um plano geral, diferenças significativas entre o rendimento de aprendizado dos grupos de tratamento em relação ao grupo controle, para alguns dos conteúdos abordados; indicando um aspecto positivo junto aos materiais propostos.
Esta pesquisa teve como principal objetivo investigar se o defeso dentro do período (1o de Março a 31 de Maio) foi eficaz para a pesca do camarão setebarbas na região litorânea da Baixada Santista. Inicialmente, foi feito um estudo com o objetivo de se determinar o número amostral mínimo de camarões necessário para a análise morfométrica. Para isso foram feitas quatro coletas, sendo duas em fevereiro de 2012 (antes do defeso), retirando-se uma amostra com 186 camarões sete-barbas e outra com 220 camarões sete-barbas, perfazendo um total de 406 indivíduos (primeira amostra). As outras duas (após do defeso) foram feitas em julho de 2012, com 205 indivíduos e 140 indivíduos respectivamente, perfazendo um total de 345 (segunda amostra). Utilizando 200 indivíduos obtidos na primeira amostra de julho, foi feito um estudo estatístico para a determinação do número mínimo de camarões sete-barbas necessários para a morfometria, de modo que não altere os resultados, no qual mostrou que para o esforço mínimo são necessários 140 camarões sete-barbas. Com os dados obtidos nos arrastos, antes e depois do defeso, foi feito uma averiguação: de machos e fêmeas; do desenvolvimento da gônada; da idade dos jovens nascidos a partir de março 2012. Com base nestes resultados foi feito um estudo estatístico para se verificar se o defeso apresentou um bom recrutamento, ou seja, bom número de jovens na amostra de julho e, consequentemente, da população depois do defeso. Comparados os resultados verificou-se que o defeso teve uma boa eficácia, visto que houve um significativo aumento no recrutamento de jovens
A avaliação da qualidade dos sedimentos é de grande importância para a gestão ambiental, pois, além deste compartimento servir como substrato para diversos organismos, também tem a capacidade de acumular xenobióticos em níveis superiores aos encontrados na coluna d’água. Anfípodes constituem um dos grupos taxonômicos mais sensíveis e por isso são considerados excelentes organismos-teste para avaliar a toxicidade de sedimentos. Contudo, entre as espécies de anfípodes marinhos padronizadas e utilizadas no Brasil, somente Tiburonella viscana e Grandidierella bonnieroides são nativas de ecossistemas brasileiros. Neste sentido, o presente estudo avaliou a viabilidade de aplicação dos anfípodes epibentônico Hyale nigra e Hyale youngi com o objetivo de validar essas espécies como organismos-teste em ensaios de toxicidade. Primeiramente, foram avaliados os limites de tolerância das espécies (H. nigra e H. youngi) aos fatores abióticos naturais (salinidade, temperatura, pH e granulometria), a fim de determinar as condições ótimas de sobrevivência e assim, facilitar a interpretação de suas respostas biológicas. Para avaliar a sensibilidade destes organismos foram realizados experimentos com substâncias tóxicas de referência: cloreto de cádmio (CdCl2,), dodecil sulfato de sódio (C12H25NaO4S), cloreto de amônia (NH4Cl), dicromato de potássio (K2Cr2O7) e sulfato de zinco (ZnSO4). Para validar a aplicação dos organismos-teste, foram realizados ensaios com amostras ambientais provenientes de quatro pontos de amostragem localizados no estuário e baia de Santos, cuja contaminação e toxicidade são historicamente citados na literatura. Os resultados dos ensaios prévios realizados com os diferentes parâmetros ambientais demonstraram valores ótimos de sobrevivência para H. nigra e H. youngi correspondentes aos encontrados em regiões tropicais, variando entre salinidades 30 – 40, 20°C - 25°C de temperatura e 7,5 - 8,5, de pH. Com os resultados obtidos, observou-se que a espécie H. nigra apresenta para as diferentes substâncias de referência testadas uma sensibilidade ligeiramente superior quando comparada com a H. youngi, exceto para o cloreto de cádmio. Ambas as espécies estudadas apresentaram tolerância às diversas substâncias testadas correspondentes aos encontrados na literatura para outras espécies de anfípodes marinho. Os resultados obtidos para H. nigra nos ensaios com sedimento integral e elutriato demonstrou diferença significativa do controle (P4) no P2 e P3, sendo similar aos resultados encontrados na literatura para essa área de estudo. A partir deste estudo foi possível avaliar que os anfípodes H. nigra e H. youngi demonstraram potencial para serem empregados como organismos-teste em ensaios de toxicidade, uma vez que se observou boa sensibilidade e resultados similares às reportados na literatura com outras espécies de anfípodes já utilizadas em estudos ecotoxicológicos.
A partir da década de 1970, houve um significativo e desordenado aumento populacional no Município do Guarujá/SP causado por turistas, migrantes e novos moradores. Como consequência, ocupações irregulares surgiram principalmente em áreas de morros, afetando negativamente na balneabilidade das praias com reflexos diretos na saúde pública, no turismo e na economia do Município. Este estudo teve por objetivo realizar avaliação físico-química, microbiológica e ecotoxicológica das águas dos canais de drenagem urbana da Praia da Enseada - Guarujá/SP que estão sob influência dos morros da Vila Júlia e Vila Baiana e que podem estar recebendo lançamentos clandestinos de efluentes domésticos. Foram analisadas as variáveis oxigênio dissolvido, nitrogênio amoniacal, fosfato dissolvido, surfactantes, compostos fenólicos, óleos e graxas, pH, condutividade e turbidez além da contagem de bactérias E. coli e de testes ecotoxicológicos utilizando embriões de ouriços-do-mar. Após comparação dos seis pontos avaliados com o ponto controle localizado em região não afetada por ações antropogênicas, verificou-se aumentos significativos em praticamente todos os itens analisados, fornecendo evidências que estes canais estão sendo afetados por poluição associada ao despejo inadequado de esgotos das ocupações irregulares e também de moradias construídas em conformidade com as leis vigentes mas com drenagens irregulares, com consequências diretas à saúde pública e ao meio ambiente
Através do Programa de Recuperação Socioambiental do Parque Estadual da Serra do Mar (BR-T117), onde se assenta o bioma Mata Atlântica, o Governo Estadual está retirando a população que habita áreas denominadas como afetadas, ou seja, áreas que não podem ter suas moradias legalizadas, por fatores ambientais ou geotécnicos. Um dos bairros atingidos pelo programa é o núcleo Pinhal do Miranda, mais precisamente o Setor Grotão, um dos bairros-cota, que segundo a Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Cubatão, chegou a possuir entre 1999 e 2000 aproximadamente 6647 moradores. Pelo seu elevado grau de risco (R4), foi o primeiro bairro a sofrer intervenção. Após aproximadamente três anos do início da remoção, foi realizado um estudo, para verificar a dinâmica da colonização em encostas antropizadas, para identificação e acompanhamento das espécies colonizadoras. Para tanto, foram instaladas parcelas de 1m2 em três áreas experimentais, com levantamento dos dados fitossociológicos. Foram coletados 496 indivíduos, representando 20 famílias de plantas, com 35 espécies. O número de espécies nativas não regionais (13) superou a quantidade de invasoras (11) e exóticas casuais (2). As famílias mais representativas em número de espécies foram: Araceae (quatro spp.), Asteraceae, Piperaceae, Poaceae, Pteridaceae e Solanaceae (todas com três espécies). As plantas heliófilas herbáceas e arbustivas dominam a flora das áreas estudadas e a diversidade encontrada foi compatível com as de outros estudos em áreas perturbadas. As espécies encontradas em todas as áreas foram: Anthurium pentaphyllum, Cissus verticillata, Melinis minutiflora, Nephrolepis hirsutula, Piper aduncum, Pteridaceae sp. 1, Solanum paniculatum e Cecropia glaziovii. O maior índice de similaridade foi verificado entre as Áreas II e III, o que pode ser explicado pelo fato de estarem mais distantes da Rodovia Anchieta do que a área I, que é sujeita diretamente aos impactos decorrentes de sua existência. A dispersão por endozoocoria ocorre em 91% das espécies, indicando a importância dessas plantas na manutenção da fauna local.
Os canais de drenagem da cidade de Santos são os responsáveis pelo escoamento das águas pluviais para o mar, porém existem fatores que podem comprometer a qualidade da água que escoa nesses canais e, com isso, afetar a balneabilidade das praias de Santos. O presente estudo consistiu em verificar a qualidade da água dos sete canais de drenagem urbana que deságuam na orla da praia de Santos-SP, antes de atingir o mar, por meio de análises químicas, físico-químicas, ecotoxicológicas e microbiológicas, em período de alta e baixa pluviosidade. As análises revelaram que as caracterizações para a maioria das amostras analisadas, encontravam-se em desacordo com os limites estabelecidos pela resolução CONAMA 357/05 e 430/11. Os resultados obtidos pelos parâmetros analisados no presente estudo sugerem uma contribuição de esgoto de origem doméstica nestes canais de drenagem, o que consequentemente pode afetar a qualidade ambiental das praias de Santos.
Os métodos de Avaliação e Identificação da Toxicidade (AIT) combinam ensaios de toxicidade e simples manipulações físico/químicas de uma amostra com o objetivo de alterar seletivamente a toxicidade de classes específicas de contaminantes, para assim determinar as causas principais da toxicidade em amostras complexas. O ensaio de toxicidade para avaliação de efeito crônico com ouriço-do-mar (Lytechinus variegatus) é comumente utilizado para avaliar amostras de água intersticial marinha (AIM). No entanto, ensaios com organismos bentônicos podem ser mais adequados para avaliar a toxicidade da AIM, já que estes são mais adaptados às condições bentônicas naturais (por exemplo, os níveis de amônia, sulfetos, sólidos em suspensão), minimizando os casos "falsos positivos". O objetivo deste estudo foi desenvolver um método para AIT, por meio de ensaios de toxicidade para avaliação de efeito agudo com o organismo bentônico Nitocra sp. No desenvolvimento do método foram avaliados preliminarmente: (i) a aptidão dos ensaios de toxicidade com náuplios de Nitocra sp. em pequenos volumes de meio de ensaio (2,5 mL); (ii) tempos de exposição diferentes (24h-48h-72h-96h) para os ensaios (n = 3); (iii) a sensibilidade dos náuplios de Nitocra sp. e dos embriões do ouriço do mar L. variegatus aos reagentes utilizados nas manipulações de AIT: EDTA, tiossulfato de sódio e metanol (n = 3). Uma vez definidas as características ótimas dos ensaios de toxicidade, as manipulações da AIT foram aplicadas em AIM obtidas das amostras de sedimento coletadas no entorno do emissário submarino de Santos e de uma área situada em Bertioga-SP, utilizando-se: (i) a adição de EDTA e; aeração em pH (ii) ácido e (iii) básico; e (iv) passagem da amostra em coluna C18. Os resultados dos ensaios de toxicidade com as amostras brutas e após as manipulações foram comparados pelo teste de Dunnet (a = 0,05). O volume da solução-teste de 2,5 mL e tempo de exposição de 48h foram os mais adequados. Definidas as características dos ensaios e manipulações da AIT, o método foi aplicado e, utilizando Nitocra sp., foi evidenciada a toxicidade da AIM em amostras do ESS e de Bertioga é principalmente por substância voláteis em pH ácido (provavelmente sulfetos) e básicos (provavelmente amônia), substâncias orgânicas não iônicas e/ou surfactantes, e, não muito clara, contribuição de metais catiônicos. A AIT com L. variegatus sugeriu apenas os sulfetos como principais causadores da toxicidade no EES, o que pode ser consequência da necessidade de maior diluição das amostras devido à sensibilidade do organismo aos sulfetos. Estudos pretéritos no local mostram a presença, associada à toxicidade, de metais e orgânicos não iônicos, além de altos níveis de LAS. A aplicação dos ensaios de toxicidade para avaliação de efeito agudo com náuplios de Nitocra sp. foi, portanto, considerada adequada para AIT com água intersticial marinha.
O presente trabalho analisou a percepção socioambiental de uma população local relacionada a apropriação crítica de tecnologias para o desenvolvimento de pesquisas livres sobre mitigação, análise de impactos advindos da indústria do petróleo e sustentabilidade da zona costeira do município de Santos. A coleta de dados foi realizada entre os meses de junho de 2012 e maio de 2013. Foram estabelecidos os seguintes critérios: 1)Avaliação dos Pontos de Cultura do município de Santos como espaços possíveis para sediar um laboratório experimental temporário; 2)Receptividade da população local com relação a proposta; 3) Reconhecimento da atividade e interesse em colaborar por parte de coletivos que já desenvolvem projetos sobre a temática abordada. Ao final da pesquisa foi possível concluir que os Pontos de Cultura Projeto Parcel e Estação da Cidadania e Cultura podem ser considerados espaços possíveis para sediar atividades de um laboratório experimental no município de Santos. Uma parcela da população da área continental de Santos, residente no bairro do Caruara, demonstrou interesse em participar de atividades envolvendo a apropriação crítica de tecnologias para o manejo socioambiental da região. Relataram um censo crítico bastante apurado quanto ao desenvolvimento que a indústria do petróleo poderá trazer para região: muitos impactos ambientais em contraponto as oportunidades de emprego e lucros. A documentação das atividades realizadas possibilitou que a proposta fosse difundida e replicada para outros coletivos que atuam projetos correlatos em outros países. Assim, é possível considerar que o desenvolvimento de propostas experimentais pode proporcionar a realização de ações socioambientais livres no município de Santos, ou seja, promover ações que incorporem a apropriação crítica de tecnologias ao conhecimento ecológico da população local como forma de empoderamento em relação aos impactos que a indústria do petróleo tende a trazer para a região.
Compostos fenólicos são substâncias de difícil degradação natural, o que os torna persistentes no ambiente e, consequentemente, passíveis de bioacumulação e efeito adverso na biota exposta. A legislação vigente estipula o limite de 0,5 mg/L para os compostos fenólicos, mas este valor não diferencia compostos de baixa e alta toxicidade. Adicionalmente, o método quantitativo preconizado utiliza o fenol como padrão único, o que pode resultar em erros analíticos significativos, dependendo do composto fenólico avaliado. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar comparativamente a toxicidade de alguns compostos fenólicos e verificar os desvios nas suas determinações quantitativas, em situações não previstas nas Resoluções do CONAMA. Ensaios de laboratório utilizando o ácido gálico, ácido cafêico, fenol, para-cresol e Triclosan mostraram que os desvios analíticos podem chegar a 440 % ,muito além do aceitável para ensaios ambientais. Ao mesmo tempo, os testes de toxicidade utilizando embriões de ouriço-do-mar conforme a norma NBR 15.350 demonstraram efeitos adversos em concentrações menores que 0,5 mg/L e diferenças significativas na toxicidade dos compostos avaliados. A comparação da toxicidade dos compostos avaliados e a verificação dos desvios nas suas determinações quantitativas, em situações não previstas nas Resoluções CONAMA, demonstram o atual risco ecológico desses compostos em ecossistemas aquáticos e sugerem a necessidade de revisão dos atuais limites de lançamentos, que poderiam regular individualmente os compostos fenólicos com concentrações de efeitos tóxicas conhecidas.
Esta pesquisa objetivou descrever aspectos ecológicos e etnoecológicos de duas espécies de robalos (Centropomus undecimalis e Centropomus parallelus) no litoral sudeste do Rio de Janeiro, em Paraty. Tal pesquisa foi conduzida de 2009 à 2012 utilizando como método a coleta de desembarques pesqueiros (n=560), a análise de conteúdos estomacais e análise de gônadas (n=119 e n=164, das espécies, respectivamente), a coleta de dados etnobiológicos através de entrevistas com pescadores experientes (n=25), além da realização de reuniões devolutivas em 3 comunidades estudadas (Tarituba, Praia Grande e Ilha do Araújo). Foram analisados aproximadamente 20t de pescado dos quais 759,70kg (3,97%) de C. undecimalis e 290,18kg (1,45%) de C. parallelus. As espécies chegaram a representar 38% e 11% da produção mensal das comunidades nos meses de seus picos de produção (C. undecimalis e C. parallelus, respectivamente), evidenciando uma grande importância econômica e social. Os resultados das entrevistas mostram que a época de maior quantidade para a pesca está fortemente correlacionada com o período reprodutivo de C. undecimalis (r=0.93; p<0.0001) e C. parallelus (r=0.90; p<0.0001). C. undecimalis demonstrou atividade reprodutiva na primavera e verão, principalmente nos meses de novembro e dezembro, enquanto que C. parallelus demonstrou atividade reprodutiva ao longo de todas as estações do ano, com grandes volumes gonadais e aumento da abundância de indivíduos principalmente em janeiro. Segundo as análise de conteúdos estomacais C. undecimalis é piscívoro, já que 92,3% do conteúdo estomacal é representado por peixes. Por outro lado C. parallelus exibe comportamento carnívoro, com grande frequência de crustáceos peneídeos em sua dieta (53%), inserindo outras espécies de peixes a medida em que cresce (n=9 itens para n=27). Os dados obtidos na pesquisa permitiram sugerir uma rota migratória de C. undecimalis e C. parallelus através de informação dos pescadores. Segundo os pescadores, parte destes peixes vem migrando sentido sul (origem) para a parte mais central da Baía da Ilha Grande (chegada), quando se reproduzem e também são pescados. Os principais pesqueiros para ambas as espécies são lajes e baías com baixa circulação e influência dulcícola. A rede de espera foi o petrecho que mais capturou em desembarques amostrados (80,23% e 50,53% da biomassa amostrada para C. undecimalis e C. parallelus, respectivamente), seguido da pesca de linha (28,40% para C. parallelus) e mergulho (12,47% para C. undecimalis). Há conflito na região para a pesca do robalo, devido à grande influência de UC’s (Unidades de Conservação), a pesca de cerco de robalo e devido ao impacto da pesca de larga escala (industrial). Este estudo recomenda que medidas sejam tomadas para assegurar: (1) a abundância destas duas espécies para a pesca; (2) a criação de uma área permanente para a pesca artesanal de robalos; (3) a criação de um modelo de monitoramento participativo dos desembarques destas espécies, nas comunidades estudadas; (4) a restrição da pesca em larga escala nestas regiões, que, por ventura, sejam manejadas desta maneira. Este trabalho foi realizado com apoio do IDRC n.º 104519-004, projeto temático FAPESP 2009/11154-3 e com bolsa de mestrado concedida pela FAPESP (11/14701-5), todos por supervisão e orientação da Prof.ª Dr.ª Alpina Begossi.
Este estudo teve como objetivo analisar o ciclo reprodutivo e a fecundidade do siri Callinectes danae Os animais foram coletados na baía- estuário de São Vicente, SP, Brasil no período de setembro de 2000 a agosto de 2002. Em laboratório, os animais foram contados, sexados e sua largura da carapaça mensurada. O estágio de desenvolvimento das gônadas e a fase de muda também foram observados. Em todos os meses de amostragem fêmeas ovígeras e animais de ambos os sexos com gônadas desenvolvidas foram observados. A apesar da temperatura ser apontada como o fator ecológico mais importante na biologia reprodutiva de animais aquáticos,no presente estudo não foi verificada relação entre a temperatura da água e a número de fêmeas ovígeras. As oscilações dos fatores ambientais na região de São Vicente, provavelmente, não foram suficientes para alterar a continuidade dos processos fisiológicos relacionados à reprodução de C. dane. A fecundidade média foi de F = 893035,31 ± 20042,28. O resultado aponta para a hipótese de que fêmeas de portunideos apresentam desova parcelada. Embora a perda de ovo ocorra durante o desenvolvimento embrionário pode ser concluído que a fecundidade de C. danae esforço reprodutivo é elevada e significativa característica da espécies r estrategistas
http://unisanta.br/Download/Download?NomeDoArquivoOriginal=mestrado\ecologia\dissertacoes\Dissertacao_MelissaAlleman.pdf
Recentemente têm-se utilizado moluscos bivalves como organismos sentinelas em monitoramentos marinhos para determinar os impactos e a presença de contaminantes no mar. Sabe-se que o modo de alimentação por filtração de partículas em suspensão da coluna d’água expõe esses animais em período integral às substâncias tóxicas associadas a partículas em suspensão. Dada essa característica estes animais podem acumular, em seus tecidos, concentrações de metais em níveis acima dos encontrados no ambiente. O mexilhão Perna perna tem sido uma das espécies mais utilizadas para se fazer o diagnóstico ambiental devido a sua ampla distribuição na costa do Brasil e atributos necessários aos bioindicadores, como acumular o poluente, possuir hábito séssil e ser abundante no ambiente estudado. A técnica utilizada é geralmente realizada por meio da análise do estresse nos organismos teste, detectado pela alteração em nível bioquímico e celular. Este processo, denominado de desestabilização da membrana lisossômica por meio do Tempo de Retenção do Vermelho Neutro (TRVN), consiste em visualizar e efetuar contagem do tempo em que se causou dano celular que resultaram na desestabilização lisossômica das células. A análise final se baseia principalmente no encontro de significância estatística entre os tempos médios de retenção nos pontos considerados poluídos em relação ao ponto referência. Devido à forma de obtenção de dados, que é feito por meio de contagem através da visualização de células estressadas, os resultados estatísticos eventualmente provocam erros interpretativos. Para oferecer um melhor tratamento às incertezas consideradas nas interpretações dos dados, apresentamos neste trabalho uma nova forma de interpretação quantitativa dos resultados na qual são utilizados os fundamentos de uma lógica não clássica, denominada de Lógica Paraconsistente Anotada com anotação de dois valores (LPA2v). Nesta técnica, inicialmente os resultados dos valores evidenciados no processo celular do biomonitor mexilhão Perna perna são transformados em graus de evidência representativos do processo e, em seguida estes dados, na sua forma evidencial, são tratados com um método Para-Estatístico Descritivo que aplica as formas usuais da Estatística Descritiva e faz interpretações fundamentadas em Lógica Paraconsistente. Para demonstrar essa forma de aplicação é efetuado um estudo numérico comparativo em valores obtidos de uma fonte secundária de dados extraídos de uma investigação que foi realizada com o bivalve Perna perna (Linnaeus, 1758) pela metodologia de desestabilização da membrana lisossômica por meio do Tempo de Retenção do Vermelho Neutro (TRVN). Os resultados obtidos pela aplicação do método Estatístico Descritivo Paraconsistente mostraram que esta forma de interpretação pode servir de referencia para os estudos que tratam da utilização da resposta celular do mexilhão Perna perna.
A pesca artesanal, atividade de grande importância social e econômica no Brasil, vem enfrentando diferentes pressões à sua continuidade; tais como a pesca industrial, a especulação imobiliária e as restrições impostas por órgãos governamentais. Para que medidas de manejo pesqueiro obtenham sucesso faz-se necessário, dentre outros elementos, o conhecimento detalhado acerca das tecnologias de pesca empregadas. Uma vez que as mudanças e a difusão das tecnologias pesqueiras estão fortemente relacionadas ao contexto econômico e socioambiental, uma abordagem utilizando a resiliência socioecológica do sistema pode ser passível de fornecer informações potenciais para planos de manejo e para o uso sustentável dos recursos. Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar as tecnologias de pesca utilizadas na comunidade da Praia Grande e entorno em Paraty através de alguns indicadores de resiliência (flexibilidade, organização e capacidade de aprendizagem), da análise sobre a seletividade do método, das espécies-alvo e da densidade de pescadores. Para tanto, questionários semiestruturados foram usados em entrevistas realizadas nos meses de janeiro, abril, julho e agosto de 2012 na comunidade da Praia Grande e Ilha do Araújo, resultando em 22 entrevistas. Além disso, foi realizada a revisão de dados de desembarques pesqueiros realizados de novembro de 2009 a novembro de 2011. A análise dos dados obtidos através das entrevistas (n=22) indicou que as tecnologias de pesca usadas de forma mais frequente nessas comunidades são: rede de espera (77,3%) e arrasto (50%). Os dados obtidos a partir da revisão de desembarques pesqueiros (n=400) confirmaram a maior frequência do uso das mesmas (44,5% e 36%, respectivamente). Em relação às espécies alvo, a rede de espera se mostrou importante na captura de corvina, robalo-flecha, robalo-peba, cavala, vermelho e cação; e o arrasto para a captura de camarão branco e camarão sete barbas. No que se refere à diversidade explorada pelas tecnologias de pesca, o uso de índices de diversidade (riqueza e Shannon-Wiener) indicaram que linha e rede de espera são as tecnologias que apresentam a maior diversidade capturada (H’=2,5 e H’= 2,3, respectivamente). Em relação aos aspectos de seletividade e geração de descarte, todos os pescadores de arrasto (n=11) consideram esta tecnologia geradora de descarte e a maioria (90,9%) considera que esta não é seletiva. Em relação aos indicadores de resiliência, os dados indicam que, em relação à flexibilidade, a maioria dos pescadores entrevistados (59,1%) possui outra forma de obtenção de renda, além da pesca, sendo o turismo a principal delas (36,4%). A maioria (54,5%) utiliza três ou mais tecnologias de pesca, o que pode favorecer a diluição da pressão sobre o recurso pesqueiro (diversificação) e a redução do risco associado à presença de uma única atividade; assim como pode ter efeito contrário (intensificação) através do uso de tecnologias mais intensivas, como o arrasto. Em relação à capacidade de organização dos pescadores, foi encontrada baixa participação em relação às tomadas de decisões em relação à pesca; entretanto a maioria (86,4%) mostrou-se receptiva aos mecanismos de compensação por serviços ambientais. Quanto ao indicador capacidade de aprendizagem, os resultados indicam que os pescadores percebem a atividade humana como agente responsável por alterações no ambiente natural; os pescadores também sugeriram diferentes soluções diante do decréscimo de cada espécie-alvo. A percepção da conexão entre a atividade humana e as condições em que os recursos se encontram é fundamental para o apoio a iniciativas de gestão que regulamentam o acesso aos recursos.
Esta dissertação visou estudar os impactos ambientais causados pelo sistema de travessias entre as cidades de Santos e Guarujá feito por balsas que apresentam poluição sonora, do ar, do solo e das águas. Cinco pontos foram selecionados sendo três deles potencialmente impactados pelas embarcações e dois deles servindo como controle dos resultados. O objetivo geral deste estudo foi avaliar os impactos ambientais associados às operações na travessia entre Santos e Guarujá, sendo desenvolvidos os objetivos específicos: a) Coletar e analisar amostras quantificando os parâmetros de óleos e graxas, sólidos suspensos, oxigênio dissolvido, alcalinidade, pH, salinidade, turbidez e cor Pt/Co; b) Analisar amostras em locais não afetados pelo serviço de balsas, quantificando os mesmos parâmetros citados no objetivo anterior; c) Estabelecer comparações estatísticas entre os pontos próximos e distantes do serviço de balsas para comparação; d) Efetuar comparação teórica entre o serviço de travessia por balsas e a proposta existente para a ligação entre Santos e Guarujá por túnel subaquático. Foram coletadas amostras em cinco pontos sendo três no percurso das balsas, um controle na Ilha das Palmas e um controle em local frequentado por banhistas (Praia da Aparecida – Santos). Os parâmetros avaliados seguiram as metodologias previstas no “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” – 20ª edição. Após os testes, verificou-se que os parâmetros óleos e graxas, sólidos suspensos, turbidez, cor e pH apresentaram resultados diferentes dos pontos de controle, enquanto que os parâmetros oxigênio dissolvido, alcalinidade e salinidade não apresentaram indícios de impacto ambiental em relação ao controle.
Trata-se de um estudo exploratório da saúde do trabalhador na atividade pesqueira com o objetivo de identificar os riscos do trabalho em relação aos fatores relacionados com o meio e os fatores populacionais. Neste particular, destacam-se as demandas emergentes no contexto da Saúde do Pescador Artesanal e da aplicabilidade a partir da confluência das seguintes temáticas – a construção de um conhecimento multidisciplinar e multiprofissional, aplicabilidade das NR’s, Leis e Diretrizes do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, a interface com Sindicatos e Associações com o propósito de promover ações integradas e destacar os esforços no marco conceitual e conceber um novo saber sobre a importância da preservação da vida por meio de exames médicos e os conhecidos exames admissionais e periódicos, ambos, como um grande instrumento em antecipar possibilidades do surgimento de doenças patológicas e as doenças ocupacionais oriundas do labor e o indicador na redução dos danos à saúde com a utilização adequada dos equipamentos de proteção individual e coletivo. A saúde coletiva, enquanto movimento ideológico comprometido com a transformação social apresenta possibilidades de articulação com novos modelos científicos capazes de abordar o objeto saúde-doença-cuidado respeitando sua historicidade, unindo ambiente, sustentabilidade para a qualidade de vida.
A ocorrência de microlixo nas praias e ecossistemas costeiros a cada dia torna-se mais preocupante. Entre os tipos de objetos de minúsculas dimensões classificados como microlixo estão os Pellets. Os objetos reconhecidos como Pellets são grânulos plásticos derivados do propileno, como o polipropileno, polietileno e poliestireno e sua contribuição têm trazidos resultados bastante nefastos para o meio ambiente, pois, além de contaminação por bactérias, estes resíduos são ingeridos por animais marinhos e pássaros levando-os a contrair doenças. É devido à sua porosidade que os Pellets apresentam alta capacidade de associação a contaminantes, principalmente orgânicos, atuando como uma via de transporte e exposição de poluentes para organismos marinhos. Entre outras causas o crescente aumento desse material no ambiente marinho é oriundo de atividades portuárias e industriais que vem em ritmo de crescimento no Brasil. O grande aumento de poluição das praias e ambientes costeiros por meio de Pellets preocupa autoridades ambientais do mundo todo gerando pesquisas de índices de monitoramento de sua incidência e procura de meios para diminuir a ocorrência e seus efeitos, bem como criar leis que possam penalizar os responsáveis. A coleta de amostra de Pellets é feita em processos onde são separados areia e objetos de dimensões microscópicas trazendo dúvidas e incertezas nas contagens. Em trabalhos posteriores a Lógica Paraconsistente Anotada tem se mostrado uma ferramenta eficiente para analisar sinais de informação originados de dados incertos ou contraditórios. Considerando essa linha de pesquisa ecológica, que procura estudar o monitoramento de ambientes marinhos, a presente dissertação mostra um estudo quantitativo, utilizando como fundamentos para análise e conclusões a Lógica Paraconsistente Anotada (LPA). O estudo consiste em pesquisar a ocorrência de Pellets em areias da praia de Santos, no litoral de São Paulo, quantificando a sua incidência através dos algoritmos originados da Lógica Paraconsistente Anotada, criando assim condições de elaboração de análises por processos computacionais. Os resultados alcançados comprovam que esta pesquisa cumpriu o objetivo principal que é criar com a Lógica Paraconsistente um padrão de evidência no qual capacitará métricas para estudos comparativos em pesquisas futuras utilizando o mesmo método de análise com condições de monitoração através da informática.
O dióxido de carbono, anidrido carbônico ou gás carbônico (CO2), é essencial para a existência da vida no planeta, imperativo para o processo físico-químico da fotossíntese vegetal e utilizado em vários processos industriais. Contudo, o aumento das suas emissões, resultado de ações antropogênicas, tais como queimadas, uso de combustíveis fósseis e na fabricação de cimento, vem sendo indicado como principal responsável pelo aquecimento global. Apontado como responsável por emissões de 5 a 7% de gás carbônico na atmosfera, o cimento, assim como a cal, retêm o CO2 no processo químico de cura e carbonatação. Essa reação química da penetração de dióxido de carbono na matriz do cimento umedecido destaca-se pela ação rápida na cura de produtos que utilizam calcário, onde o agente catalisador é o ácido carbônico, que altera o pH da matriz cimentícia. O presente trabalho tem por objetivo principal estudar a contribuição dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) para a mitigação do dióxido de carbono atmosférico, investigando o impacto ecológico de sua capacidade de sequestro de CO2 e as iniciativas da indústria do cimento para reduzir as emissões desse gás na composição do efeito estufa. Como objetivo secundário, busca quantificar de forma teórica e experimental a contribuição das operações unitárias de absorção (retenção na água por solubilidade) e adsorção (retenção no sólido) do CO2 pelo RCD. As amostras de material, obtidas junto à empresa processadora de resíduos e construtoras, foram classificadas através de ensaio de granulometria, umidade e pH. Logo após, a mostra foi separada pelo diâmetro em três diferentes faixas granulométricas e colocadas em uma coluna de vidro de 280mm de altura e 30mm de diâmetro, através da qual foram inseridos dois dutos ligados aos cilindros com CO2 puro (variadas vazões) e outro com ar, em vazão constante de 2,99 mL/s. As concentrações de CO2 em função do tempo, na entrada e saída da coluna, foram obtidas por titulação. A massa de CO2, retida experimentalmente nas amostras por adsorção, foi de aproximadamente 35 vezes maior que a quantidade retida por absorção na água das amostras - dada pela Lei de Henry. Os resultados indicaram que a água no RCD é responsável por uma pequena parte da retenção de CO2. A fixação do CO2 no RCD é praticamente resultante da operação unitária denominada de adsorção, definida como a retenção de um gás ou líquido em um sólido por polaridade, massa molar ou forma, seguida ou não de reação química.
(Taxonomia e Ecologia de Briófitas urbanas na cidade de Santos, São Paulo, Brasil). Na cidade de Santos, São Paulo, foram selecionadas três áreas para o levantamento e estudo ecológico de briófitas urbanas. As áreas apresentam diferentes influências antrópicas, com diferentes graus de movimento de pessoas, automóveis e caminhões. Foram encontradas 430 amostras com 59 táxons, uma subespécie e duas variedades, pertencentes a 34 gêneros e 22 famílias. Anthocerotophyta está representada por duas espécies, dois gêneros e duas famílias; Marchantiophyta, por 28 táxons, 12 gêneros e seis famílias e, Bryophyta por 29 táxons, 20 gêneros e 14 famílias. As famílias com maior número de espécies são Lejeuneaceae (15 espécies em 7 gêneros), Jubulaceae (7 espécies em um gênero), Bryaceae (6 espécies em 2 gêneros), e as demais famílias com menos de cinco espécies em um, dois ou três gêneros. São citadas sete novas ocorrências para o Estado de São Paulo. Em comparação com outros estudos de briófitas urbanas desenvolvidos no Brasil, a cidade de Santos apresenta espécies comuns ou mais bem adaptadas a estas áreas e que coincide também com as encontradas em outros trabalhos. Entre as três áreas estudadas na cidade de Santos, as espécies Frullania ericoides (Nees) Mont., F. neesii Lindenb., Lejeunea flava (Sw.) Nees, Erpodium glaziovii Hampe e Sematophyllum subpinnatum (Brid.) E. Britton são comuns. As observações demonstram que a diversidade maior de espécies está entre as áreas mais protegidas, com maior número de árvores e áreas verdes e menor movimentação de pessoas, automóveis e caminhões. A comparação das três áreas também se deu na escala temporal de pouco mais de uma década (2000- 2012), demonstrando maior alteração de espécies e famílias nas localidades em que houve mais alterações da configuração arquitetônica do local devido a reurbanização e ao aparecimento de novos espaços de construção para o recrutamento de espécies (Bairro da Ponta da Praia).
Os ensaios de toxicidade constituem uma importante ferramenta de avaliação, controle e monitoramento ambiental e seus resultados proporcionam uma evidência direta das consequências da contaminação marinha. O ouriço-do-mar vem sendo amplamente empregado em ensaios de toxicidade para avaliar e caracterizar uma variedade de amostras, sejam efluentes urbanos ou industriais, como compostos químicos e amostras ambientais. Usualmente, as leituras dos dados referentes aos resultados dos ensaios de toxicidade requerem experiência e perspicácia do técnico responsável. Dessa forma, podem inferir certa subjetividade, fato que, em muitos casos, pode gerar resultados controversos, não produzir resultados que se apresentem de modo claro e conciso, capaz de oferecer um retrato fiel do processo ecológico. Neste trabalho, procura-se investigar novas formas de tratamento de dados resultantes de ensaios de toxicidade deste tipo, utilizando algoritmos baseados em Lógicas não-clássicas. Com base nos dados concretos, utilizam-se os algoritmos da Lógica Paraconsistente Anotada, visando encontrar procedimentos de monitoração que possam agregar melhor visualização, oferecendo maior índice de confiabilidade às análises através de programas computacionais. O presente estudo investigou novas formas de interpretação destes dados, fundamentados em aplicações de algoritmos, que utilizam fundamentos da estatística descritiva e da Lógica Paraconsistente. Com a aplicação conjunta desses procedimentos, foi possível estabelecer métricas e novas metodologias baseadas em processo algorítmico como alternativa para análise de dados obtidos de diferentes ensaios de toxicidade.
Usualmente a expressão entulho de construção civil refere-se aos resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, bem como os resultados da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, produtos e mantas impermeabilizantes derivadas de petróleo, concreto em geral, solos, pavimento asfaltico (concreto asfáltico), tubulações, restos de madeira, de ferragens, entre outros. Sabe-se que esses resíduos provocam problemas ambientais, no que se refere aos aspectos de saúde, meio ambiente e sociais, acarretando doenças, poluindo o ar com partículas finas, assim como as águas superficiais, e subterrâneas, etc.. A sua destinação usualmente sem qualquer tratamento são os lixões e aterros. Quando tratados, são as usinas de reciclagem, aterros controlados que recebem tal matéria. A reciclagem de resíduos da construção civil (RRCC) é usualmente feita por entidades públicas, como, as Prefeituras dos municípios de Belo Horizonte (Minas Gerais), Campinas (São Paulo), e São Paulo (São Paulo). As entidades privadas somente agora é que tem se dedicado ao reaproveitamento dos resíduos. O objetivo deste trabalho é utilizar resíduos de construção e demolição (RCD) para a confecção de argamassas e concretos visando a aplicação na indústria da construção civil na confecção de pisos e lajotas. Além do seu aproveitamento que economicamente, provoca uma queda dos custos de materiais da construção civil, o RCD ocasiona a diminuição da deterioração de leitos de rios e lagoas, responsável pelo assoreamento dos mesmos, provocados pelas dragas para a retirada de areia, bem como as explorações de pedreiras responsáveis pelas derrubadas das matas e destruições de encostas de morros e serras.
2024
Este estudo trata da transposição de águas da Bacia do Rio Itapanhaú, decisão tomada pelo governo do estado de São Paulo, a partir da crise hídrica de 2013/2015. Esta bacia possui área que se estende pelos municípios de Biritiba Mirim e Bertioga, sendo neste último onde se localiza sua maior extensão. A captação e reversão de águas do Ribeirão Sertãozinho, um dos formadores do Rio Itapanhaú, alimentará a represa de Biritiba Mirim, que compõe o Sistema Alto Tietê e, por sua vez, abastece a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Foram considerados aspectos como a gestão dos recursos hídricos, a necessidade da preservação, conservação e uso sustentável, em consonância com um planejamento ambiental e territorial local, regional e até mesmo nacional, a avaliação de impactos ambientais e a importância do monitoramento ecológico. Desde o século passado, a gestão dos recursos hídricos do estado de São Paulo foi conduzida sem que a atenção devida e o respeito às dinâmicas naturais dos rios, suas várzeas e enchentes periódicas fossem considerados, o que levou ao uso inapropriado de suas águas, quando passaram a receber o descarte de efluentes domésticos, industriais e objetos de todo o tipo. Os Rios Pinheiros e Tietê, por exemplo, foram canalizados, sendo que no caso do Rio Pinheiros houve, além da canalização, a inversão de seu curso d’água. Dessa forma, com a decisão da transposição de águas da Bacia do Rio Itapanhaú, a sociedade civil e a população local entraram em modo de alerta, mesmo porque várias lacunas, a falta de abrangência e detalhamento foram apontados por técnicos e pesquisadores ao analisarem os Estudo e Relatório de Impacto Ambiental, EIA-RIMA. Muitos impactos ambientais foram pouco abordados, como o fato do Rio Itapanhaú ser um importante rio costeiro do litoral paulista e de as mudanças climáticas serem uma realidade que já se concretizou. As manifestações contrárias, contudo, tiveram pouco efeito, pois a CETESB concedeu a licença prévia para o empreendimento e as obras foram iniciadas. Este estudo, assim, procurou traçar a cronologia relacionada a este empreendimento, trazendo à tona vários aspectos da legislação ambiental, do planejamento ambiental e territorial. Por fim, esta pesquisa chamou a atenção para a possibilidade do aumento da cunha salina e consequente intrusão salina nas águas do rio, com a possível redução de sua vazão, e destacou a necessidade do monitoramento ecológico do rio. A salinização pode provocar alterações nos ecossistemas, como o manguezal e restinga, perda da biodiversidade e mudanças na distribuição e ocorrência de espécies de fauna e flora, por exemplo, fatos que, por sua vez, poderão afetar as atividades econômicas, sociais e culturais das comunidades locais. Diante da possibilidade de tal cenário este estudo propõe o uso da vegetação aquática como bioindicadora da salinização para o monitoramento ecológico do rio.
A presença de fármacos em ambientes aquáticos é uma preocupação crescente, devido aos seus potenciais impactos ambientais e à saúde pública. Este estudo focou na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), em São Paulo, com o objetivo de investigar a contaminação hídrica por fármacos e avaliar os riscos associados. Amostras de água foram coletadas em cinco locais estratégicos, incluindo canais de drenagem em áreas densamente povoadas de São Vicente e rios costeiros no litoral sul de São Paulo (Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe). A técnica de Extração em Fase Sólida (SPE) foi utilizada para purificar as amostras, seguidas por análise qualitativa por CLAE-EM/EM para identificar a presença dos fármacos. As análises revelaram a presença de dez fármacos: ácido acetilsalicílico, atorvastatina, citalopram, clopidogrel, clorfeniramina, enalapril, etinilestradiol, propranolol, rosuvastatina e valsartana. Utilizando ferramentas in silico, como EPI Suite™v4.11, ECOSARTM v1.11 e OPERA CompTox Chemicals Dashboard v2.4.1, foram avaliados parâmetros como o método PBT, persistência (BIOWIN), bioacumulação (BCF), e toxicidade em três níveis tróficos (algas, peixes e crustáceos). Os resultados confirmaram a presença de fármacos nas amostras de água, evidenciando a extensão da contaminação na Baixada Santista. As análises in silico apontaram variações nos parâmetros avaliados, sugerindo potenciais riscos ecológicos e para a saúde pública. Este estudo destaca a necessidade de implementar estratégias de gestão ambiental e políticas públicas eficazes para mitigar os impactos dos fármacos nos ecossistemas aquáticos e proteger a saúde pública.
A maior ameaça à biodiversidade são as ações antrópicas como desmatamento dos biomas por todo o planeta. Em seguida temos as bioinvasões causadas por espécies exóticas, estas são aquelas encontradas fora de seus locais de origem. Estas espécies podem ser introduzidas de forma intencional caso tenham fins para o ser humano ou de maneira acidental. Destaca-se a chamada fauna bentônica , composta de seres que habitam fundo do corpo d’água e entre eles os animais da fauna incrustante. Este trabalho baseou-se em realizar uma avaliação de risco de bioinvasão na região estuarina de Santos - São Vicente tendo como alvo as espécies Balanus trigonus, Bugula neritina, Monocorophium acherusicum, Perna perna e Styela plicata. Com o uso do software Aquatic Species Invasiveness Screening Kit (AS – ISK) foram respondidas 50 questões sobre as espécies. Os resultados obtidos para Basic Risk Assessment (BRA) e Basic Risk Assessment + Climate Change Assessment (CCA) foram 27/31 (Balanus trigonus), 12/12 (Bugula neritina), 12/12 (Monocorophium acherusicum), 15/15 (Perna perna) e 13/13 (Styela plicata). Estas são espécies que facilmente conseguem se dispersas pelos variados ambientes, possuem altas taxas reprodutivas, são fortes competidoras de recursos e muitas vezes podem causar prejuízos econômicos. Com todas estas informações, concluiu-se que de fato são espécies invasoras e necessitam de estudos e monitoramento por parte das autoridades ambientais.
A contaminação ambiental por microfibras é atualmente um problema de escala global, tendo as indústrias têxteis como um dos principais contribuintes. Esse impacto está fortemente associado à indústria da moda, em especial aos modelos de produção do “fast fashion”, nos quais o poliéster – uma fibra sintética pertencente ao grupo dos microplásticos – desempenha um papel central como matéria-prima. Essas microfibras tem se consolidado como um contaminante ambiental relevante. As microfibras podem ser classificadas em três categorias: naturais, como o algodão; sintéticas, como o poliéster; e mistas, compostas por combinações de duas ou mais fibras. Neste estudo, foram analisadas as microfibras de algodão, poliéster e mistas, com composição de 50% algodão e 50% poliéster. O objetivo foi avaliar os efeitos ecotoxicológicos dessas fibras têxteis em Echinometra lucunter, considerada uma espécie-chave nos ecossistemas marinhos. A pesquisa também simulou um cenário em que microfibras foram imersas em água do mar por 30 dias para avaliar alterações na toxicidade ao longo do tempo. A hipótese inicial era de que a contaminação por fibras têxteis de poliéster causaria efeitos no desenvolvimento embriolarval desses organismos. Os resultados mostraram que todas as fibras testadas exibiram toxicidade, sendo que as fibras de algodão causaram efeitos no desenvolvimento embriolarval, mesmo em concentrações ambientalmente relevantes. Percebeu-se também que a toxicidade das microfibras aumentou com a concentração e a duração da exposição, sendo o poliéster a fibra mais tóxica entre as testadas. Embora as fibras sintéticas tenham sido o foco principal de pesquisas anteriores, este estudo destaca que fibras naturais, como o algodão, frequentemente negligenciadas, também podem ser tóxicas devido à presença de aditivos em sua composição. Essas fibras naturais, apesar de se decompor mais rapidamente do que as sintéticas, podem persistir por períodos prolongados em ambientes aquáticos. Os achados reforçam a necessidade de novas pesquisas tanto sobre microfibras naturais quanto sintéticas, para compreender seus impactos ambientais e os potenciais ameaças aos ecossistemas marinhos e às populações de ouriços-do-mar.
O principal objetivo deste trabalho é compreender a dinâmica da distribuição da espécie Brillantaisia lamium (Ness) Benth., em seus habitats de origem na África Central e Ocidental. Além disso, busca-se identificar os mecanismos e fatores que propiciaram a dispersão desta espécie para outras regiões do globo, analisando os diferentes contextos ecológicos e geográficos envolvidos nesse processo. Os dados foram filtrados e georreferenciados para gerar mapas de distribuição. A análise considerou fatores como clima (utilizando a classificação de Köppen-Geiger) e tipo de habitat. O software QGIS foi utilizado para a visualização e análise espacial dos dados. A análise de registros históricos e recentes revelou uma distribuição geográfica surpreendentemente ampla para a espécie, que se estende além de sua região nativa. A distribuição da espécie em regiões tropicais da América do Norte, América do Sul, Ásia, Oceania e ilhas do Pacífico indica que sua dispersão foi impulsionada pelo comércio internacional, turismo e pela alteração de habitats (desmatamento), sugerindo uma distribuição Pantropical. A invasão de áreas de vegetação nativa por Brillantaisia lamium representa uma ameaça significativa para a biodiversidade. Compreender os mecanismos de dispersão dessa espécie e seus impactos ecológicos é fundamental para a conservação de ecossistemas naturais e o desenvolvimento de medidas eficazes de controle.
Santos enfrentou problemas históricos de saneamento, que foram parcialmente resolvidos pelo sistema de canais construído no início do século XX, melhorando a saúde pública e permitindo o crescimento urbano; no entanto, a expansão do porto e da população sobrecarregou o sistema, resultando na poluição das praias. Intervenções recentes buscam melhorar a qualidade da água, e os canais hoje abrigam várias espécies de peixes cuja distribuição varia conforme as estações e a proximidade com o mar. O estudo realizado nos canais examinou a diversidade de peixes em sete pontos ao longo do ano, registrando 8.337 indivíduos, sendo 95% da família Poeciliidae. A maior abundância foi observada no canal 1, enquanto o canal 5 teve a menor. A diversidade foi mais alta no canal 4 e mais baixa no canal 1, com maior semelhança na distribuição entre os canais 1 e 2. Espécies adaptáveis dominam as áreas urbanas, enquanto as sensíveis são menos frequentes, evidenciando que ambientes urbanos com variações de salinidade e profundidade sustentam maior diversidade. A pesquisa sugere que a identificação de espécies tolerantes à urbanização pode auxiliar na conservação, embora reconheça limitações devido ao foco restrito e à falta de dados de longo prazo. Os resultados destacam que, enquanto espécies generalistas predominam em áreas urbanas, ambientes menos alterados apresentam maior diversidade, o que enfatiza a importância da heterogeneidade dos habitats para a conservação da fauna aquática. A necessidade de estratégias que equilibrem o desenvolvimento humano e os ecossistemas naturais, além de políticas públicas integradas que abordem aspectos ecológicos e sociais, é crucial, pois a conservação dos ecossistemas aquáticos urbanos é essencial para a biodiversidade e a qualidade de vida urbana. Futuros estudos devem focar em estratégias de manejo sustentável para conservar a fauna aquática nas áreas urbanas, visando mitigar os impactos da urbanização e preservar a biodiversidade e os serviços ambientais essenciais.
Os impactos causados pelas mudanças climáticas nos últimos anos em Zonas Costeiras urbanas são retratados em diversos estudos ao redor do mundo. Entretanto, estudos voltados para avaliação de áreas costeiras não ocupadas por populações humanas ainda são escassos. Considerando a importância da manutenção destas áreas protegidas e a necessidade de compreendermos sua exposição ao cenário atual de mudanças climáticas, este estudo teve como objetivo analisar a evolução da linha de costa e da cobertura vegetal costeira em três setores localizados dentro de Unidades de Conservação no litoral sul do estado de São Paulo, entre os anos de 2018 e 2023. Nossa hipótese central postulou que essas áreas, aparentemente protegidas, estão atualmente suscetíveis a intensos processos erosivos. Para mapeamento de linha de costa e cobertura vegetal costeira foram obtidas imagens do satélite SENTINEL-2. As linhas de costa foram mapeadas através do Software CoastSat. A cobertura vegetal costeira foi mapeada através do cálculo do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), no Software QGIS. A análise dos dados se deu através do Software QGIS. Para avaliação das variações de linhas de costa foram calculadas as taxas de Net Shoreline Movement (NSM) e End Point Rate (EPR). Para avaliar variações da cobertura vegetal costeira, realizamos o cálculo da diferença de NDVIs. Os três setores analisados apresentaram, no ano de 2023, em comparação a 2018, mais de 70% dos transectos com valores de NSM negativos e média EPR inferior a -2,00 m/ano, indicando uma tendência geral de erosão muito alta nos setores. Mais de 70% da extensão da linha de costa recuou em direção ao continente. O balanço entre perdas e ganhos de superfície de faixa de praia foi negativo, assim como o balanço entre supressão e acreção da cobertura vegetal. Os resultados corroboram com nossa hipótese central, destacando a vulnerabilidade desses setores a intensos processos erosivos. Apesar das limitações inerentes ao monitoramento de Zonas Costeiras remotas, destacamos a importância de uma supervisão constante dessas áreas, visando a identificação das causas dos impactos e o desenvolvimento de planos de gestão eficazes para preservar esses ecossistemas dinâmicos e em constante transformação. Estudos futuros devem concentrar esforços na compreensão das causas subjacentes desses impactos, proporcionando insights cruciais para a implementação de estratégias de conservação mais efetivas
Este estudo investigou a influência de borda na composição e estrutura da comunidade arbórea em fragmentos de vegetação de restinga no Parque Estadual da Restinga de Bertioga, SP. O objetivo principal foi comparar características vegetativas entre áreas periféricas e centrais de dois fragmentos florestais, focando na composição de espécies arbóreas. A metodologia envolveu o levantamento florístico usando o método de parcelas em áreas de borda e interior florestal, com dados coletados de setembro a dezembro de 2023. As parcelas foram percorridas para identificar a presença de espécies arbóreas, sua abundância, altura e diâmetro à altura do peito (DAP). Os resultados revelaram um total de 44 espécies nos fragmentos distribuídas em 22 famílias, com predominância da família Myrtaceae. Observou-se uma tendência de aumento na abundância e no DAP das árvores à medida que a distância da borda aumentava, indicando uma influência significativa da borda na estrutura vegetativa. Os resultados mostraram padrões de distribuição de espécies que afetam a dinâmica da vegetação. Destacamos a necessidade de estudos adicionais para melhor compreender as influências de borda e sugerimos estratégias para mitigar impactos negativos por meio de uma gestão mais eficaz do ecossistema. Em conclusão, o estudo evidencia a relevância da influência de borda nas características vegetativas dos fragmentos florestais de restinga, conforme a distância em relação a borda; já com relação ao habitat (borda e interior florestal) não houve relação significativa e ressalta a importância da conservação dessas áreas, que são críticas para a biodiversidade e o equilíbrio ecológico. Recomenda-se intensificação de esforços de fiscalização e gestão para proteger esses ecossistemas sensíveis da pressão antrópica e dos efeitos da urbanização. E também sugerimos mais estudos com relação a influência de borda e seus limites na vegetação de restinga.
O material particulado atmosférico (MPA) pode contaminar ecossistemas aquáticos devido à precipitação contínua (material particulado atmosférico sedimentável, MPAs). O bivalve marinho Perna perna é um potencial alvo do MPAs em áreas contaminadas por ser um organismos séssil e filtrador. Este estudo investigou a bioacumulação de metais e metalóides nos tecidos moles, parâmetros fisiológicos, metabolismo energético,e a resistência da concha de P.perna expostos à diferentes concentrações do MPAs em diferentes tempos. Hipotetizamos que a bioacumulação de metal e metalóides provenientes do MPAs nos tecidos moles do mexilhão será dependente da concentração e do tempo, enquanto as respostas biológicas estarão relacionadas com a presença desses elementos nos tecidos moles. Assim, foram realizadas exposições semi-estáticas (2, 4, 7, 15 e 30 dias) em diferentes concentrações (0,01; 0,1; 1 g L-1 ) do MPAs. A Bioacumulação de metais e metalóides na água e nos tecidos moles; glicose, lactato, íons (Na+ , K+ , Cl- , Ca2+ e Mg2+) no plasma, osmolalidade na hemolinfa; atividades das enzimas: Na+ , K+ ATPase (NKA); H+ATPAse (VHA), anidrase carbônica (AC) e Ca2+ATPase nas brânquias, e o ensaio de resistência da concha em relação à exposição ao MPAs foram avaliados. A bioacumulação foi dependente do metal/metalóide nas diferentes concentrações de MPAs, mas não aumentou progressivamente em relação ao tempo de exposição. Zn e Ba em 0,01g L-1 ; Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, e Cd em 0,1 g L-1 ; e Ni, Fe e Zn em 1 g L-1 , apresentaram aumentos significativos em relação ao controle. O tempo de exposição e as concentrações do MPAs não causaram alterações na glicose, lactato, Na+ , Cl- , e Mg2+ plasmáticos e osmolalidade na hemolinfa, tampouco na resistência da concha. No entanto, as atividades das enzimas branquiais (NKA, VHA, CA e Ca2+ATPase) e as concentrações de Ca2+ e K+ na hemolinfa variaram com o tempo e o tratamento. O Cd apresentou correlações com a osmolalidade; o Sr com K+ ; e o Rb com Na+ , NKA e CA. Nossos resultados sugerem que os elementos provenientes do MPAs, podem alterar os sítios ativos e passivos das brânquias, causando alterações iônicase a bioacumulação Perna perna
Nas últimas duas décadas, especial atenção tem sido dada à contaminação ambiental por fármacos. Classificados como poluentes ambientais de preocupação emergente, estas substâncias apresentam considerável potencial de indução a efeitos biológicos adversos, especialmente em ecossistemas aquáticos. A presença dessas substâncias no ambiente aquático pode interferir significativamente na fisiologia, metabolismo e comportamento das espécies, sendo de extrema importância o conhecimento dos possíveis danos ambientais causados por estas substâncias. Neste cenário, a utilização de modelos preditivos têm sido amplamente utilizados na investigação da presença de fármacos em ecossistemas aquáticos, especialmente considerando a rota de descarte de efluentes gerados à partir de estações de tratamento de esgoto. Partindo deste contexto, o presente estudo teve como objetivo estimar as concentrações ambientais (Concentração ambiental estimada, CAE) de 14 medicamentos antirretrovirais (ARVs) utilizados no manejo da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), na área de influência do emissário submarino do município do Guarujá (São Paulo, Brasil) e, prever através da Avaliação de Risco Ecológico (ARE), os potenciais riscos agudos e crônicos destes ARVs, considerando três organismos representantes de diferentes níveis tróficos: produtor (alga), consumidor primário (Daphnia) e consumidor secundário (peixe). Os dados obtidos no presente estudo revelaram que as CAE para os 14 ARVs superaram o limite de 0,01 µg/L estabelecido pelo documento da Agência Europeia de Medicamentos (EMEA). Os resultados obtidos na ARE revelaram que nove dos quatorze ARVs avaliados apresentam risco agudo alto para os três níveis tróficos testados, evidenciando riscos dos ARVs para as espécies aquáticas. Os resultados obtidos embora preditivos, demonstram um risco ambiental dos ARVs para os organismos aquáticos, e poderão fornecer subsídios para a adoção de programas de monitoramento dos ARVs em áreas costeiras.
2022
A poluição marinha por materiais plásticos vem aumentando no mundo, chegando às atuais 12 milhões de toneladas/ano. Nesse contexto, os conceitos da chamada Economia Circular (EC) vêm ganhando novos estudos, especialmente no que diz respeito à reutilização dos petrechos de pesca – hoje produzidos com matérias primas sintéticas – que se perdem ou são descartados no mar. Esses equipamentos são considerados a forma mais perigosa de detritos marinhos, configurando o que se convencionou chamar de “pesca fantasma”. A EC propõe algumas soluções para o problema, como redução de material utilizado, novo design que possibilite o reuso (Ecodesign), adoção da “química verde” (que não afeta o ambiente) e criação de um Sistema Produto-Serviço (Product-Service System – PSS), fazendo com que pescadores passem de proprietários de bens a usuários de serviços. No entanto, iniciativas de caráter econômico foram, ao longo dos anos, tradicionalmente vistas pela comunidade científica como predatórias e pouco conectadas aos valores sustentáveis, gerando desconfiança. A pesquisa, realizada em 2021, procura entender quais as proposições da EC para o problema dos petrechos de pesca perdidos ou descartados no mar, e investiga o quanto essas ideias são conhecidas e acolhidas pela comunidade científica ligada aos estudos marinhos. Os dados foram coletados através de dois questionários distintos produzidos na plataforma digital Google Forms e destinados a públicos diferentes. Foram entrevistados 52 experts em EC - pesquisadores da área com sólida atuação conceitual, acadêmica e/ou profissional, e 88 pesquisadores das ciências marinhas, com atuação na pesquisa, docência e consultoria, a respeito da divulgação das ideias circulares no Brasil, sobre a gravidade do problema do descarte e perda de petrechos de pesca no mar, propostas da EC nas áreas de políticas públicas, gestão empresarial, educação ambiental e investimentos em tecnologia. De acordo com os entrevistados, os conceitos ligados à EC ainda são relativamente recentes e sua divulgação segue restrita. Uma troca de experiências e conhecimentos entre diferentes setores e atores pode ser oportuna para que a EC se torne uma possibilidade concreta na resolução de problemas ambientais. Contudo, é necessário testar a adesão dos pescadores às ideias circulares, para uma compreensão do valor desses conceitos neste grupo específico.
A sociedade atual adotou uma cultura de consumo desenfreado de plásticos. Esse consumo tem sido um dos principais motivos da crescente preocupação ambiental devido à grande quantidade dos resíduos gerados. O principal problema causado por esses resíduos é a poluição nos ambientes marinhos e esses são os mais vulneráveis, pois estão mais expostos às fontes de lixo. Esses materiais se fragmentam e se desintegram em pequenas partículas denominadas microplásticos e estão entre os contaminantes mais prejudiciais que inundam os oceanos. Essas partículas possuem um grande potencial para acumulação e transporte de contaminantes que estão presentes no meio, devido à sua natureza orgânica que permite a adsorção de compostos hidrofóbicos, como o benzo(a)pireno, um contaminante ambiental persistente, que pode ser absorvido pelas vias de exposição oral, inalatória e dérmica. Muito pouco se sabe sobre os efeitos combinados dos microplásticos e contaminantes químicos sorvidos nestas partículas, bem como suas relações com a toxicidade. Desta forma, é importante que se investigue mais profundamente quais são os efeitos da interação entre microplásticos e substâncias orgânicas hidrofóbicas altamente tóxicas. Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a toxicidade dos compostos BaP e MP, isolados e em mistura, em dois modelos biológicos (Mysidopsis juniae e Echinometra lucunter), através de ensaios agudos e crônicos e respostas de biomarcadores de efeito. Para tanto, os organismos foram expostos a seis concentrações de BaP em água, na presença e na ausência de microplásticos em três concentrações. Os resultados foram analisados estatisticamente por meio da Análise Permutacional de Variância (PERMANOVA” main test”), univariada e bifatorial, considerando dois fatores fixos: tratamento (BaP isolado e BaP associado a MP) e concentração. As larvas pluteus se mostraram sensíveis ao benzo(a)pireno. O valor da EC50 sobre o desenvolvimento embriolarval foi de 13,0 µg/L nos tratamentos de BaP isolado e 11,8 µg/L nos tratamentos de BaP associado a MP. Já o Mysidopsis juniae se mostrou resistente aos contaminantes. Nos tratamentos com maior concentração de microplástico, foram observadas diferenças em relação ao efeito sobre os organismos expostos, sendo que para ouriço-do-mar, o desenvolvimento larval foi menos afetado e nos ensaios com Mysidopsis juniae, a mortalidade também foi reduzida. Nos ensaios com biomarcadores, também foi possível observar uma queda dos danos em DNA e estresse oxidativo nos tratamentos com maior quantidade de microplástico. Os resultados do presente estudo evidenciam que os microplásticos alteram a toxicidade do BaP na água do mar. Foi possível observar que a magnitude dos efeitos negativos do BaP é dependente da concentração do microplástico presente no meio. Assim, nossos dados evidenciam, pioneiramente, efeitos interativos entre microplástico e o BaP para os organismos testados (Mysidopsis juniae e Echinometra lucunter), contribuindo para elucidar o fenômeno da exposição conjunta de organismos marinhos a microplástico e outros contaminantes
O presente estudo visou avaliar a qualidade ambiental de alguns setores de praias atingidas pela contaminação de óleo ocorrida no ano de 2019 no litoral do estado de Alagoas, em uma região de alta relevância ecológica composta por estuários, praias, recifes de corais e manguezais que juntos formam a APA Costa dos Corais. Segundo dados da WWF Brasil, esta é a Unidade de Conservação com maior número de pontos de contaminação no nordeste do Brasil. Ações de mapeamento, coletas, análises ecotoxicológicas e análises químicas de amostras coletadas em 2019 estabeleceram uma visão holística dos impactos nos ecossistemas afetados. O método proposto para determinar a qualidade ambiental ofereceu resposta para duas questões importantes em estudos de avaliação da qualidade ambiental em sistemas aquáticos contaminados: Quais são os locais contaminados e os níveis dos contaminantes? Quais são os efeitos biológicos adversos no ecossistema? Os resultados denotam que a biota local foi impactada por um gradiente de ação contaminação por diversos Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos que foram detectados na análise química do sedimento e em amostras de corais. Além disso, a intensidade do efeito tóxico de sítios específicos variou em relação aos locais e aos ensaios utilizados. Os organismos mais sensíveis foram os embriões de ouriço do mar e as regiões mais externas da APA exibiram maior efeito tóxico. Por se tratar de compostos mutagênicos de alto peso molecular, os quais representam grande potencial tóxico à vida marinha local e considerando o potencial risco de impacto em diversos níveis tróficos da biota marinha, recomenda-se que sejam articuladas ações de remediação, recuperação e monitoramento ambiental que busquem mitigar os potenciais impactos ambientais.
Efeitos combinados da exposição a microplásticos e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH): Alterações bioquímicas e histológicas nas espécies neotropicais Astyanax lacustris A contaminação de ambientes aquáticos por partículas plásticas e petróleo e seus derivados é uma realidade. Suas presenças nesses ambientes ocorrem de forma individual e em associação. Microplásticos (MP), com tamanhos variando entre 0,05 e 0,5 cm, são os MP mais encontrados no ambiente aquático. Por outro lado, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) são considerados a porção mais tóxica e lipofílica do petróleo e seus derivados. Estudos avaliando a contaminação dos ambientes marinhos por esses contaminantes são abundantes, por outro lado, poucos são os trabalhos que avaliaram seus efeitos em ambientes dulcícolas. A espécie de peixes Astyanax lacustris, popularmente conhecida como lambari-do-rabo-amarelo, são sensíveis à contaminação ambiental, sendo comumente utilizados como biondicadores. Dessa forma, o presente projeto tem como objetivo avaliar a toxicidade dos MP e dos HPA, sozinhos ou em combinação, por meio da análise dos danos causados por falhas nos sistemas de biotransformação em órgãos alvo (carbonilação de proteínas) e alterações histológicas hepáticas. Foram encontradas histopatologias hepáticas de grau I e II, sendo elas, vacuolização, desarranjo dos cordões hepáticos e deformação do contorno hepático. Em relação a proteínas carboniladas foram encontradas altas concentrações delas nos tratamentos com HPA. Os danos hepáticos encontrados podem ser relacionados com estresse oxidativo sofrido pelos organismos, causado pelos poluentes a qual eles foram expostos. Conclui-se que HPA é um contaminante que gera dano hepático devido ao estresse oxidativo causado nos espécimes de A. lacustris. MP não altera sua a toxicicidade do HPA, mas possui capacidade de adsorção do mesmo.
O petróleo e seus derivados altamente poluentes são responsáveis por grandes impactos negativos nos oceanos. Os oceanos são de suma importância para a existência de todas as espécies de vida na Terra. Dos mais variados resíduos e poluentes nas águas dos oceanos poucos causam tantos problemas e impactos negativos quanto o petróleo e seus derivados. Existem diferentes métodos analíticos para análise de óleos e graxas no qual podem ser separados em duas classes: procedimentos integrais e procedimentos diferenciais. Cada um desses métodos analíticos pode analisar totalmente ou parcialmente os poluentes nas águas oriundas de um acidente envolvendo derivados de petróleo, alguns demandam muito tempo, geram muitos resíduos, alto custo por amostra quando comparada a uma análise por espectroscopia óptica. O presente estudo teve como objetivo avaliar uma metodologia baseada na técnica de espectroscopia Raman para análise e quantificação de óleo lubrificante sintético e óleo combustível diesel em águas salinas visando a preservação e recuperação da qualidade da água do meio ambiente. A metodologia utilizada por meio da técnica de espectroscopia Raman foi capaz de detectar a presença de óleo lubrificante sintético em águas salinas nas concentrações de 25,6 mg/L a 307,4 mg/L, com intensidade Raman de 9,1 a 246,4 unidade arbitrária, e picos Ramam 1.442 cm-1 a 1.444 cm-1, com equação de regressão linear y= 0,8466.x - 11,001 e R2= 0,9981, e também, de óleo combustível diesel S 10 nas concentrações 16,8 mg/L a 205,4 mg/L, com intensidade Raman de 6,9 a 163,4 unidade arbitrária, e picos Raman 1.441 cm-1 a 1.446 cm-1, com equação de regressão linear y= 0,816.x – 3,2316 e R2= 0,9984. A metodologia se mostrou adequada para as análises de óleo lubrificante sintético e óleo combustível diesel S10 em águas salinas sendo possível comparar com o limite de 20 mg/L para óleos de origem mineral e de até 100 mg/L para as substâncias solúveis em hexano (óleos e graxas) conforme as condições e padrões de lançamento de efluentes preconizados pela resolução do CONAMA nº 430/2011. Os resultados obtidos nesse trabalho abrem novas perspectivas para a utilização da espectroscopia Raman em análises ambientais
Os modelos preditivos têm sido mundialmente utilizados como uma importante abordagem para investigar a presença dos fármacos nos ecossistemas aquáticos, principalmente em decorrência do descarte de efluentes gerados por Estações de Tratamento de Esgoto (ETE). Partindo deste contexto o objetivo geral deste estudo foi estimar as concentrações ambientais e os potenciais riscos ecológicos de quatorze medicamentos antirretrovirais (ARV) utilizados no tratamento da imunodeficiência humana (HIV), e que são comumente lançados nos ecossistemas aquáticos de Cubatão, através de duas ETE, nomeadamente as ETE Lagoa e ETE Casqueiro. Desta maneira, os objetivos específicos foram: (i) Calcular a Concentração Ambiental Estimada (CAE) dos quatorze ARVs, de acordo com as diretrizes da Agência Europeia de Medicamentos (EMEA); (ii) Prever, através da Avaliação de Risco Ecológico (ARE), os potenciais riscos agudos e crônicos destes ARVs, considerando três níveis tróficos: algas, crustáceos e peixes; (iii) Criar uma lista de priorização dos ARVs mais tóxicos, a partir das propriedades intrínsecas destes compostos, ou seja: persistência (P), bioacumulação (B) e toxicidade (T). Os parâmetros PBT foram obtidos através do método de modelagem Relações Estrutura-Atividade (QSAR), e estimados no programa EPI Suite, desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA). Os resultados indicaram que os quatorze ARVs (faixas de CAE entre 0,05 e 20,29 µg/L) excederam os limites de segurança ecológica estabelecidos pela diretriz da EMEA (CAE > 0,01 µg/L). Após a realização da ARE, os resultados demostraram a seguinte tendência: (i) 71,43% das avaliações indicaram risco agudo alto para os três níveis tróficos testados. Já com relação a toxicidade crônica, 57,14% das avaliações também indicaram altos riscos. O ranking final dos ARVs mais tóxicos ficou assim estabelecido: 1ª colocação, Lopinavir e Ritonavir (prioridade máxima, altamente persistentes, bioacumulativos e tóxicos); Maraviroque (2ª colocação); Efavirenz, Darunavir, Dolutegravir e Zidovudina (todos na 3ª colocação); Atazanavir, Etravirina e Nevirapina (todos na 4ª colocação); Abacavir, Raltegravir e Tenofovir (todos na 5ª colocação) e, por fim, a Lamivudina, que indicou a menor preocupação ambiental. Os dados obtidos poderão fornecer subsídios para o planejamento de ações visando a melhoraria da qualidade dos ecossistemas costeiros e marinhos do país. Essas ações devem envolver a implementação de programas de monitoramento ambiental para o rastreamento dos antirretrovirais nas áreas costeiras
Dividir uma comunidade em grupos permite entender melhor como as espécies são distribuídas de uma forma mais replicável, mas também é importante quantificar a importância desses grupos e espécies. A partição da diversidade beta torna isso possível, por meio da medição da contribuição das espécies para a diversidade beta (SCBD) e da contribuição local para a diversidade beta (LCBD), tornando viável não apenas investigar a importância das espécies para o ambiente, mas também medir o grau de singularidade de cada local. Por esse motivo, calculamos os valores de LCBD e SCBD relacionados a assembeia de peixes marinhos da Baía de Ubatumirim, com o objetivo de entender como diferentes grupos de habitat contribuem para a diversidade beta e buscando relacionar a singularidade de cada local de amostragem às suas características. A ictiofauna foi amostrada com rede de arrasto, em seis pontos de diferentes profundidades. As 95 espécies foram classificadas em cinco grupos de habitat, mas não houve diferença significativa de SCBD entre os grupos. Enquanto isso, a Ilha das Couves apresentou uma maior contribuição local para a diversidade beta quando comparada com os outros locais amostrados, e uma regressão beta encontrou uma relação significativa dos valores de LCBD com a diminuição do diâmetro médio do sedimento. Além disso, nossos achados demonstram que os padrões para SCBD foram semelhantes aos da literatura. No entanto, o LCBD apresentou relação positiva com a riqueza funcional, não havendo relação significativa com a riqueza de espécies, diferente do que é comum em outros estudos, mas um padrão que tem sido observado em ambientes marinhos. No geral, notamos que a Ilha das Couves abriga uma composição única de peixes, provavelmente com uma maior complexidade ambiental, atuando como um filtro ambiental. O perfil de diversidade apresentado funciona como uma ferramenta de conservação, apoiando a gestão e permitindo testar futuramente a eficácia da Área de Proteção Ambiental Marinha.
2020
Atualmente são executados diferentes tipos de construções de píeres, porém nas estacas, as técnicas utilizadas se limitam ao concreto estrutural aparente. Ataques de organismos incrustantes e as variações de maré têm um papel fundamental no desgaste superficial dessas estruturas de atracação. Tendo em vista tais fenômenos, e constantes recuperações estruturais, os terminais marítimos adotaram o uso de tintas antiincrustantes e/ ou impermeabilizantes utilizadas em embarcações e construções convencionais, que foram adaptadas para estruturas fixas de concreto armado expostas à água do mar. O presente trabalho visou avaliar os efeitos toxicológicos causados em ostras da espécie Crassostrea brasiliana expostas a estacas pintadas com tinta impermeabilizante Weber em aquários com salinidade, temperatura e alimentação controladas. No T0 e após 48 horas de exposição, foram avaliadas a biometria, mortalidade e o estado de saúde dos organismos através do ensaio do tempo de retenção do corante vermelho neutro. Os resultados indicam diminuição da estabilidade da membrana lisossômica, sugerindo estresse fisiológico severo, entretanto não houve mortalidade no período avaliado.
Os manguezais perpassaram da condição de lugar inóspito a ecossistemas produtivos, de valor ecológico e econômico; embora a legislação ambiental tenha evoluído de forma significativa, ainda tem se mostrado pouco eficaz na prática em algumas regiões brasileiras. O objetivo do presente estudo foi verificar o perfil da distribuição das espécies vegetais, alterações na estrutura do solo e nos parâmetros que atestam a qualidade da água em manguezais periurbanos às margens do Rio Itanhaém, no município de Itanhaém (São Paulo, Brasil). Os resultados obtidos neste estudo, realizado entre os anos de 2017 a 2019, foram comparados com os estudos conduzidos na mesma área entre os anos de 1996 e 1998 por Quiñones e Perez Filho, refletindo numa comparação de quase duas décadas de incremento na urbanização, em face do aumento populacional de 31% entre 1997 e 2017. Foram identificadas as espécies arbóreas, contado o número de árvores adultas e medido seu diâmetro à altura do peito (DAP), nas 9 parcelas, calculando a densidade relativa, dominância relativa, frequência relativa e o índice de valor de importância para cada espécie. Foi coletada uma amostra de solo em cada estação de coleta, à cerca de 20cm de profundidade para determinação de granulometria e de matéria orgânica. Esta pesquisa também proporcionou o estudo de indicadores de presença de esgoto doméstico in natura no mesmo ecossistema através da análise microbiológica e físico-química das águas, em vários pontos do Rio Itanhaém. O estudo focou principalmente nas parcelas próximas a descarga de afluentes que recebem esgoto doméstico (Rio do Poço e Ribeirão Campininha) e duas outras próximas às estações de tratamento de esgoto (ETE Guapiranga e Anchieta). Nas estações de coleta estudadas foram encontradas três espécies típicas de mangue: Rhizophora mangle, Avicennia schaueriana e Laguncularia racemosa. As avaliações sugeriram que houve alteração da composição de espécies arbóreas nas parcelas estudadas por Quiñones, especialmente naquelas mais próximas ao Rio Itanhaém. Os resultados das análises de sedimento demonstraram incremento de matéria orgânica no solo das estações de coleta; e as análises da qualidade das águas nos diferentes pontos de coleta mostraram resultados em desacordo com os parâmetros estabelecidos pelas Resoluções CONAMA 357/05 e 274/00. Os resultados permitiram verificar que a velocidade com que vem se processando a expansão e especulação urbana nas cidades litorâneas tem levado a uma degradação do ecossistema manguezal e entende-se que seja da maior importância haver o monitoramento da vegetação litorânea.
Nas últimas duas décadas, especial atenção tem sido dada a contaminação ambiental por fármacos. Classificados como poluentes ambientais de preocupação emergente, estas substâncias apresentam considerável potencial de indução a efeitos biológicos adversos, especialmente em ecossistemas aquáticos. A presença dessas substâncias no ambiente aquático pode interferir significativamente na fisiologia, metabolismo e comportamento das espécies, sendo de extrema importância o conhecimento dos possíveis danos ambientais causados por estas substâncias. O presente trabalho teve como objetivo estimar a concentração de fármacos antirretrovirais (ARVs) utilizados no tratamento de HIV/AIDS nas águas superficiais no entorno do emissário submarino de Santos, litoral do Estado de São Paulo, bem como avaliar os possíveis efeitos biológicos adversos por meio de ensaios de toxicidade para avaliação de efeitos agudo e crônico, empregando como organismo modelo o ouriço-do-mar (Echinometra lucunter). Foram calculadas as concentrações ambientais estimadas (CAE) para treze antirretrovirais, de acordo com a diretriz da EMEA (CHMP, 2006). Foram realizados ensaios de toxicidade aguda e crônica para três antirretrovirais selecionados: atazanavir (ATZ), efavirenz (EFV) e nevirapina (NEV), de acordo com os protocolos da USEPA (2002) e a norma ABNT NBR 15350 (2012). Os resultados obtidos no presente estudo revelaram valores de CAE superiores ao limite (0,01 µg/L) imposto pela diretriz da EMEA (CHMP, 2006) para 92,3% dos ARVs estudados. Os resultados dos ensaios de toxicidade aguda demonstraram valores médios de CI50 de 73,04 mg/L para ATZ; 11,46 mg/L para EFV; 84,61 mg/L para NEV, sendo então os três fármacos classificados como “nocivos” de acordo com a Diretiva 93/67/CEE. Na avaliação do efeito crônico, foram observados valores médios de CEO, CENO e CI50 respectivamente de 0,78 mg/L, 0,39 mg/L e 0,63 mg/L para o ATZ; 0,195 mg/L, 0,0975 mg/L e 0,52 mg/L para o EFV; 0,39 mg/L, 0,195 mg/L e 0,97 mg/L para a NEV, sendo as três substâncias classificadas como “muito tóxico”, de acordo com a Diretiva 93/67/CEE. Os dados obtidos poderão fornecer subsídios para avaliações de risco ambiental e para a adoção de programas governamentais e regulamentação desses fármacos que visem o monitoramento dos níveis desses fármacos em Estações de Tratamento de Efluentes e corpos receptores, buscando soluções que propiciem a redução/eliminação da carga poluidora em ecossistemas costeiros e marinhos.
Os robalos são muito procurados por pescadores esportivos e por consumidores de maneira geral, no entanto, poucas informações sobre a exploração deste recurso estão disponíveis. Os robalos são oportunistas e exploram presas abundantes em seu ambiente. Dessa forma, esta pesquisa analisou a alimentação de duas espécies de robalos (Centropomus parallelus e Centropomus undecimalis) capturados pela atividade pesqueira na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una (SP). Foram capturados 216 exemplares de C. parallelus e 25 exemplares de C. undecimalis entre julho de 2017 a agosto de 2018, através de pescadores colaboradores artesanais e esportivos, residentes e visitantes, na RDS da Barra do Una. Foram encontrados 48 itens no trato gastrointestinal de C. parallelus, sendo 66,43% pertencentes a Classe Osteichthyes; 32,26% Malacostraca e 1,28% à outras Classes. Já para C. undecimalis, foram encontrados 34 itens no trato gastrointestinal, sendo 91,40% pertencentes a Classe Osteichthyes; 7,87% Malacostraca e 0,73% à outras Classes. Foram avaliados os aspectos sazonais e ontogenéticos para ambas as espécies. Fatores bióticos e a disponibilidade de recursos alimentares no estuário influenciam quais tipos de presas os robalos consomem durante diferentes estágios ontogenéticos, bem como que tipos de presas eles consomem sazonalmente, na RDS da Barra do Una.
O combate e fiscalização do tráfico de aves silvestres geram um quantitativo de animais que, via de regra, são encaminhados para os centros de triagem de animais silvestres (CEPTAS), o que favorece doenças e zoonoses. A clamidiose é uma enfermidade causada por parasito intracelular obrigatório, Chlamydophila psittaci, um coco bacilo gram-negativo, que infecta aves silvestres e domésticas, mamíferos domésticos e o homem, quando estes têm contato com secreções e excreções de animais portadores. O agente etiológico da enfermidade pode permanecer viável durante longo período em secreções secas de animais, ou por vários dias em água à temperatura ambiente. A principal via de transmissão entre as aves é a aerógena, através da inalação de excreções secas, ou secreções oculares e nasais dos animais infectados. Esta interação do homem e aves domésticas e silvestres aumenta a probabilidade de transmissão de doenças. Os objetivos do presente estudo foram: (i) elaborar um diagnóstico da fauna silvestre, apreendida e, encaminhada aos CEPTAS de Cubatão SP, Brasil, e (ii) verificar a ocorrência de clamidiose aviária, em papagaios-verdadeiros durante o ano de 2019; (iii) salientar o papel e disseminação da doença na vida silvestre e a importância da clamidiose aviária na saúde humana. Foram avaliados clínica e laboratorial 31 espécimes, de Amazona aestiva, adultos, procedentes de apreensões ocorridas nas regiões Sudeste, e os resultados revelaram o grupo experimental foi diagnosticado saudável e negativos para clamidiose em exposição ao exame de PCR. Contudo esta relação entre o homem e as aves, sugere maiores estudos e esforço de monitoramento, visto que as zoonoses bacterianas apresentam alto impacto na saúde pública e na conservação da biodiversidade.
A Reserva Extrativista Alto do Juruá foi criada em 1990, a partir de demandas do Conselho Nacional de Seringueiros. Entretanto, o número de trabalhos produzidos nesta região é ainda escasso dada a importância desta ser a primeira RESEX do País. Este estudo teve como objetivo analisar a relação das comunidades ribeirinhas da RESEX Alto Juruá com o meio aquático através de dados coletados de 1993 e 1994 e da literatura produzida até os dias de hoje. Estes dados fazem parte do relatório de viagem produzidos por Alpina Begossi, Benedito Domingues do Amaral e Renato Silvano. Parte dos resultados foram comparados com as Reservas extrativistas do Baixo e Médio Juruá, uma vez que, após 30 anos, ainda não há um plano de manejo da RESEX Alto Juruá. Os resultados mostram que a maioria da população da RESEX Alto Juruá nos anos de 93/94 não nascera no local de residência, mas dentro dos limites da RESEX; 80% da sua população era analfabeta, sua agricultura inclui a mandioca, feijão e o fumo, dentre outros (o tabaco nos dias de hoje, teve sua importância reduzida). A pecuária na RESEX Alto Juruá quando comparada com os dados de 1993/1994 aumentou em 59% com relação a dados de 2015 e a alimentação básica da população é de peixes ou carne de caça. Ainda são necessários estudos relacionados aos peixes, levando em consideração a segurança alimentar da comunidade ribeirinha: entre os peixes mais abundantes e consumidos, há o bode (Loricariidae) e o mandí (Pimelodus spp.). Foi analisado o consumo de peixes no verão e inverno (este com uma diversidade um pouco menor). O estudo ainda trata da importância da mulher na comunidade, tendo esta mostrado uma diversidade maior de peixes citados. Esse estudo conclui que tanto os peixes como a carne de caça são importantes formas de alimento para os ribeirinhos e que ideias promissoras de co-gestão pesqueira em outras RESEX localizadas no Rio Juruá podem ser adaptadas à realidade da RESEX Alto Juruá.
2018
A legislação relativa à resíduos sólidos nos Estados Unidos, Canadá e em alguns países da Europa encontra-se bastante avançada. Todos os países pertencentes à Comunidade Europeia seguem a Diretiva 96/61/CE de 1996, relativa à prevenção e ao controle integrado da contaminação. Desde 1994, foi estabelecida a Diretiva comunitária 94/67/CEE, sobre a incineração de resíduos perigosos e, neste mesmo ano, a Diretiva comunitária 94/62/CEE apresenta os parâmetros para embalagens e resíduos de embalagens. No Brasil a preocupação com questões ambientais é relativamente recente. A Resolução Conama no 313/2002 dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais, que estabelece que os resíduos existentes ou gerados pelas atividades industriais serão objeto de controle específico, como parte integrante do processo de licenciamento ambiental. A conscientização da sociedade e a legislação ambiental, tem levado as empresas a uma relação mais sustentável com o meio ambiente. O presente estudo objetivou abordar aspectos ecotoxicológicos de componentes utilizados na confecção de prótese e órteses (sulfato de cálcio, resina acrílica e catalisador), considerando aumento do número de pacientes que sobrevivem a uma amputação no Brasil e a criação de materiais específicos que aumentam a durabilidade dos esqueletos protéticos, porém sem que haja uma norma regulamentada para o controle de reciclagem e descarte de tais materiais. Foram realizados ensaios de toxicidade para avaliação de efeito agudo com Daphnia similis e ensaios de toxicidade crônica com Echinometra lucunter para cada componente citado. Os resultados obtidos para o componente sulfato de cálcio, revelaram efeitos crônicos a partir de 50 mg/L. A exposição dos organismos ao catalisador resultou em efeitos crônicos a partir de 25 mg/L e agudos em concentrações inferiores a 6,25mg/L. Nos ensaios com resina, foram observados efeitos crônicos a partir de 6,25 mg/L e efeitos agudos a partir de 12,5 mg/L. As três substâncias testadas (resina, o sulfato de cálcio e o catalisador) foram classificadas como nocivas nos ensaios de toxicidade crônica a partir dos valores de CI50, de acordo com a diretiva 93/67/CEE da União Européia. Nos ensaios de efeitos agudo, o catalisador apresentou efeitos mais tóxicos, seguido da resina (nocivo) e, o sulfato de cálcio não apresentou toxicidade nas concentrações testadas. Os resultados obtidos no presente estudo reforçam a necessidade de desenvolver maneiras mais eficazes e menos nocivas de descartar os materiais utilizados na confecção de prótese e órteses.
Diversos estudos têm apresentado concentrações significativas de medicamentos, metabólitos ou compostos sintéticos em ecossistemas aquáticos. A partir do descarte incorreto, essas substâncias podem agredir o ambiente e trazer malefícios à biota local. Atualmente muitos medicamentos fitoterápicos foram inseridos na RENAME, a fim de atender às necessidades de saúde da população brasileira, porém não existem estudos que comprovem se essas substâncias causam impactos ao ambiente. Diante do contexto, esse estudo avaliou os efeitos biológicos adversos subletais ou no desenvolvimento de organismos aquáticos, frente a concentrações distintas de vegetais da RENAME, seus marcadores de referências e princípios ativos sintéticos com as mesmas indicações terapêuticas, por meio de ensaios de toxicidade com Daphnia simils e Echinometra lucunter. Como resultado para os ensaios com Daphnia similis foram encontrados dois vegetais, cinco marcadores de referência e cinco princípios ativos sintéticos classificados como nocivos, dois marcadores classificados como tóxicos e um marcador e um sintético classificados como muito tóxicos ao ambiente. Para os ensaios com Echinometra lucunter três vegetais e oito sintéticos foram classificados como nocivos, três vegetais e seis marcadores como tóxicos e um vegetal e um marcador considerados muito tóxicos ao ambiente, de acordo com a Diretiva 93/67/CEE. Com isso, vale ressaltar que frente aos ensaios realizados, as substâncias estudadas apresentaram concentrações de efeitos significativos, com maior toxicidade para os marcadores de referência e para os princípios ativos sintéticos. A partir desses resultados, torna-se importante ressaltar a necessidade de uma atenção especial a fim de alterar a forma do descarte ou garantir um processo de tratamento específico para essas substâncias, buscando atender a legislação vigente e evitando impactos aos organismos dos ecossistemas aquáticos.
O estudo do escoamento superficial urbano é um assunto de preocupação e cuja quantidade de estudos vem aumentando em todo mundo devido às variadas fontes e tipos de contaminantes existentes já encontrados em algumas pesquisas. De acordo com Lee et al. (2004), a existência de períodos de estiagem ou períodos úmidos podem contribuir de forma significativa na presença de poluentes nas águas de escoamento superficial. Neste estudo foi avaliada a toxicidade de amostras de escoamento superficial (Runoff) coletadas em vias urbanas na cidade de Santos/SP Levou-se em consideração a sazonalidade entre os períodos seco e úmido. Foram escolhidos dois pontos distintos para coleta, sendo um deles localizado em zona portuária e o outro em zona residencial. As quatro coletas realizadas aconteceram no início e final das estações seca e úmida. Na análise dos dados de ecotoxicidade encontrados levou-se em consideração a pluviometria incidente nos pontos de coleta, devido à sazonalidade entre as estações seca e úmida, período de estiagem antecedente as chuvas e veículos nas vias. Foram realizados ensaios de toxicidade agudo e crônico com Daphnia similis e ensaios crônicos de curta duração com Echinometra lucunter (ouriço-do-mar). Os resultados mostraram que o longo período de estiagem que antecedeu a coleta no início do período seco exerceu influência na toxicidade do escoamento superficial, pois todas as amostras coletadas apresentaram toxicidade. As amostras coletadas na zona portuária apresentaram-se mais tóxicas que na zona residencial. Observou-se também contaminação por metais e amônia, que se relacionaram com a toxicidade.
Apesar da intensa urbanização, a região litorânea do sudeste brasileiro abriga ecossistemas naturais de mata atlântica, como florestas das encostas da Serra do mar, os manguezais e a vegetação da planície litorânea. Estes sistemas naturais apresentam elevados níveis de fragilidade, por serem fortemente pressionados pela ação antrópica. Pressão urbana em ambientes naturais gera desequilíbrio ecológico e por consequente impactos e alterações ambientais em suas bacias hidrográficas afetando diretamente os recursos hídricos. Este trabalho teve como objetivo avaliar as alterações ambientais sobre biótopos ribeirinhos de mata atlântica em ambientes urbanizados e costeiros, em Praia Grande-SP (município da região Litorânea do Sudeste do Brasil). Através de um Protocolo de Avaliação Rápida (PAR) foram comparados ambientes urbanizados e naturais, em três fisionomias de vegetação de mata atlântica (floresta ombrófila densa, restinga e manguezais). Os trechos em floresta ombrófila apresentaram os melhores resultados devidos aos seus altos índices de preservação. As áreas de manguezal apresentaram as pontuações mais baixas decorrentes da intensa ocupação urbana. Os ambientes de restinga apresentaram pontuações intermediárias, com ausência de alterações antrópicas nas suas áreas naturais. Porém, considerando as interferências antrópicas já consolidadas nas áreas urbanizadas, os ambientes naturais das restingas estão sujeitos à iminente degradação. Os resultados da pesquisa confirmaram que o uso da ferramenta PAR é um instrumento que se mostrou válido e eficiente para avaliar os impactos ambientais em paisagens urbanas. Os trechos das vegetações de floresta ombrófila densa, devido a maior distância do perímetro urbano tiveram melhores avaliações, diferente das vegetações de restinga e manguezal que por se encontrarem mais próximas do eixo urbano apresentaram condições mais precárias em seus hábitats.
Esta pesquisa foi desenvolvida na comunidade de Monte Cabrão, Bairro da área continental do município de Santos, litoral do Estado de São Paulo, Brasil. O local é habitado por cerca de 570 moradores, com costumes e conhecimentos particulares a respeito do uso das espécies da fauna e flora locais. O método usado foi o conhecido como “Bola de Neve”, onde os entrevistados indicam os colaboradores seguintes. Foram amostradas 27 pessoas que deram indicações para uso de recursos vegetais locais e foi feita coleta de espécimes botânicos, pelo método de “Turnê Guiada”: caminhada e coleta junto aos entrevistados, para validação dos nomes populares. Os espécimes foram levados para posterior identificação e herborização ao laboratório HUSC da UNISANTA. Para comparar os resultados com os obtidos em outros trabalhos, foi calculado o índice de diversidade de Shannon. Foram registradas 123 espécies, distribuídas em 105 gêneros e 56 famílias. Os principais usos encontrados foram o medicinal (43%) e alimentar (42%). Em relação à origem das plantas citadas foi verificado que as nativas abrangem 40,3% das indicações, naturalizadas 12,9% e exóticas 45,7%. Para as plantas de uso medicinal, foram calculados os índices de Frequência Relativa de Citações (FRC), Índice de Fidelidade Corrigido (IFc), Valor de uso (VU), Índice de Concordância de Remédios (ICR) e Soma de Valores Relativos (SVR). O índice de Shannon foi de H’= 1,94. As principais categorias de uso foram a medicinal (62,6%) e a alimentar (59,3%). As plantas nativas cobrem 40,3% das indicações, as naturalizadas 12,9% e as exóticas 45,7%. O índice de Shannon foi H '= 1,94. As plantas mais importantes, em relação à soma valores relativos, foram Psidium guajava, Plectranthus scutellarioides e Eugenia uniflora. O maior Valor de Uso foi encontrado para Allium sativum (0,19). O teste de Kruskal-Wallis não indicou diferenças significativas entre as médias da frequência relativa de citações de amostras de plantas nativas e exóticas (Hc = 0,4176; p = 0,5159). Esse levantamento apresenta dados importantes para a conservação e o resgate da cultura local e dos recursos naturais disponíveis.
A Ilha das Palmas e a Ilha do Mato, ambas localizadas no litoral paulista, município de Guarujá, são locais importantes para estudos ictiológicos recifais, pois as variáveis ambientais que as influenciam são bem distintas. O presente estudo tem por objetivo caracterizar a comunidade de peixes associados aos recifes rochosos dessas duas localidades, através do uso de um ROV (Remotely Operated Vehicle), analisando fatores bióticos e abióticos que influenciam tais comunidades. Durante a primavera (setembro a dezembro de 2017) e o outono (abril a junho de 2018) foram realizadas três campanhas aleatórias. Os vídeos foram gravados em sete transectos distintos de aproximadamente 20 m de comprimento cada e a uma distância de 20 m dos costões rochosos, totalizado 400 m2, percorridas pelo ROV em tempo padronizado de 15 minutos em cada transecto. Durante este percurso foram filmados todos os peixes que passaram pelo campo de visão da câmera. A maioria foi posteriormente identificada em laboratório em nível de espécie e algumas apenas até gênero. A complexidade do hábitat foi avaliada de acordo com o protocolo Habitat Assessment Score (HAS) para hábitats costeiros, o qual estima visualmente seis variáveis ambientais. Para tanto, 30 imagens fixas foram tomadas em intervalos de cinco segundos de cada transecto, totalizando 1.260 imagens. Cada imagem foi pontuada de acordo com as seis variáveis, perfazendo uma pontuação mínima de seis até a máxima de 30 pontos. Foram identificados 8.407 espécimes de peixes pertencentes a 51 espécies, distribuídos em 22 famílias e 12 ordens. As espécies mais abundantes foram: Abudefduf saxatilis, Anisotremus virginicus, Stegastes fuscus, Anisotremus surinamensis, Haemulon aurolineatum e Sphoeroides testudineus. Dezessete espécies foram exclusivas da Ilha das Palmas e 10 exclusivas da Ilha do Mato. Doze ocorreram apenas no outono e 10 apenas na primavera. Apesar das diferenças ambientais que caracterizam e distinguem as duas ilhas, elas não exerceram influência na diversidade de peixes, apenas a estação do ano é que foi importante, onde a diversidade (H´) do outono foi estatisticamente maior que a da primavera. A heterogeneidade ambiental da Ilha das Palmas favoreceu a riqueza e a abundância de espécies. Apesar da Ilha das Palmas ser habitada e estar localizada próxima ao canal de navegação, isso não influenciou de forma negativa na diversidade dos peixes quando comparada a Ilha do Mato que não sofre essa interferência. O ROV se mostrou muito eficiente na identificação da fauna de peixes e na caracterização da estrutura do hábitat.
O crescimento urbano de forma não planejada pode provocar mudanças climáticas de forma local e global e as Ilhas de Calor urbano (ICU) são um exemplo, tendo sido observadas em praticamente todas as metrópoles do mundo. O diagnóstico das ICU tem se mostrado um instrumento importante para a gestão do espaço urbano, na medida em que pode oferecer subsídios para projetar cidades mais confortáveis termicamente. O objetivo deste estudo foi analisar a influência da estrutura urbana na formação de microclimas ou ICU através de análises de temperaturas em campanha de campo, com duas metodologias de coleta de temperaturas: por transecto móvel de automóvel (eixo oeste-leste da Ilha) e por pontos de medição fixos com voluntários abrangendo a área de estudo, sendo que estes dados foram comparados com a Base Aérea de Santos (zona rural); cálculos de Ângulo e Fator de Visão do Céu (AVC e FVC) e com observação do Fator de Arborização (FArb) para avaliar o padrão térmico em diferentes pontos da Ilha. O FArb não apresentou diferença significativa, sendo de baixa capacidade de caracterização de ICU, apesar do importante papel da vegetação na amenização de temperatura. As características físicas do local foram mais nítidas para caracterização. O AVC apresentou a maior correlação inversa com as temperaturas, sendo um índice que auxilia por ser de rápida observação através da volumetria urbana. Foi observada uma ICU de intensidade de 6,7°C ao final do outono e de 4,1 a 4,7°C no inverno, a intensidade no restante do outono foi mais baixa, 2,7°C. O planejamento urbano das cidades deve levar em consideração a necessidade de se manter a volumetria das edificações de forma a manter um FVC e AVC satisfatório para as trocas naturais de temperaturas serem mais eficientes.
Vários estudos tem demonstrado que a condição de nossa sobrevivência no planeta está relacionada à importância de se conhecer e presenvar o meio ambiente desenvolvendo a sustentabilidade. O presente estudo tem como objetivo elaborar uma pesquisa capaz de estabelecer uma métrica para o problema da ingestão de lixo plástico pelas espécies de albatrozes utilizando a aplicação dos princípios matematicos convencionais, através da matriz de Leslie e métodos computacionais fundamentados em uma lógica não clássica. A Lógica não classica utilizada é a Lógica Paraconsistente Anotada (LPA), que em suas fundamentações e algoritmos aceita tratar dados contraditórios de modo que suas conclusões não sejam invalidadas. Neste trabalho são aplicados algoritmos extraídos de um tipo especial de Lógica Paraconsistente Anotada que é caracterizada pela utilização de dois valores evidenciais (LPA2v). Nesta técnica os sinais que recebem o tratamento pelos algoritmos paraconsistentes são obtidos a partir de medições efetuadas em amostras e são representados por graus de evidência favorável e desfavorável à proposição que estiver sob análise. Os estudos matriciais desenvolvidos são correlacionados com o tratamento de dados efetuados pela LPA2v obtendo-se o impacto causado por lixo plástico nas espécies de Albatrozes, estabelecendo-se assim, uma nova métrica baseada em matriz de Leslie e lógica paraconsistente. As análises matriciais e paraconsistentes foram realizadas através de dados obtidos por referências bibliográficas que apresentavam informações sobre a ingestão de lixo plástico por albatrozes, ou seja, o número de aves mortas cujos estômagos estavam cheios de lixo plástico. Para estimar a população de albatrozes ao longo dos anos foi utilizado um modelo de “crescimento populacional por faixa etária” e junto a esse modelo foi utilizado o índice paraconsistente obtido, sobre o grau de impacto por plásticos, para descrever a dinâmica das populações de albatrozes. Desse modo, com os resultados obtidos pode-se prever, sob o cenário apresentado, como as ações humanas interferem, no tempo de vida dessa espécie, chegando a nível global que 73% das populações de albatrozes são caracterizados por albatrozes jovens, enquanto somente 27% são adultos. Após esses resultados, foi aplicado junto a matriz de Leslie as probabilidades obtidas pela LPA2v modelando a dinâmica das populações de albatrozes caso não houvesse o impacto plástico, mostrando que o número de albatrozes adultos aumenta em 20%. Por fim, pelo teste de hipótese e Qui-quadrado foi confirmada a hipótese inicial de que os lixos plásticos impactam na probabilidade de vida dos albatrozes.
As concentrações de cocaína encontradas em ecossistemas costeiros são de preocupação ambiental por serem compostos bioativos, podendo bioacumular ou causar efeitos nocivos a organismos não-alvo como ao mexilhão marinho Perna perna. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos subletais do crack em diferentes fases da vida do mexilhão Perna perna, por meio de ensaios de fertilização, desenvolvimento embrionário e larval e estabilidade da membrana lisossomal de hemócitos em organismos adultos. Os resultados foram avaliados através do Trimmed Sperman-Karber e ANOVA seguida de Dunnett. O ensaio de fertilização apresentou concentração de efeito a 50% dos gametas expostos CE50 1h = 23,53 mg/L, enquanto a Concentração de Efeito Não Observado (CENO) foi de 10 mg/L, e a Concentração de Efeito Observado (CEO) foi 20 mg/L. Para o desenvolvimento embrionário e larval foram observados CE50 48h = 16,31 mg/L, CENO = 0,625 mg/L e CEO = 1,25 mg/L. Para a membrana lisossomal foram observados CENO = 0,5 µg/L e CEO = 5,0 µg/L. Este estudo demonstrou que o crack causou efeitos em aspectos reprodutivos do mexilhão P. perna em concentrações de cocaína acima das detectadas em ambientes aquáticos. Entretanto, a citotoxicidade foi observada em concentrações ambientalmente relevantes (µg/L), denotando risco à saúde de organismos não-alvo. Este estudo tem caráter inovador pelo ineditismo da avaliação ecotoxicológica de drogas ilícitas empregando organismos marinhos, com a detecção de efeitos deletérios do composto estudado, fator primordial para avaliação de riscos ambientais de substâncias bioativas.
Populações humanas situadas em Unidades de Conservação geralmente dispõem de conhecimento especializado no que diz respeito ao uso de recursos naturais para o tratamento de doenças. O objetivo do presente estudo foi caracterizar o uso de plantas medicinais para o tratamento de diferentes doenças na população da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una, em Peruíbe, São Paulo. Para isso, foram entrevistados 37 moradores locais, com idade igual ou superior a 18 anos, que tivessem nascido ou que morassem há mais de 10 anos na respectiva comunidade. Para identificação taxonômica posterior, o material botânico foi coletado e fotografado, utilizando a técnica de turnê guiada. As espécies sem validação farmacológica e aquelas para as quais não foram encontradas informações sobre as atividades biológicas e a composição fitoquímica nas bases científicas de dados mais relevantes, foram submetidas às análises fitoquímicas. Foram citadas 103 plantas, das quais 70 puderam ser identificadas taxonomicamente. Os moradores apresentaram conhecimento detalhado quanto ao uso de plantas medicinais, sendo que 75,68% afirmaram ter aprendido sobre o assunto com a família. A maior parte dos entrevistados (78,38%) prefere utilizar plantas medicinais ao invés de outros medicamentos para o tratamento de doenças e/ou desconfortos. As espécies citadas Tabebuia cassinoides (caxeta) e Euterpe edulis (palmito jussara) encontram-se na lista vermelha da flora brasileira, categorizadas respectivamente como “em perigo” e “vulnerável”. Com base nos achados, é possível afirmar que o uso de recursos vegetais é a principal forma de tratamento de doenças utilizadas por essa população.
O Transporte Pneumático em fase diluída é amplamente utilizado em diversas indústrias, como por exemplo as de produção de grãos de soja, milho e feijão. Porém, o deslocamento desses grãos do produtor até o porto é um dos gargalos da exportação. O transportador pneumático é um dos equipamentos que pode ser empregado para deslocar esses tipos de grãos de forma sustentável com baixa emissão de poluentes, elevadas velocidades e baixo custo comparado a outros modais de transporte. Um dos inconvenientes desta técnica é a possível quebra do material transportado. O presente trabalho objetivou quantificar a friabilidade da soja e a perda de carga em uma Unidade Piloto de Transporte Pneumático visando a sustentabilidade do processo. O sistema utilizado constituiu basicamente de um ventilador centrífugo com rotor semiaberto com diâmetro de 228 mm, duto de sucção com diâmetro de 217 mm e 11 metros de dutos de acrílico com 117 mm de diâmetro interno, diâmetro usado em processos industriais. Os grãos de soja foram introduzidos no equipamento por meio de um silo com uma válvula de rotação variável. Foram utilizadas a velocidade do ar de 3,5 m/s e vazões de soja de 95 kg/h, 368 kg/h e 564 kg/h, todas estas condições em 5 tipos diferentes de singularidades localizadas na mudança de direção horizontal para vertical na tubulação. As singularidades foram: um “tê” com prolongamento de 30 mm, um “tê” com prolongamento de 60 mm, um “tê” com prolongamento de 90 mm, um “tê” sem prolongamento e uma curva. Os resultados demonstraram que a singularidade que forneceu a menor friabilidade (menor quebra) foi o tê de saída com o máximo prolongamento, com quebra inferior a 1% e que obteve menor perda de carga para a maior velocidade de ar (4,8 m/s) e maior vazão de soja (564 kg/h). Com uma quantidade de perdas relativamente pequena, baixo custo de aquisição e operação, aliado a uma baixa emissão de poluentes e reduzida probabilidade de acidentes de trabalho, concluiu-se que o transporte pneumático trata-se de um dos meios de deslocamento estacionário mais sustentável para a movimentação da soja.
As algas formam uma comunidade no manguezal que possui grande importância ecológica. Esses organismos apresentam adaptações e resistência às grandes variações de salinidade e dessecação, além de outros fatores abióticos que podem influenciar na sua distribuição espacial e temporal. O presente estudo tem como objetivo caracterizar a ficoflora de manguezal na região sudeste, avaliar a área de recobrimento e amostrar a biomassa de macroalgas Chlorophyta e Rhodophyta nos períodos chuvoso e seco. Foram realizadas duas coletas, em fevereiro e agosto de 2017. O trabalho foi conduzido em dois bosques de manguezal no Rio Itapanhaú em Bertioga, Estado de São Paulo, onde foram estudados dois transectos de 250m (TA e TB), sendo T.A a montante do rio e T.B próximo à foz. As duas transecções foram divididas em quatro locais de amostragem, um na franja do manguezal, dois intermediários e um na porção final, próximo à terra firme. Em cada local obteve-se 10 amostras para estimativa de recobrimento do substrato e biomassa das algas. Foram ainda anotados os fatores abióticos salinidade, pH e luminosidade. Foram encontrados 12 táxons, sendo oito Rhodophyta e quatro Chlorophyta. Os resultados mostraram que ocorreu maior biomassa e maior área de recobrimento no período seco. Os valores de biomassa no período chuvoso e seco nas duas transecções indicaram que ocorreu predomínio de Rhodophyta em T.A onde a salinidade foi significativamente menor e predomínio de Chlorophyta em T.B onde a salinidade era maior. Os pneumatóforos representaram o tipo de substrato com maior cobertura de algas, seguido de caule e solo, com menor cobertura. Os fatores bióticos e abióticos mensurados nesse estudo, foram testados aplicando-se a ANOVA three way, mostrando que houve diferença na ocorrência das algas nos dois bosques de manguezal provavelmente influenciada pela salinidade; a abertura do dossel foi medida para estimar o potencial luminoso e verificou-se que não houve correlação entre esse fator e a distribuição espacial das macroalgas no manguezal do Rio Itapanhaú.
As invasões biológicas são apontadas como a segunda causa da perda de biodiversidade e áreas de baixa resiliência, como as Restingas, apresentam maior suscetibilidade. Esse ecossistema, no Brasil, estende-se ao longo da região litorânea, sendo principal local de assentamento desde o início da colonização europeia. Atualmente as restingas estão expostas à aglomerados de ocupação humana, especulação imobiliária, turismo e introdução de espécies exóticas. Este estudo investigou a vegetação exótica presente nas restingas do sudeste brasileiro, suas origens e as principais causas de introdução, utilizando levantamento bibliográfico, banco de dados e coletas pontuais. Foram registrados 40 táxons; destes 12 táxons são exóticos para restinga e 28 exóticos para o país. As famílias mais representativas foram Asteraceae, Fabaceae e Poaceae. Entre as espécies listadas, as invasoras distribuem-se em 11 famílias e 13 gêneros, com os representantes de Myrtaceae e Poaceae sendo mais frequentes. Os dados do registro de introdução indicam que 53% das espécies foram deliberadamente introduzidas, 18% tiveram introdução acidental e aproximadamente 30% não tem registro de introdução. A utilização econômica é a principal causa de introdução, pois 70% dos táxons são economicamente utilizados.
Este trabalho teve como objetivo analisar a produção pesqueira do camarão sete barbas no litoral do Estado de São Paulo. Os dados foram obtidos mensalmente de 2008 a 2016, através do Instituto de Pesca. Utilizou-se a gestão pesqueira como ponte para a sustentabilidade dos recursos pesqueiros, enfatizando sua realidade e seus desafios. Sendo assim, a pesca do camarão sete barbas por apresentar grande relevância econômica e social no litoral paulista, necessita de constante monitoramento visando acompanhar a manutenção dos estoques naturais. Foram apresentadas suas variáveis, suas interações e resultados do litoral sul, litoral central e litoral norte. A análise teve como resultado total do período 6866 unidades de embarcações, com aproximadamente 131.718 mil Kg de camarão sete barbas descarregados, seguido por 20.477.074 Kg de camarões pescados no litoral paulista. O objetivo deste estudo foi apresentar a real queda da produção do camarão sete barbas nesse período, mostrando os desafios da gestão pesqueira em aspectos sociais, econômicos e ambientais.
A dragagem realizada no canal de navegação do Porto de Santos é uma atividade contínua e, por sua própria natureza, é considerada potencialmente poluidora. A implantação do sistema de gestão ambiental é necessária para o setor portuário e deve ser considerada para o gerenciamento do Polígono de Disposição Oceânico – PDO da CODESP (Companhia Docas do Estado de São Paulo). O objetivo desta dissertação foi correlacionar os impactos detectados pelo programa da qualidade dos sedimentos do PDO com a qualidade dos sedimentos dragados e as informações operacionais da dragagem. Foram consideradas 279 amostras para o monitoramento da qualidade dos sedimentos do PDO, tanto nas quadrículas de descarte como nas quadrículas adjacentes e 441 amostras de sedimento superficiais e em profundidade, para a caracterização dos sedimentos a serem dragados, coletados entre julho e dezembro de 2015, nos acessos aos berços de atracação, berços e canal de navegação. Os resultados obtidos foram comparados com os valores de referência propostos pela legislação brasileira para sedimentos (Resolução CONAMA nº 454/12). A integração dos resultados das análises físicas, químicas e ecotoxicológicas obtidos durante o Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos no PDO, foi realizada com auxílio da correlação de Spearmam quando pode-se verificar o grau de significância das correlações e o índice de correlação (p<0,05), e a análise estatística multivariada através da análise de componentes principais (PCA). As análises estatísticas aplicadas elucidaram que a interpretação dos resultados não deve se restringir somente aos valores propostos pela Resolução CONAMA, e que a sinergia dos contaminantes deve ser considerada, indicando que há necessidade de análise integrada para o PDO. Apenas o volume e as análises das concentrações das substâncias químicas no sedimento não são suficientes para indicar os danos biológicos, mas são fundamentais para determinar o grau e a natureza da contaminação, além de fornecer evidências sobre as suas possíveis fontes. A quantidade de substâncias analisadas mensalmente, pela CODESP é admirável e a decisão de não disponibilizá-los para o público, com fácil acesso pela população, principalmente acadêmica, deve ser revista, pois outras análises podem apresentar novas perspectivas para a qualidade ambiental da região.
Diversas atividades extrativistas e produtivas estão associadas ao descarte inadequado de metais pesados no meio ambiente, causando danos locais e à jusante destes eventos. Na intenção de disponibilizar uma tecnologia para minimizar estes danos, foi avaliada a utilização de farinha de casca de banana como biossorvente para a remoção de íons de alumínio de efluentes aquosos. No presente estudo foi desenvolvido o processo de fabricação deste biossorvente e após os testes, foi possível estabelecer um processo simples, econômico e reprodutivo de produção da farinha da casca da banana que mostrou excelentes características como biossorvente, resultando na remoção de 97% da contaminação do íon metálico citado quando utilizado nas condições ideais (tempo de contato = 50 min, velocidade de agitação = 100 rpm, massa de biossorvente = 30 g por litro de solução a ser tratada), com capacidade máxima de adsorção igual a 4,56 mg Al3+/g do biossorvente. Através das isotermas de adsorção, verificou-se que o processo segue com grande fidelidade o modelo Langmuir 1, sendo portanto termodinamicamente favorável e irreversível sob condições espontâneas. Face ao seu custo marginal, a farinha de casca de banana apresenta enorme potencial para a descontaminação e recuperação de efluentes aquosos
Dados e informações advindas da Etnoecologia podem fornecer bases para a compreensão das interrelações entre humanos e ambiente. Além da propagação cultural dentre gerações, muitos saberes, conhecimentos e fazeres aprimoram-se em uma mesma gênese, por meio de interações cotidianas com a natureza. O presente estudo buscou investigar, o uso de recursos naturais e o conhecimento tradicional da comunidade indígena Guarani-Mbyá, por meio de entrevistas semiestruturadas com moradores de ambos os gêneros e maiores de idade da Aldeia Ribeirão Silveira. Foram entrevistados 326 adultos, o que corresponde a 59,2% da população adulta da aldeia. As principais produtivas são o comércio de artesanatos (98,8%) seguido do comércio de palmito e suas mudas (96%). A caça foi citada por 91,4% dos entrevistados como uma atividade presente no cotidiano da cultura Guarani Mbyá. Entre os recursos de caça preferidos estão o tatu (Dasypodidae), a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), a paca (Cuniculus paca) e aves diversas. A pesca, apontada por 96,3% dos entrevistados, é uma atividade essencial no modo de vida guarani, atualmente é realizada, por meio do uso de anzol e linha, como influência do não-indígena. Entre os recursos de pesca preferidos estão o bagre (Rhamdia spp.), traíra (Hoplias spp.), lambari preto (Astyanax spp.) e cará (Geophagus spp.). Os principais recursos obtidos da mata, são as sementes de lágrima de nossa senhora (Coix lacryma-jobi L.) (98,9%), penas de aves (98,9%) e palmito pupunha (Bactris gasipaes Kunth) (97,5%). Para a categoria alimentar, os recursos mais utilizados são peixes (94,9%), seguido de raízes e tubérculos, em especial a mandioca, com 95,3% e batata doce, com 91,4%. Algumas práticas tradicionais Guarani Mbyá sofreram alterações, como a pesca com a utilização de veneno (timbó), apontada por 96,3%, e o consumo de mel em virtude da diminuição da presença de abelhas nativas (68,3%). A influência do não-indígena “juruá” também gerou alterações no modo de vida Guarani Mbyá. Segundo os entrevistados (69,5%), muitas palavras e até mesmo o próprio dialeto está caindo em desuso, a compra de alimentos industrializados e tradições como a caça e o ritual da confecção de arco e flecha estão sendo cada vez menos perpetuados entre as gerações mais novas. Verificar as interações ecológicas da Comunidade Guarani Mbyá com o ambiente, permite estudos e pesquisas acerca da conservação da biodiversidade, por meio do manejo e extração sustentável dos recursos naturais.
Os hábitos alimentares de populações tradicionais podem revelar informações importantes sobre os recursos naturais, os ecossistemas e o patrimônio cultural. A presente pesquisa teve como objetivo analisar como a comunidade Guarani Mbyá, da Aldeia Indígena Ribeirão Silveira em Bertioga (SP) obtêm e consome seus alimentos, bem como os aspectos culturais envolvidos. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 326 adultos, o que corresponde a 59,2% da população da aldeia, que é de aproximadamente 550 habitantes adultos, com auxílio de roteiros preestabelecidos e observação das práticas alimentares. A alimentação de populações humanas pode refletir a forma como estas interagem com o ambiente. Práticas alimentares tradicionais, como a atividade da caça e o consumo da carne da caça são citadas como predileção pelos entrevistados idosos da aldeia, com faixa etária superior a sessenta anos, porém, são citadas com aversão pelos entrevistados mais jovens da aldeia, com faixa etária entre 18 à 35 anos, como também, os itens que compõem a alimentação da faixa etária mais jovem entrevistada (26%), são basicamente industrializados, alheios à cultura Guarani Mbyá. A predileção pela mandioca, um alimento tradicional entre os Guarani Mbyá é frequente em todas as faixas etárias. O consumo de frango é presente em todas as faixas etárias de entrevistados, superando inclusive o consumo do peixe como fonte de proteína que é, base da alimentação tradicional Guarani Mbyá. Através da observação dos alimentos consumidos, nota-se a transformação no paladar da faixa etária mais jovem e nas suas preferências alimentares, havendo uma incorporação desses alimentos no cotidiano. Ficou, portanto, evidente nesse trabalho que a Comunidade Indígena Guarani Mbyá, do Ribeirão Silveira, atravessa um processo de mudança social, ambiental e cultural de forma gradativa e preocupante, a partir do contato da comunidade indígena com os não indígenas e da interferência das tecnologias da comunicação em sua rotina. Esse processo, entretanto, põe em risco o conhecimento tradicional e as práticas alimentares originais não somente no âmbito da Aldeia Guarani Mbyá em Bertioga, (SP), como também, o desaparecimento da identidade desses povos nativos do Brasil.
2016
O estudo foi realizado na cidade de Santos, localizada no litoral do estado de São Paulo, região metropolitana da baixada santista, que engloba outras cidades. Com potencialidade econômica bem definida pelo maior porto da América Latina, a cidade de Santos cresceu e seu desenvolvimento urbano não acompanhou um desenvolvimento sustentável que favoreça a biodiversidade da sua cidade, implicado negativamente pelo alto índice pluviométrico. Este fator traz muitos prejuízos à cidade, pois nas épocas de maior intensidade de chuvas, suas águas acabam por inundar ruas e casas, disseminando materiais poluentes tanto em ruas como nas praias da cidade em estudo. Determinadas as áreas de estudo por transectos cruzando a cidade por três áreas definidas, a relação entre área quadrada das quadras e dos telhados é o fator de medição da potencialidade da quantidade de água pluvial que se pode utilizar. Foi definido, portanto, a adequação arquitetônica das edificações públicas ou privadas, quanto ao potencial de capitação e armazenamento das águas pluviais como meio de uso, não de consumo humano, redução e economia no consumo de água servida e a melhoria da salubridade da cidade e de suas praias, para uma melhora da biodiversidade da cidade e região.
A logística reversa é uma ferramenta relevante na sociedade moderna. Ela promove através do retorno de resíduos industriais para os centros produtivos, meios de evitar que estes sejam descartados de forma incorreta e resultem em problemas para as populações e para o meio ambiente. Embora a logística reversa ainda seja um assunto pouco difundido no Brasil e que só passou a ser destacado nas últimas décadas, compreende-se que essa ferramenta é essencial para a sustentabilidade do ambiente e para garantir a prática de conceitos como: conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável na produção global. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo identificar se existe alinhamento entre o conceito e a prática da logística reversa das embalagens de agrotóxicos, de forma a contribuir para a redução dos impactos negativos no meio ambiente. Assim, o Brasil além de ser um dos maiores produtores agrícolas do mundo, também destaca a cultura produtiva da banana que é um dos alimentos mais consumidos no planeta e que consequentemente exige o uso constante de agrotóxicos, como forma de proteção e melhorias produtivas. Dessa forma, o presente estudo foi desenvolvido em municípios do Estado de São Paulo que apresentam consideráveis índices na produção de banana: Itariri e Pedro de Toledo, cidades localizadas no litoral sul do Estado. A presente pesquisa foi realizada por instrumento de coleta próprio, aplicado para 23 produtores de banana, em julho de 2016, adotando uma metodologia que levou em consideração o descarte das embalagens de agrotóxicos e a legislação atual, estabelecida na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os resultados indicaram que existe deficiência no alinhamento entre o conceito e a prática produtiva da banana, uma vez que a prática não demonstrou ser coerente com a legislação, principalmente, em se tratando da conceituação de logística reversa, quando apenas um, dos 23 respondentes indicou conhecer o conceito. Os resultados da pesquisa demonstraram também que grande maioria dos produtores ainda não possui um plano de gestão para os resíduos sólidos resultantes de suas atuações profissionais, bem como, não fazem uso da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, conforme destaca a Lei 12.305/2010. Apurouse ainda que apesar do uso constante de agrotóxicos nessas localidades, não existe ou é desconhecida pelos produtores a exigência do cumprimento de políticas públicas relacionadas à gestão desse tipo de resíduos, bem como, constatou-se não ser comum a apresentação da Receita Agronômica para aquisição desse tipo de químicos, favorecendo para que esses produtos, mesmo sendo altamente prejudiciais à saúde humana e animal, sejam adquiridos tanto de intermediários, como de outros interventores.
O consumo de pescados vem sendo incentivado em diretrizes nacionais e internacionais para garantir a segurança alimentar e suprir a demanda por alimentação da crescente população mundial. Contudo, grande parte do estoque pesqueiro está sobre-explorado e a pesca artesanal está sob impactos negativos advindos da degradação ambiental assim como da competição com a pesca industrial, colocando em risco a manutenção da atividade de pesca. Conhecer as características de comércio do pescado em uma determinada região indica como essa comunidade interage com o ambiente natural implicando em registros importantes para a conservação da biodiversidade dos estoques pesqueiros. O objetivo deste estudo foi identificar aspectos relacionados a conservação de espécies dentre as comercializadas na Praia do Perequê, Guarujá (SP). Por meio de entrevistas e observações diretas foram avaliadas a diversidade e a sazonalidade das espécies, sua importância comercial, seus estados de conservação, bem como a análise comparativa com outros mercados no sudeste do Brasil. Foram identificadas 22 espécies comercializadas, das quais o salmão e o camarão estiveram presentes em 100% das amostras; seguidas pelas: anchova (96,25%), cação (73,75%), porquinho (83,75%), vermelho (72,50%), garoupa (50%) e badejo (40%). Três espécies foram de origem continental e pelo menos uma espécie advinda de importação e/ou aquicultura, geralmente adquiridas no CEAGESP-S.P. Dentre o pescado comercializado, destacam-se espécies Vulneráveis e em Ameaça de Extinção segundo classificações nacionais e internacionais, o que sugere a urgente necessidade de estudos regionais sobre as regras de pesca para conservação de tais recursos.
A Baixada Santista é formada pelas cidades de Bertioga, Guarujá, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Peruíbe, São Vicente e Santos contando com nove municípios e criada pela Lei Complementar Estadual 815/96. A partir da instalação do porto em 1540, houve aumento populacional expressivo e também o aumento de efluentes, de lixo e falta de infraestrutura até mesmo para o abastecimento de água, levando várias pessoas às enfermidades ligada à falta de saneamento básico, onde metade da população da época foi dizimada. Em 1890 eram 50 mil habitantes. Em 1906 foram iniciadas ás obras da construção dos canais de Santos e inauguradas oficialmente em 1914. Com o crescimento da região santista em alta em 1976 surgiu oficialmente a Zona Noroeste de Santos devido à ocupação das outras áreas; na década de 20 começou a ser povoada e na década de 50 tendo uma enorme procura por moradias. A grande concentração populacional em região costeira agrava o impacto ambiental sobre seus ecossistemas, comprometendo a produtividade e a biodiversidade. A forma como a população trata seus recursos hídricos e resíduos sólidos, está relacionada com seu grau de educação, sem saneamento básico não há saúde. O presente estudo teve como objetivo geral analisar a qualidade das águas de três canais em Santos na Zona Noroeste (São Paulo, Brasil) durante o mês de maio e junho de 2016. Por meio da caracterização físico-química, através das análises das variáveis temperatura, salinidade, pH, OD e nitrogênio amoniacal; caracterização microbiológica, através da análise de bactérias indicadores de contaminação fecal (coliformes totais e Escherichia coli); e analisar os efeitos ecotoxicológicos por meio de ensaios de toxicidade crônica com desenvolvimento embrio-larval do ouriço-do-mar (Echinometra lucunter). Os resultados das análises ecotoxicológicas podem sugerir um possível risco para o ecossistema aquático local. Nos resultados das análises microbiológicas estão acima do que padroniza a resolução CONAMA 274/00, sugerindo possíveis ligações de esgoto clandestinas. Os resultados das análises físico-químicas, somente o valor do nitrogênio amoniacal está em desacordo com a resolução CONAMA 357/05 e 430/11, sugerindo que o corpo de água está contaminado com amônia. Os resultados das três análises estão sugerindo uma possível ação antropogênica nos canais, o que consequentemente pode afetar a preservação da saúde pública e da vida aquática do ecossistema estudado.
A Baixada Santista é formada pelas cidades de Bertioga, Guarujá, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Peruíbe, São Vicente e Santos contando com nove municípios e criada pela Lei Complementar Estadual 815/96. A partir da instalação do porto em 1540, houve aumento populacional expressivo e também o aumento de efluentes, de lixo e falta de infraestrutura até mesmo para o abastecimento de água, levando várias pessoas às enfermidades ligada à falta de saneamento básico, onde metade da população da época foi dizimada. Em 1890 eram 50 mil habitantes. Em 1906 foram iniciadas ás obras da construção dos canais de Santos e inauguradas oficialmente em 1914. Com o crescimento da região santista em alta em 1976 surgiu oficialmente a Zona Noroeste de Santos devido à ocupação das outras áreas; na década de 20 começou a ser povoada e na década de 50 tendo uma enorme procura por moradias. A grande concentração populacional em região costeira agrava o impacto ambiental sobre seus ecossistemas, comprometendo a produtividade e a biodiversidade. A forma como a população trata seus recursos hídricos e resíduos sólidos, está relacionada com seu grau de educação, sem saneamento básico não há saúde. O presente estudo teve como objetivo geral analisar a qualidade das águas de três canais em Santos na Zona Noroeste (São Paulo, Brasil) durante o mês de maio e junho de 2016. Por meio da caracterização físico-química, através das análises das variáveis temperatura, salinidade, pH, OD e nitrogênio amoniacal; caracterização microbiológica, através da análise de bactérias indicadores de contaminação fecal (coliformes totais e Escherichia coli); e analisar os efeitos ecotoxicológicos por meio de ensaios de toxicidade crônica com desenvolvimento embrio-larval do ouriço-do-mar (Echinometra lucunter). Os resultados das análises ecotoxicológicas podem sugerir um possível risco para o ecossistema aquático local. Nos resultados das análises microbiológicas estão acima do que padroniza a resolução CONAMA 274/00, sugerindo possíveis ligações de esgoto clandestinas. Os resultados das análises físico-químicas, somente o valor do nitrogênio amoniacal está em desacordo com a resolução CONAMA 357/05 e 430/11, sugerindo que o corpo de água está contaminado com amônia. Os resultados das três análises estão sugerindo uma possível ação antropogênica nos canais, o que consequentemente pode afetar a preservação da saúde pública e da vida aquática do ecossistema estudado.
Sendo responsável por acometer cerca de 10% da população mundial, a úlcera gástrica corresponde a uma das principais doenças do trato gastrointestinal. Atualmente diversos são os fármacos utilizados para o tratamento da úlcera gástrica, como: os antagonistas de receptores H2, os inibidores da bomba protônica, protetores da mucosa e os antimicrobianos responsivos à bactéria Helicobacter pylori. Porém a fitoterapia vem ganhando destaque na medicina tradicional. São várias as espécies disponíveis no mercado e este trabalho destaca a Bauhinia forficata Link, que, apesar de ter seus efeitos comprovados como hipoglicemiante de acordo com recentes estudos, o extrato obtido a partir das folhas de Bauhinia forficata podem sugerir uma ação antiulcerogênica, sendo tal atividade farmacológica atribuída aos flavonóides, com destaque para a Kaempferitrina. As substâncias químicas que realizam no organismo um efeito terapêutico, são metabolizadas e transformadas em metabólitos, a fim de serem excretadas, porém, assim, são introduzidas no meio ambiente, principalmente, a partir do lançamento via efluentes municipais e industriais nos corpos hídricos receptores das águas servidas. A maior preocupação da presença destes fármacos residuais na água, são os potenciais efeitos adversos para a saúde humana, animal e de organismos aquáticos. Sendo assim, o objetivo deste estudo consistiu em avaliar a atividade antiulcerogênica da fração butanólica obtida a partir dos extratos das folhas de Bauhinia forficata Link e realizar análises fitoquímicas e ecotoxicológicas desta fração. Os mecanismos de ação antioxidantes foram avaliados quanto as atividade das enzimas antioxidantes e, de acordo com os resultados apresentados nos testes com úlcera gástrica, o pré-tratamento com a FrBUT (6.25 mg.Kg-1) foi capaz de reduzir o surgimento de lesões induzidas por isquemia-reperfusão, quando comparadas ao grupo controle negativo NaCl 0,9%. Ressaltando-se que o nível de significância demonstrado pelo extrato, foi similar àquele obtido a partir do Lansoprazol (controle positivo), demonstrando, deste modo, grande eficácia terapêutica por parte do composto. A análise fitoquímica revelou a presença de Kaempferitrina, metabólito secundário pertencente à classe dos flavonóides, substâncias estas que estão entre os compostos de maior eficácia comprovada para atividade citoprotetora e antiulcerogênica. Perante aos resultados ecotoxicológicos, a FrBUT de Bauhinia forficata apresentou efeito tóxico relativamente baixo em exposição crônica ao Lytechinus variegatus quando comparado ao Omeprazol e Lansoprazol, de acordo com suas CI50: FrBUT – 43,12mg/L; Omeprazol – 0,74mg/L; e Lansoprazol – 0,33mg/L. Sendo, portanto, o extrato menos danoso ao ambiente.
Além dos impactos fisiológicos em organismos marinhos causados por microplásticos ingeridos, a toxicidade causada por substâncias lixiviadas a partir dessas partículas no ambiente requer investigação. Para entender este risco potêncial, foi avaliada a toxicidade de pellets virgem e pellets de plástico encalhados em praia por meio do desenvolvimento embriolarval do ouriço do mar Lytechinus variegatus, simulando as transferências de compostos químicos à água intersticial e coluna de água por ensaios de interface pelletágua e elutriato, respectivamente. Ambos os ensaios mostraram que pellets virgens causaram efeitos tóxicos, aumentando o desenvolvimento embrionário anômalo, 58,1% e 66,5%, respectivamente. A toxicidade dos pellets de praia foi inferior à dos pellets virgens, e foi observada apenas para o ensaio de interface pellet-água. Estes resultados demonstram que (i) os pellets de plástico atuam como um vetor de poluentes, em especial para os aditivos plásticos encontrados em partículas virgens; e que (ii) a toxicidade dos produtos químicos lixiviados a partir de sedimentos depende da via de exposição e do compartimento ambiental na qual se acumulam os pellets.
O Sistema Estuarino de Santos-São Vicente possui um histórico de uso e ocupação intenso responsável por agravar as pressões antrópicas ao ambiente, gerando uma área impactada por diversas ações. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade dos sedimentos de quatro estações distintas deste sistema, através da aplicação da Tríade de Qualidade do Sedimento (TQS) que consiste em um método integrado de análises químicas, ecotoxicológicas e da estrutura da comunidade da macrofauna bentônica. As amostragens foram realizadas em período seco (inverno) de 2015 e período chuvoso (verão) de 2016 e observou-se predomínio de partículas de areia, com maior percentual de matéria orgânica no Mar Pequeno, inserido no Canal de São Vicente, para ambos os períodos. A menor proporção de prole por fêmea de Nitocra sp. foi observada na mesma área, indicando maior toxicidade. Para a estrutura da comunidade da fauna bentônica, observou-se maior dominância e menor diversidade para o Mar Pequeno, o inverso observado no Largo do Canéu no inverno e verão. Tais resultados permitem afirmar que o SES-SV apresenta baixa qualidade dos sedimentos em determinadas estações, principalmente no Mar Pequeno. A qualidade ambiental foi melhor para o período chuvoso, porém, ainda foi baixa na área inserida no Canal de São Vicente. Apesar dessa visível degradação ambiental encontrada, a qualidade dos sedimentos do Sistema Estuarino de SantosSão Vicente avançou positivamente ao longo do intervalo de 10 anos entre os últimos estudos de qualidade ambiental desenvolvidos na área.
Este trabalho objetivou fazer uma análise comparativa sobre o petróleo e alguns de seus principais derivados, identificando as diferenças em relação ao próprio produto considerando características regionais de quatro países Latino Americanos; a análise investigativa esteve dirigida às características de cada produto; comparou as condições de ocorrência dos riscos de sinistros nos terminais de abastecimento e recebimento de petróleo e seus principais derivados, relacionado as quatro empresas petrolíferas escolhidas : Petrobras (Brasil); Pemex (México); Petroecuador (Equador) e Ecopetrol (Colômbia); teve acesso a documentos regimentais, normativos, governamentais de cada país de origem e de cada produto específico; desenvolvimento de cálculos matemáticos para determinação e identificação da periodicidade na ocorrência destes sinistros; determinação da proporcionalidade aos níveis dos efeitos toxicológicos, aquáticos, desta ocorrência, por terminal, e em função de sua manipulação, composição da inter relação entre os mesmos, com o objetivo a fornecer uma resposta conclusiva pautada por todas as ações desenvolvidas para esta análise conjuntural, acrescentar sugestões em função de todos os dados fomentados objetivando uma melhora nos procedimentos relativos visando a proteção da estrutura e funcionamento dos ecossistemas.
O Litopenaeus schmitti apresenta distribuição no Atlântico Ocidental, das Antilhas ao sul do Brasil, em profundidades de 2 a 47 metros, mais abundante entre 15 e 30 m. Conhecido por camarão legítimo, camarão verdadeiro, camarão-branco, camarão vila franca, possui grande importância comercial, juntamente com os camarões-rosa Farfantepenaeus brasiliensis e F. paulensis e o camarão-sete-barbas Xiphopenaeus kroyeri, compõem as principais espécies alvo da pesca camaroneira no Sudeste/Sul do Brasil. Capturas direcionadas ao L. schmitti ocorrem em duas fases de seu ciclo de vida: quando adultos, são alvo da frota de arrasto de pequeno e médio porte e da frota industrial, quando juvenis, da pesca artesanal no estuário. No Brasil, na última década, ocorreu uma redução nas capturas dos camarões-sete-barbas e branco, nos litorais Sudeste e Sul, o que pode indicar um esforço de pesca muito elevado. Contudo, poucos são os dados disponíveis sobre o esforço de pesca dirigido ao camarão-branco (capturas associadas às frotas dos camarões sete-barbas e rosa), menores ainda são as informações sobre jovens da espécie, submetidos à captura artesanal, em áreas estuarinas, visando à comercialização como isca viva. Para caracterizar a estrutura populacional de juvenis do L. schmitti, foram realizadas coletas mensais entre junho de 2015 e maio de 2016, na área estuarina do Canal de Bertioga. Simultaneamente, foram coletadas amostras de água do fundo para registro da salinidade e temperatura. Para obtenção das amostras, foi utilizada uma rede denominada “gerival”, com lances de 20 a 30 minutos ao sabor da corrente das marés. Cada exemplar coletado foi separado por sexo, medido e pesado integralmente. As análises foram realizadas, com base nas variações do comprimento do cefalotórax, agrupados em classes. As distribuições de frequência de comprimentos foram comparadas, mês a mês e por estações, através da aplicação de testes estatísticos. O valor médio de salinidade foi 25 e a temperatura média, da água, 23°C. Foram capturados 1021 indivíduos, com biomassa total de 3.934,72 g. Destes, 559 machos e 462 fêmeas, sendo a razão sexual de 1 : 0,83. As maiores abundâncias de indivíduos ocorreram no verão e no início do outono, coincidindo com as maiores temperaturas da água. O comprimento médio de cefalotórax foi de 25,20 mm, com mínimo de 12,94 mm e máximo de 38,84 mm. O peso médio dos camarões foi de 3,95 gramas, variando de 0,87 a 12,25 gramas. No verão e no outono, em sua fase juvenil, iniciam sua trajetória com destino ao mar aberto, para completar seu ciclo de vida, ocasião em que são alvo da pesca artesanal. O estuário é essencial para manutenção dos estoques de L. schmitti, sendo de extrema importância sua conservação e o controle da ação antrópica sobre os jovens da espécie. Em estimativa feita no presente trabalho, concluiu-se que um único pescador artesanal, atuando durante nove meses no ano, capturaria 96.120 camarões juvenis, que não tiveram a possibilidade de completar o seu ciclo de vida. Espera-se que estas informações possam ser utilizadas no sentido de estabelecer uma política de pesca mais adequada à região.
O estudo foi desenvolvido no município de Santos, localizado no litoral do Estado de São Paulo, na região metropolitana da Baixada santista. O município de Santos tem por característica seus canais de drenagem de águas pluviais que cortam toda a cidade (canais 1 a 7). O objetivo geral deste estudo consistiu em analisar a qualidade das águas pluviais urbanas do sistema de drenagem do município de Santos, em períodos de alto índice pluviométrico. Foram realizadas análises microbiológicas, físico-químicas, químicas e ecotoxicológicas. Os locais de estudo foram os canais 3 e 7, sendo o canal 3 com dois pontos de coleta ao longo do seu trecho aberto. A escolha do canal 3 foi devido a este canal estar em um ponto estratégico no meio da ilha e receber a influência de uma ocupação populacional densa e inicial da cidade de Santos. O canal 7 também foi analisado em dois pontos de coleta e este canal foi escolhido por estar em uma porção mais nova de ocupação da ilha (e menos densa em termos de ocupação), e também por estar próximo ao canal do estuário de Santos. Os procedimentos da coleta seguiram um contexto de investigação do percurso da água pluvial captada sequencialmente em cada ponto de análise: a água da chuva, a água na sarjeta, na saída da galeria e na água depositada no canal. Os resultados foram avaliados com base nos parâmetros estabelecidos pelas resoluções CONAMA 274/00 e CONAMA357/05. Os parâmetros microbiológicos estavam acima do máximo permitido pela legislação para todos os pontos levantados (exceto para a água da chuva). Exceto para a análise de pH de um dos pontos estudados (galeria do canal 7), os parâmetros físico-químicos não apresentaram valores superiores aos valores de referência da legislação nos demais pontos estudados. As análises químicas apresentaram valores acima do parâmetro legal em alguns pontos distintos, em ambos os canais. Os resultados de toxicidade aguda também constituíram um dado decisivo no apontamento dos focos contaminantes. Quando comparado às localidades específicas no canal 3 e no canal 7, foi possível determinar a existência de esgoto doméstico, tendo maior número de pontos contaminados no canal 3 (área antiga e de densidade populacional mais elevada). No entanto, o canal 7 (área de ocupação mais nova e de menor índice populacional) apresentou uma contaminação pontual em sua galeria, registrando os maiores índices para a maioria dos parâmetros estudados. O presente estudo demonstrou a presença de contaminantes de influência antrópica, desde o meio urbano até a ligação irregular de esgoto sanitário nos pontos analisados nesta pesquisa. A presença destes contaminantes no sistema de drenagem urbana de águas pluviais pode trazer consequências ambientais para a biota aquática (presentes no corpo receptor) e também para a saúde humana através do contato com estas águas.
A produção de Recifes Artificiais Marinhos pode ser considerada, se for executada de maneira responsável, uma forma de minimizar problemas ambientais e criar soluções para questões sociais e econômicas que envolvem a pesca no território brasileiro e as comunidades pesqueiras. Estas estruturas rígidas quando confeccionadas em concreto devem se enquadrar dentro de critérios técnicos e científicos padronizados para não interferirem de forma negativa no meio marinho e sim criarem ambientes de grande diversidade e importância econômica. O objetivo deste trabalho foi comparar corpos de prova de materiais que podem ser utilizados na confecção destas estruturas (concreto, concreto com fibras naturais e rocha), submetidos a um ambiente seco e imersos em água do estuário da cidade de Santos/SP e analisar nestes três materiais, dois principais aspectos: a colonização e sucessão biológica ao longo de três meses e a influência da incrustação de organismos do ambiente marinho na resistência a compressão destes materiais. Os métodos fotográficos utilizados para análise das incrustações e os métodos destrutivos utilizados para os testes de resistência à compressão geraram dados que foram analisados estatisticamente para se determinar se existe diferença significativa entre os diversos materiais quanto à resistência e a colonização e sucessão biológicas estabelecendo assim uma relação entre resistência à compressão e incrustação de organismos marinhos. Deste modo é possível verificar a viabilidade da utilização destes materiais na produção e implantação de recifes artificiais.
Normalmente, as águas das bicas não recebem tratamento especial, necessitando de maior atenção em relação aos cuidados sanitários, além da ocupação e o uso do solo pela sociedade. Tais fatores podem alterar sensivelmente os processos biológicos, físicos e químicos dos sistemas naturais. Neste trabalho foram realizadas análises de águas provenientes de fontes naturais (bicas) situadas nas áreas urbanas dos municípios de Santos e São Vicente, a fim de analisar alguns parâmetros que compõe, com seus respectivos pesos, a caracterização da qualidade destas águas. Para a definição dos pontos de amostragem, foram levantados os locais nos quais a população da região utiliza as bicas de água para o consumo humano, sendo identificados quatro pontos utilizados de forma contínua, a saber: as bicas Itororó (na subida do morro da Nova Cintra), São Felipe (morro do São Bento) e Saboó (encosta do morro do Saboó), localizadas em Santos e; a Biquinha (Praça 22 de Janeiro) no município de São Vicente, as quais passaram pelos testes físicoquímicos, além de análises químicas (nitrogênio amoniacal, fosfato, surfactantes) e microbiológicas (coliformes fecais e Escherichia coli). Detectou-se que das 04 bicas analisadas apenas uma das bicas (Itororó) apresentou resultados dentro dos limites estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde MS 2914/2011. As demais bicas tiveram seus testes fora dos padrões preconizados pelo Ministério da Saúde indicando a necessidade de formalizar um acompanhamento da qualidade das águas das bicas além de medidas informativas de alerta à população que utiliza as aguas dessas fontes naturais.
A atual ideia de preservação dos recursos naturais se faz necessária principalmente em se tratando de ambientes muito susceptíveis as ações antrópicas, como o caso dos manguezais. Esses ecossistemas foram por muitos anos altamente devastados e poluídos e uma das principais medidas para essa devastação é a questão do reflorestamento e reposição da cobertura vegetal. Isso pode ser proposto pelo cultivo de mudas em viveiros ou mesmo no próprio ambiente utilizando propágulos de espécies de mangue trazidos pela maré ou coletados nas imediações do local, com vistas a ampliar a quantidade potencial de mudas viáveis. Em vista da importância do tema, o trabalho se propôs a verificar o crescimento da altura de propágulos de mangue-vermelho, Rhizophora mangle, em diferentes tratamentos experimentais com substratos diversos para se avaliar a condição com a melhor resposta de crescimento dos mesmos para produção de mudas a serem usadas para replantio e reflorestamento de áreas degradadas de manguezal. Os propágulos utilizados foram coletados ao longo da linha entre maré na praia de Santos – SP entre o Canal 3 (Avenida Washington Luiz) e o Canal 4 (Avenida Siqueira Campos), num total de 140 propágulos, oriundos dos manguezais da região trazidos pelas marés, numa coleta ocorrida após forte ressaca precedida de fortes ventos. O experimento de plantio dos propágulos foi desenvolvido em uma área de manguezal localizada no bairro Cidade Náutica III no município de São Vicente – SP, adjacente a sede do SEST-SENAT (plantio controle) e também em viveiros de mudas localizado no mesmo município à margem do estuário (plantios experimentais). Foram delimitados três diferentes tratamentos e dois controles que constituídos no plantio apenas em lodo estuarino dentro do viveiro e propágulos inseridos diretamente no lodo adjacente ao manguezal local. Os tratamentos experimentais envolveram o plantio em viveiros próprios para o desenvolvimento das mudas com adição de diferentes combinações de partículas ao substrato de lodo nos sacos individuais de polietileno para plantio. Os tratamentos experimentais que utilizaram os pellets adicionados ao lodo do mangue (TA) e o que utilizou o lodo de outra área, sem poluição de plásticos, ou mesmo fragmentos deste material (TD), foram aqueles que apresentaram crescimentos mais significativos dos propágulos de manguevermelho do ponto de vista estatístico. O cultivo de propágulos de Rhizophora mangle em viveiros é mais eficiente no que se refere ao seu crescimento quando se usa lodo de mangue como parte da composição do substrato de cultura.
Um dos grandes desafios do ser humano atualmente é transmitir valores visando a responsabilidade no bem comum. O grande pilar da humanidade é a educação e sua formação é desenvolvida nas escolas, porém sem um plano pedagógico voltado para a Educação Ambiental, fica praticamente extinto o comprometimento da comunidade escolar com o meio em que ele vive. A escola tem a responsabilidade de ajudar a criar uma sociedade responsável socialmente visando à sustentabilidade que está ligada à economia, à preservação e à justiça social. Utilizando a percepção ambiental que cada individuo tem. O programa Eco Escolas, implementado pela FEE- Foundation for Environmental Education desde 1990, busca a interação de cotidiano de sustentabilidade através de ações na vida escolar, fornecendo um sistema integrado de gestão ambiental das escolas com base em uma abordagem ISO 14001/EMAS. Este estudo teve o objetivo de realizar o diagnóstico ambiental na Escola Estadual Prof.ª Maria Thereza da Cunha Pedroso e na Escola Estadual Deputado Antônio Moreira Coelho ambas localizadas em São Vicente - São Paulo. Os resultados foram obtidos através de inquéritos realizados com os estudantes e auditoria sobre os temas água, resíduos, energia, mobilidade, ruídos, biodiversidade, mar, floresta, espaços exteriores da escola, agricultura orgânica, alimentação e gestão ambiental. Através da análise destes resultados concluiu-se que os temas com os melhores desempenhos ambientais são mobilidade, energia e espaços externos. Verificou-se que quanto maior o índice de desempenho de gestão ambiental melhores são os resultados dos demais índices e consecutivamente mais alto será o índice global. O índice global da Escola Maria Thereza foi de 30,13% e a Escola Deputado foi de 39,25% devido aos temas de gestão ambiental, floresta, agricultura orgânica e biodiversidade.
Manguezais são ecossistemas costeiros, de transição entre o ambiente terrestre e o marinho, constituídos basicamente por angiospermas lenhosas tolerantes à salinidade e à baixa oxigenação do sedimento. São ambientes de grande produtividade e importância ecológica, sendo sua regeneração importante. Nesse sentido esse trabalho visa obter informações sobre o desenvolvimento de Laguncularia racemosa em diferentes métodos de cultivo, visando a produção de mudas. Os métodos de cultivo utilizados foram de cultivo direto (grupo 1); cultivo em berçário e posterior passagem para os tratamentos com rega periódica (grupo 2); cultivo em berçário com posterior passagem para os tratamentos em tanques onde os vasos foram imersos (grupo 3). Todas as plântulas foram acompanhadas por 120 dias. Foram utilizados quatro níveis de sombreamento (0, 35, 50 e 80%) e quatro níveis de salinidade (0, 6 35 e95 g/l). Foram coletados dados de altura, diâmetro, número de folhas, teor de água e condições fitossanitárias. O cultivo direto mostrou elevada mortalidade, com 99,65% das plântulas utilizada morrendo após o final desta etapa. O cultivo no berçário se mostrou satisfatório apresentando taxas de mortalidade de 4,44% no grupo 2 e de 6% no grupo 3. No grupo 2 a mortalidade ao final do acompanhamento foi de 72,5%, onde a salinidade mostrou-se significativa nesse resultado, ocorrendo uma correlação diretamente proporcional entre o aumento da salinidade e a mortalidade. O desenvolvimento não mostrou relação significativa com a salinidade nem o sombreamento, as plântulas cresceram em média 10,3±7,1mm no período de 120 dias. O diâmetro médio aumentou em 0,27±0,38mm e não apresentou relação significativa com os tratamentos. Os aumentos do número de folhas não mostraram relação com a salinidade e sombreamento. O grupo 3 apresentou mortalidade total de 50% passados 120 dias. A salinidade resultou em mortalidade muito mais elevada nas concentrações de 35 g/l e 95 g/l e o desenvolvimento das plântulas não mostrou alteração significativa nem pelo sombreamento, nem pela salinidade. As plântulas cresceram em média 7,54±8,43mm nos 120 dias de acompanhamento. O diâmetro médio teve um acréscimo de 0,74±0,38mm nos 120 dias, mas não houve relação significativa com os tratamentos. O ganho de folhas não apresentou relação significativa com os tratamentos. O teor de água mostrou comportamento de queda com o passar do tempo, e de queda mais acentuada em um período com temperaturas e intensidade luminosa mais elevados. A condição fitossanitária que mostrou alguma relação significativa com os tratamentos foi representada pelos danos causados por herbivoria, altamente relacionados à salinidade, havendo uma queda considerável com o aumento da salinidade e a produção de ramos laterais, que se mostrou maior nos tratamentos de salinidade 0 g/l e 6 g/l. A má formação foliar, folhas cloróticas, danos causados pelo vento e morte da gema apical não apresentaram relação significativa com os tratamentos utilizados. O uso de berçários mostrou ser extremamente satisfatório, assim como o cultivo em tanques com os vasos imersos. A salinidade de 6 g/l parece a mais adequada para o cultivo, por apresentar baixa mortalidade, boa produção de ramos laterais e possibilitar certa resistência à herbivoria.
Peixes possuem grande variedade morfológica, o que determina o espectro alimentar, seleção de hábitat e comportamentos tróficos. O objetivo do presente estudo foi analisar a dieta e a morfologia de sete espécies de peixes de riachos da bacia do rio Itanhaém, situada no litoral sul do Estado de São Paulo, buscando responder se a composição da dieta foi influenciada pela morfologia ou pela estrutura dos micro-hábitats ocupados. Foram coletados 1.129 exemplares pertencentes às espécies Characidium japuhybense (Crenuchidae), Characidium sp. 1 (Crenuchidae), Trichomycterus cf. zonatus (Trichomycteridae), Scleromystax barbatus (Callichthyidae), Pimelodella transitoria (Heptapteridae), Rhamdia quelen (Heptapteridae) e Rhamdioglanis frenatus (Heptapteridae) e mensuradas as variáveis estruturais dos riachos. No laboratório, os peixes foram identificados, mensurados quanto ao comprimento padrão (mm), pesados (g) e dissecados. Foram calculados nove atributos morfológicos e verificado o grau de repleção estomacal. A dieta foi quantificada pelo Grau de Preferência Alimentar (GPA). A relação entre as variáveis ambientais e estruturais foi verificada por uma Análise de Correlação Canônica (CCA). A Análise de Componentes Principais (PCA) foi realizada para comparar as espécies quanto à morfologia. Para descrever a composição trófica e verificar a similaridade entre as dietas foi aplicado um Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) com o índice de Bray-Curtis e o teste de Homogeneidade de Variância Multivariada para verificar a amplitude de nicho. As variáveis que mais explicaram a distribuição das espécies foram substrato, velocidade, largura e profundidade. Os atributos morfológicos que separaram as espécies foram altura relativa, índice de compressão do corpo, coeficiente de finura e largura relativa da boca. A amplitude de nicho foi significativamente diferente entre as espécies (F = 7,15, p < 0,001), indicando alta sobreposição. Os itens predominantes foram os estágios imaturos das ordens Ephemeroptera, Trichoptera e Diptera. Rhamdioglanis frenatus e R. quelen apresentaram a maior diversidade de itens nos estômagos. Todas as espécies analisadas foram classificadas como onívoras com tendência à insetivoria, exceto R. quelen (carnívora com tendência à invertivoria) e apresentaram diferenças em sua morfologia. Embora alguns atributos morfométricos (uso do hábitat e estrutura trófica) tenham sido mais associados a determinadas espécies, a amplitude de nicho foi semelhante, evidenciando alta sobreposição no uso dos recursos.
A poluição por resíduos sólidos é um dos impactos mais preocupantes na região costeira brasileira. O uso indiscriminado de materiais descartáveis, a indevida coleta e depósito do lixo nas regiões ribeirinhas e o adensamento urbano provocam o aumento e a composição variada de resíduos encontrados nas praias. Este estudo teve como objetivo analisar se as oscilações das marés, as estações do ano e as fases da Lua influenciam na deposição de resíduos em duas praias de Santos:. a do Boqueirão e a de Embaré. Foram realizadas 80 coletas, de outubro de 2015 a julho de 2016 nas quais foi anotado se ocorre variação da abundância em número e em peso do lixo ao longo do ano. As coletas foram realizadas semanalmente nos horários próximos às estofas de preamar e baixa-mar das marés, em parcelas aleatórias de de 2m x 2m limitadas por uma quadrado de PVC. Todo material encontrado dentro das parcelas foram classificados, contados e pesados. Pode se perceber que as estaçãoes do ano e as fases lunares influenciam na deposição de resíduos nas praias e as marés não tem nenhuma influência. O plástico foi a categoria de resíduos mais encontrada, juntamente com resíduos de uso doméstico.
A presente pesquisa aborda aspectos associados à ocupação e uso dos recursos naturais, em duas Ilhas, por populações tradicionais (ou não), analisando e comparando questões relacionadas a dados sócio econômicos e a extração de recursos do mar. O Brasil possui uma vasta costa litorânea, onde se encontram as Ilhas Costeiras e Oceânicas, geralmente associadas à endemismos e espécies ameaçadas. Para esta pesquisa foram escolhidos dois arquipélagos na costa do Brasil: Ilhabela (Bonete) , na costa sudeste do Estado de São Paulo e Fernando de Noronha, no Estado de Pernambuco. Ambos os arquipélagos abrigam Unidades de Conservação em seu território. Fernando de Noronha, incluída no Parque Nacional Marinho (PARNAMAR) abrangendo 70% da área, sendo os 30% restante Área de Proteção Ambiental – APA e Ilhabela (Bonete), com 86% da área sob a proteção do Parque Estadual de Ilhabela (PEIB). Estão bem distantes geograficamente e possuem paisagens distintas apresentando fauna e flora com elevado número de espécies endêmicas e ameaçadas. A presença de populações humanas nesses locais é antiga e as transformações ocorridas nas últimas décadas esta imprimindo um novo estilo de vida para essas populações. Por meio da Ecologia Humana e de sua interface com outras disciplinas, buscou-se registrar informações que ajudem a refletir o cenário atual dessas comunidades que possuem populações antigas, alta biodiversidade e sobrevivem de recursos naturais, especialmente os aquáticos. A pesquisa aqui apresentada disponibiliza informações relativas a coleta de dados, analise e comparação das populações humanas dos dois arquipélagos, por meio de entrevista com 88 moradores, 44 em cada comunidade. Os resultados permitem um olhar sobre o cenário atual (através do SES – Sistemas sócio Ecológicos) em ambos os locais, contribuindo assim para o melhor conhecimento da realidade e das interações dessas populações com o ambiente onde vivem. O conhecimento que essas populações adquiriram ao longo do tempo e sua convivência com o meio natural ainda tem muito a contribuir com a pesquisa cientifica, propiciando assim a adoção de medidas e planos de manejo que mantenham e respeitem essas comunidades.
Este trabalho relata a experiência de educação ambiental e social desenvolvida em Unidades Municipais Educacionais de Santos-SP, através de planos e ações intitulado “Projeto Ética, Valor e Cidadania na escola”. A atividade foi criada a partir da percepção de que a escola deve ser utilizada como núcleo social e como mecanismo facilitador da política de inclusão social. O projeto buscou, em sua essência, o desafio de trabalhar temas socioambientais buscando implantar questões práticas de respeito, justiça, solidariedade, responsabilidade social e ambiental, no cotidiano dos alunos e da comunidade escolar para compensar a realidade social excludente. Esse projeto já passou por três escolas municipais e movimentou subprojetos, campanhas e ações sociais e atingiu o público da comunidade escolar durante o período de dois anos (2014 a 2016). O objetivo geral foi aplicar ferramentas para viabilizar formas de incluir todos os alunos usando a educação ambiental como forma interdisciplinar de atender ao futuro cidadão proporcionando um melhor aprendizado do conteúdo e a inclusão social. A metodologia usada foi a observação participativa em atividades efetuadas nos conteúdos propostos em especial pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais, Ética e Cidadania; e Meio Ambiente. As atividades foram desenvolvidas em sequência didática conforme a faixa etária, em três escolas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental II, aplicadas nas salas de aula; nas salas de Atendimento Educacional Especializado; nas Salas de Informática; durante estudos do meio realizados com visitas monitoradas ao Aquário e ao Orquidário Municipal de Santos, Praia de Santos, SP. O projeto estruturou-se em 12 atividades principais envolvendo numerosas ações. Envolveu ao todo 882 educandos, 140 educadores, 40 funcionários em três comunidades escolares da Zona Leste de Santos, num total de 40 oficinas; 8 aulas práticas com organismos e experimentações em sala de aula; quatro saídas a campo para estudo do meio; quatro exposições; duas feiras de conhecimento e a confecção de 1 Kit itinerante e material de suporte (coleção biológica e de livros). Todas essas atividades foram fundamentadas no uso potencial de materiais de apoio facilmente encontrados no meio ambiente; no uso de diferentes formas de lecionar, na riqueza de informações trazidas por alunos, professores, comunidade e, nas efetivas ações desenvolvidas na escola para a inclusão social. Conclui-se que a metodologia e aplicação de projetos, com atividades essencialmente práticas oportunizando situações e materiais lúdicos alternativos a todos, promove de forma mais eficaz a inclusão social.
A zona de arrebentação de praias arenosas constitui um ambiente heterogêneo, pois varia no tempo e no espaço. Por ser uma região com grande hidrodinamismo, sofre influência de uma série de fatores ambientais como pH, salinidade, turbidez, granulometria, ondas, ventos, correnteza e formação de bancos de areia, que podem influenciar a ictiofauna. Para descrever a estrutura da comunidade de peixes da zona de arrebentação da Baía de Santos, litoral central do estado de São Paulo, utilizou-se uma rede de arrasto do tipo picaré, com amostragem em 15 pontos ao longo da Baía. As coletas foram realizadas em Fevereiro e Julho de 2015, caracterizando os períodos de verão e inverno, respectivamente. Durante esses períodos há uma grande mudança na quantidade e direção de ondas que entram na baía de Santos, além da mudança significativa entre as épocas na temperatura, pH e comprimento da zona de arrebentação. Foram capturados 3741 peixes, abrangendo 43 espécies. As famílias mais representativas quanto à abundância e riqueza foram Carangidae, com 9 espécies e Sciaenidae com 8 espécies. Utilizamos testes de Mantel para verificar se a composição das comunidades é estruturada em função das variáveis ambientais ou da distância espacial entre os pontos. Verificamos que, embora exista variação ambiental ao longo dos trechos amostrados, não houve correlação significativa entre as similaridades faunística e ambiental. O efeito espacial foi significativo apenas no inverno, sugerindo que neste período os pontos próximos têm faunas mais similares.
Os indicadores de sustentabilidade, resultantes do avanço das pesquisas em agroecologia, são ferramentas essenciais para possibilitar a avaliação do grau de sustentabilidade de unidades de produção e agropecuária, visando, sempre, o aprimoramento das práticas agronômicas e da relação do homem com a sua propriedade. O presente trabalho teve como objetivo geral a comparação de duas propriedades agrícolas, a partir de aplicação de conjuntos de indicadores de sustentabilidade, que foram construídos, de uma forma participativa, com as famílias das propriedades estudadas. As duas propriedades rurais pesquisadas, uma se localiza no norte de Minas Gerais e a outra no norte do litoral paulista. Também, a presente pesquisa visa fornecer dados capazes de direcionar os agricultores as melhores estratégias pautadas no desenvolvimento sustentável, incluindo melhora na qualidade de vida da comunidade envolvida, maior ganho financeiro e, ainda, melhor inserção social e preservação ambiental. Além do mapeamento participativo e da descrição de cada propriedade, a convivência do pesquisador com os proprietários, o uso de entrevistas semi-estruturadas, e a realização de alguns experimentos, como os de compostagem, fizeram parte da metodologia aplicada neste estudo. Observações e coleta de dados, no campo, por meio de caminhadas transversais, permitiram o aprimoramento e a fundamentação deste estudo comparativo. Os indicadores construídos, com a participação dos agricultores, foram agrupados em três categorias de sustentabilidade: social, econômica e ambiental. Foram definidos 79 indicadores de sustentabilidade, sendo 28 no âmbito social, 17 no âmbito econômico e 34 no ambiental. Os indicadores foram mensurados e transformados num conjunto de ferramentas de avaliação, viabilizando a comparação entre as propriedades estudadas. Três níveis de avaliação foram estabelecidos: Peso 1,0 para situação crítica, peso 2,0 para situação aceitável e 3,0 para o nível desejável. A apresentação dos resultados, na avaliação de cada propriedade e nas comparações, usou como ferramenta, expressão gráfica tipo “radar”, permitindo, inclusive, comparações entre as propriedades estudadas. Calculou-se o índice de sustentabilidade ambiental, econômico e social em cada uma das duas propriedades. Verificou-se que, embora o índice geral de sustentabilidade indicasse relativa semelhança entre as duas propriedades (PJ: 2,26 e PU: 2,25), houve diferenças bastante visíveis em relação a alguns indicadores específicos avaliados. Por exemplo, no conjunto social, a propriedade de Ubatuba (PU) alcançou o nível desejável (3,0) nos indicadores de organização social, carga horária de trabalho, acesso à cultura e lazer, serviço médico, assistência técnica e outros, enquanto que para os mesmos indicadores, a propriedade (PJ) alcançou apenas o nível crítico (1,0). Por outro lado, no mesmo conjunto social, a (PJ) é a favorita em acesso à eletricidade, qualidade de moradia, segurança, e outros, alcançando nota 3,0 e a (PU) fica com a nota 1,0. O mesmo fenômeno, com menor impacto, se repete nos demais conjuntos de indicadores. Desta forma, os agricultores das duas propriedades, após a participação na construção dos indicadores, de seu uso no diagnóstico, e de uso experimental de novas práticas, revelaram sensibilidade e interesse para iniciar um processo de transição agroecológica, objetivando o abandono das práticas danosas à sustentabilidade e busca daquelas mais compatíveis com a mesma.
A dragagem de aprofundamento do canal do Porto de Santos surgiu da necessidade de expansão física da área portuária para que pudesse continuar crescendo em termos econômicos, visando a passagem de navios em maior número e tamanho. Dentro deste contexto, o objetivo deste estudo foi analisar mais especificamente a interferência da dragagem de aprofundamento do canal do Porto de Santos ocorrida entre os anos de 2008 e 2013 na vida da comunidade caiçara da Praia do Góes no município do Guarujá/SP, situada as margens do canal de navegação onde foi realizado empreendimento. Os dados foram coletados em Julho de 2015, Janeiro e Novembro de 2016, através de entrevistas realizadas com questionários semiestruturados com 85 moradores, através da técnica “bola de neve”. Os dados foram analisados qualitativamente e quantitativamente buscando-se representar o consenso entre os informantes sobre os impactos da dragagem na comunidade. Os resultados demonstraram que a dragagem de aprofundamento do canal portuário ocasionou impactos socioambientais negativos a comunidade. Destacam-se o assoreamento da praia (80%), inutilizando o píer de atracação de embarcações (95%) na comunidade e o aumento da erosão (78%) que culminou com a destruição da trilha de acesso entre as duas comunidades. Em relação a mídia jornalística impressa que divulga as obras do empreendimento, “impactos socioambientais” aparecem com 38,89%, e “benefícios econômicos com 61,11%. Verificou-se que a implantação das obras de dragagem no canal do Porto de Santos trouxe um viés econômico relevante para economia de toda região, contudo sob o aspecto das comunidades costeiras a dragagem ocasionou alteração de espaços por elas utilizados diariamente para a prática do direito de ir e vir evidenciando a necessidade de ação dos órgãos públicos na adoção de medidas que minimizem tais impactos.
O presente trabalho aborda a influência da estrutura urbana no microclima e no conforto térmico dos moradores do município de Bertioga (Baixada Santista - Estado de São Paulo). Para isto foram obtidas informações sobre as características urbanísticas e ambientais em diferentes locais do município. Como características urbanísticas foi observado em cada ponto, informações sobre o entorno, tais como: número de pavimentos dos edifícios, tipo de pavimentação, nível de arborização, infraestrutura, direção da rua, nível de adensamento e atividades humanas realizadas. Já como características ambientais, foram obtidos os valores da temperatura e umidade relativa do ar, diferença entre a temperatura local (micro) e regional (macro), intensidade luminosa, velocidade e direção do vento e nível de ruídos. Trinta e oito pontos de amostragem foram realizados durante o inverno e os mesmos durante a primavera. Através de técnicas multivariadas, foi possível identificar quatro grupos de locais cujas condições se mostraram semelhantes. A verticalização, a arborização e direção da rua foram os aspectos mais relacionados com as variações do conforto térmico. Apesar de nenhum local ser considerado adequado pelo indice de temperatura e umidade (índice de Giles), foi possível observar que alguns locais apresentaram temperaturas mais agradáveis em quanto outros estavam mais desconfortáveis devido a um aumento da temperatura do microclima. Notando que a verticalização aumenta a temperatura local (microclima), a primavera apresentou-se mais seca e o inverno apresentou microclima mais quente do que o macroclima sugerindo a formação de ilhas de calor.
A comunicação cumpre um papel educativo e transformador no comportamento das pessoas em relação aos ecossistemas e pode ser direcionada em favor de ações de conservação ambiental. Pesquisas e diretrizes públicas recomendam que ela faça parte da gestão participativa de Unidades de Conservação (UC), contribuindo com os processos educativos de gestão da sociobiodiversidade. Nesse sentido, o presente trabalho analisou o potencial de contribuição da comunicação em favor da conservação ambiental da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Barra do Una, no Mosaico de Unidades de Conservação Jureia-Itatins, Peruíbe (SP). Trata-se de uma área protegida de uso sustentado e domínio público, com objetivo básico de promover a conservação da biodiversidade e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e meios necessários para subsistência por meio da exploração racional e sustentada dos recursos naturais pela comunidade local. A partir de um diagnóstico onde foram entrevistados 38 jovens e adultos de 31 famílias levando-se em conta aspectos como uso e disponibilidade dos meios de comunicação, análise da percepção dos moradores locais sobre os aspectos mais prejudiciais para o ambiente e análise da viabilidade de trabalhos de comunicação ambiental, a pesquisa revela que a comunidade da RDS Barra do Una tem potencial para realizar ações de comunicação eficazes para contribuir com a conservação local, estimular um aumento de visitantes e ordenamento do turismo para incremento da economia local. Dos entrevistados, 100% dos jovens estão dispostos a participar e 96,6% dos adultos se dispõem a apoiar ou participar dos trabalhos, já que conhecem os pontos vulneráveis de conservação, onde é necessário esforço nas ações de comunicação. O trabalho culmina com propostas de comunicação contendo ações planejadas e direcionadas para equilibrar conservação ambiental, desenvolvimento sustentável e turismo ecológico na Barra do Una.
No ano de 2009 a Praia do Tombo, no Guarujá, recebeu a Certificação Bandeira Azul, selo ecológico concedido às praias que se enquadram em uma série de requisitos de conservação ambiental. A certificação da Praia do Tombo foi a terceira da história do programa, no Brasil. Iniciado no ano de 1987, o Programa Bandeira Azul é um dos mais importantes selos ecológicos criados com o objetivo de trabalhar pelo desenvolvimento sustentável de praias e marinas que adotam um criterioso tratamento em relação à qualidade da água, educação ambiental e informação, gestão ambiental, segurança e outros serviços. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento dos referidos requisitos pelos frequentadores da Praia do Tombo, a fim de determinar sua participação na manutenção da certificação. Para tanto, questionários estruturados foram usados em entrevistas realizadas no mês de abril, na Praia do Tombo, resultando em 300 entrevistas. A análise dos dados obtidos através das entrevistas (n=300) indicou conhecimento restrito por parte dos frequentadores com relação aos requisitos previstos no Programa Bandeira Azul, demonstrando deficiências importantes, em especial, no que tange aos programas de educação ambiental. Além disso, buscou-se discutir os benefícios da certificação no aumento da atração de frequentadores, com vistas à disseminação da cultura da certificação nas praias brasileiras.
As pescarias brasileiras existem desde o período colonial, praticadas pelos índios, que as realizavam com o intuito de suprir sua necessidade alimentar, ou seja, pescarias de subsistência. A pesca artesanal em Fernando de Noronha está diretamente relacionada com a pesca de iscas, pelo fato de os pescadores serem dependentes da mesma para realizar suas capturas de peixes maiores. Este trabalho objetivou analisar a pesca de iscas no arquipélago de Fernando de Noronha, caracterizando a captura e identificando o conhecimento ecológico local dos pescadores sobre os recursos utilizados. A coleta de dados foi realizada através de questionários semi-estruturados com o auxílio da técnica “bola de neve”. Os dados foram analisados qualitativamente e quantitativamente, buscando representar o consenso entre os informantes entrevistados e comparar o conhecimento ecológico local com a literatura cientifica. Foram entrevistados 69 pescadores de iscas, os quais utilizam a sardinha e o garapau como principais espécies-alvo, em pescarias embarcadas ou desembarcadas (em praias). A sardinha é a isca mais utilizada, capturada com tarrafa, todos os dias antes dos pescadores realizarem a pesca de peixes maiores, sendo mantidas vivas em compartimentos modificados nas embarcações conhecidos como “viveiros”, ou em baldes com água no caso de pescadores desembarcados. O garapau é utilizado quando os pescadores não conseguem capturar a sardinha, sendo pescado com linha de mão durante as noites escuras e conservado vivo também em viveiros. Os pescadores demonstraram um conhecimento ecológico local detalhado sobre os aspectos biológicos e ecológicos dos peixes em questão, como por exemplo seu habitat, alimentação, predadores e fatores que influenciam na pescaria. Porém nota-se uma carência de informações sobre aspectos reprodutivos dos peixes, destacando assim uma necessidade de estudos mais detalhados sobre comportamentos reprodutivos destas especies. A captura de iscas em Fernando de Noronha se mostrou de extrema importância, tanto para relação com a pesca artesanal quanto para a manutenção dos saberes e cultura local. Trabalhos que evidenciam o conhecimento ecológico local dos pescadores podem gerar alternativas para conservação e uso sustentável destes recursos além de contribuições para a adoção de políticas de gestão de recursos e manejo pesqueiro.
A construção civil tem crescido em várias localidades do Brasil, inclusive na Região Metropolitana da Baixada Santista, inferindo a necessidade de se pensar em como reduzir os impactos ambientais causados pela produção de resíduos sólidos nessas atividades. Nesse sentido, a educação ambiental tem um papel fundamental, tanto para conscientizar os integrantes e responsáveis pelas obras como também levantar se a obra realiza a reciclagem de seus resíduos e quais os locais onde os resíduos são destinados em caso de não reaproveitamento. Assim, o trabalho objetivou verificar se há reutilização de resíduos sólidos em diferentes obras realizadas no município de Santos – SP, evidenciando as práticas de educação ambiental e gerenciamento desses resíduos de forma sustentável. O estudo teve caráter exploratório e foi desenvolvido com cinqüenta e quatro (54) trabalhadores de quatro (4) obras em andamento no município. Foi realizada uma intervenção na obra para explicar basicamente sobre a importância da reciclagem de resíduos sólidos, visando informar os trabalhadores sobre a reutilização de resíduos sólidos dentro da obra, minimizando os custos de produção e o impacto do seu despejo no ambiente. Foi possível constatar que as empresas da construção civil visitadas nesse estudo possuem a grande maioria de profissionais de nível médio e técnicos que não tem grande poder de decisão na execução das obras. Esses funcionários dispõem de poucos conhecimentos sobre reciclagem de resíduos sólidos, porém tem alguma noção com relação a desenvolvimento sustentável como necessário para a preservação dos recursos naturais. Esse público desconhece ações de reciclagem na obra, bem como também não estão cientes da necessidade da obra funcionar em consonância com as diretrizes do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PMGRSCC) para redução dos impactos ambientais e menor produção de lixo e entulhos. Apenas os profissionais de nível superior, principalmente os engenheiros responsáveis pelas obras, dispõem de conhecimento e informações sobre a educação ambiental dentro da construção civil, para gerenciamento e destinação final dos resíduos sólidos. Verificou-se também que uma pequena parcela desses resíduos acaba sendo reaproveitada na obra, porém a maioria se destina a empresas coletoras de entulhos que os despejam no Aterro Sanitário de Santos no Sítio das Neves e o da Alemoa.
As Estações de Tratamento de Esgotos (ETE) são unidades indispensáveis no controle da qualidade das águas residuais lançadas em um corpo receptor, de maneira que a eficiência do tratamento de seus efluentes poderá disponibilizar a redução da emissão de poluentes nas fontes naturais de água da região. Desse modo, o trabalho visou verificar o desempenho de dois tipos de tratamento de efluentes de esgoto no município de São Vicente, no período de Janeiro a Junho de 2008, objetivou determinar qual estação apresentava maior eficiência, através da medição de padrões de qualidade determinados pelo CONAMA. Contemplaram neste trabalho dois tratamentos distintos, realizados nas ETEs Humaitá e Samaritá, situadas no município de São Vicente. A ETE Samaritá operava no sistema de tratamento por batelada, lançando seu esgoto tratado no Rio Branco e a ETE Humaitá operava no sistema de tratamento contínuo, lançando seu esgoto tratado no Rio Mariana. Por serem sistemas diferenciados foram utilizados dentre todos os parâmetros que a legislação estabelece somente os parâmetros de DBO, DQO e Coliformes Fecais, para a verificação de eficiência dos dois sistemas. O trabalho permitiu concluir que a ETE Humaitá, de fluxo contínuo, analisado no período citado no objetivo, operava com maior eficiência na redução de DBO e DQO. Um sistema de injeção de agentes desinfectantes, como o cloro gás, poderia ser empregado para reduzir os Coliformes Fecais. A ETE Samaritá que operava por batelada no mesmo período supracitado, de maior redução de Coliformes Fecais, deveria ter um maior tempo de aeração visando à redução da matéria orgânica.
2014
A pesca artesanal é uma das principais atividades econômicas de comunidades pesqueiras brasileiras e uma importante fonte de proteína animal para muitas famílias. Essas comunidades que vivem em contato direto com o ambiente natural e que dependem economicamente dos recursos naturais podem fornecer informações importantes para o delineamento de propostas de conservação e manejo que visem à sustentabilidade. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi caracterizar a pesca artesanal, os aspectos socioeconômicos e o conhecimento ecológico local sobre os peixes dos pescadores artesanais do Arquipélago de Fernando de Noronha. Os dados foram coletados durante o período de agosto de 2013 a fevereiro de 2014, através de entrevistas realizadas com questionários semiestruturados, material fotográfico e a técnica “bola de neve”. Os dados foram analisados qualitativamente e quantitativamente buscando-se representar o consenso entre os informantes para a comparação entre o conhecimento ecológico local e a literatura científica. Foram entrevistados 62 pescadores e os resultados demonstraram que a pesca artesanal ainda é uma atividade bastante praticada tanto como fonte de renda como para consumo próprio, com métodos, estratégias e embarcações artesanais. As espécies mais importantes para pesca foram o xaréu–preto, a cavala e o xixarro. O estudo etnoictiológico (etnotaxonomia e etnoecologia) dos peixes em Fernando de Noronha revelou que os pescadores apresentam padrões de conhecimento local semelhantes aos já registrados em literatura cientifica, como por exemplo, critérios morfológicos para a nomenclatura dos peixes. A comparação com a literatura científica sobre dieta dos peixes e sobre os predadores das espécies estudadas demonstrou um amplo e detalhado conhecimento dos pescadores, muitas vezes com informações não muito discutidas pela literatura. As informações do conhecimento local sobre abundância e profundidade de captura das espécies estudadas podem ser úteis para estudos sobre caracterização das espécies de peixes que ocorrem na região. Apesar da influência do turismo na vida dos pescadores artesanais, a pesca ainda é uma atividade muito praticada. A análise do conhecimento ecológico local dos pescadores proporciona a valorização da cultura pesqueira, além de, fornecer informações úteis capazes de auxiliar na definição de medidas de manejo da pesca.
Alelopatia pode ser definida como a capacidade de um organismo de produzir substâncias químicas que influenciam no crescimento e/ou desenvolvimento de outras espécies. Terminalia catappa L. é uma espécie asiática que se tornou invasora na América do Sul e que, recentemente, passou a invadir as restingas do estado de São Paulo. A restinga desempenha um papel fundamental na estabilidade de dunas e biodiversidade; trata-se de um ecossistema altamente sensível e muito impactado no Brasil, que sofre alta especulação imobiliária, devido à localização privilegiada ou ainda a invasão de espécies exóticas. O objetivo deste trabalho foi investigar o possível efeito alelopático causado por T. catappa em duas espécies nativas da restinga, com intuito de fornecer subsídios para futuras ações de conservação e resiliência deste ecossistema. Para tal, foram elaborados experimentos de germinação de sementes de duas espécies nativas da vegetação da fisionomia de Escrube: Clusia criuva Cambess. e Tibouchina clavata (Pers.) Wurdack. da Restinga de Itaguaré, em Bertioga, SP, sob influência de diferentes concentrações do extrato de T. catappa. Foi elaborado um extrato a partir das folhas secas e trituradas desta espécie. levadas ao percolador e ao rotaevaporador. O liquido extrator foi partido em três frações com diferentes polaridades. A fração aquosa foi a mais indicada para este experimento. Para análise fitoquímica qualitativa foram adicionados a fração aquosa, os reagentes Stiasny, Cloreto Férrico e Acetato de Chumbo. A análise quantitativa do teor nos fenóis totais presentes nas amostras foi realizada por espectroscopia na região do visível com o método de Folin–Ciocalteu. Na segunda etapa, a biológica, as sementes foram alocadas sobre discos de papel-filtro em placas de Petri, contendo 5 mL de solução com quatro repetições para cada concentração (250, 500 e 1.000 mg/L-1). Nas placas controle, livre de extrato, foi adicionada água destilada. As placas foram alocadas em câmara de germinação com foto-período controlado de 12 horas e 25o C e regadas regularmente com água destilada. A observação foi feita por quatro semanas consecutivas. Foram consideradas germinadas as sementes com crescimento radicular a partir de 2 mm de comprimento. O experimento foi considerado como concluído após 28 dias a partir da data da semeadura. As análises fitoquímicas da FrAq qualitativas mostraram a presença de ácido gálico e as análises cromatográficas demonstram positividade para compostos fenólicos da classe dos taninos derivados do ácido gálico. Nos bioensaios de germinação, as placas que continham FrAq do extrato apresentaram menores porcentagem, tempo médio e velocidade de germinação, em comparação com as placas controle, comprovando o efeito alelopático sobre as duas espécies nativas. A comparação do tamanho da radícula entre sementes germinadas do grupo controle e as expostas a FrAq, mostrou também inibição no crescimento da radícula.
O presente estudo teve como propósito avaliação da atividade antifúngica de quatro diferentes concentrações da Fração Acetato de Etila (FrAcOH) obtida a partir das folhas de Terminalia catappa. Os resultados apontam atividade contra Candida albicans tendo inibição de 43,76%, 83,67% e 100% nas concentrações de 2,5; 5,0 e 10 mg/mL, respectivamente. Dados fitoquímicos apontam em cromatografia em camada delgada a presença do composto fenólico ácido gálico. Ensaios quantitativos através do método de Folin relatam em FrAcOH concentração de 42,1 mg de compostos fenólicos expressos na forma de ácido gálico, sendo este considerado marcador referência. Ensaios antioxidantes reforçam a presença do referido composto químico e fortalecem mecanismo de ação antifúngico vinculado à estrutura química de substâncias com propriedades antioxidantes. Dados ecotoxicológicos apontam valores de CEO = 3,125 mg/L; CENO < 3,125 mg/L e CE50 = 31,1933 mg/L. Tais dados apontam que FrAcOH é considerada como nociva ao meio ambiente segundo diretiva 93/67/EEC. No entanto, quando comparados valores de Kow de ácido gálico presente em FrAcOH em relação aos antifúngicos da classe dos Azólicos há hipótese de menor risco de danos ao meio ambiente em virtude do ácido gálico apresentar menor valor de Kow em comparação a tais fármacos já disponíveis no mercado farmacêutico. Conclui-se que FrAcOH apresenta atividade antifúngica contra Candida albicans tendo o ácido gálico como marcador químico referência. Valores comparativos de Kow apontam que FrAcOH se trata de proposta terapêutica de menor risco ambiental em comparação aos fármacos disponíveis no mercado farmacêutico.
Os fármacos anti-hipertensivos são amplamente utilizados no mundo todo. Há evidências da ocorrência de compostos como o Losartan e o Valsartan em matrizes ambientais e nos efluentes domésticos. Diante deste contexto, este estudo avaliou os efeitos biológicos agudos e crônicos dos fármacos Losartan e Valsartan por meio de ensaios de toxicidade com ouriço-do-mar Lytechinus variegatus. Os ensaios agudos foram realizados de acordo com o protocolo da USEPA (2002). O Losartan apresentou o valor da concentração de inibição (CI50) média estimada de 292,93 mg.L-1 , podendo ser classificado como “Não Tóxico” pela diretiva 93/67/CEE (Comunidade Econômica Europeia), que classifica substâncias de acordo com os resultados pontuais de toxicidade. Os valores encontrados para os efeitos agudos para o fármaco Valsartan encontraram-se acima de 100mg.L-1 , podendo este também classificado como “Não Tóxico” pela diretiva 93/67/CEE..Os ensaios crônicos foram realizados de acordo com a norma ABNT NBR 15350 (2012) e revelaram os valores médios de CENO (Concentração de Efeito Não Observado) de 50 mg.L-1 e CEO (Concentração de Efeito Observado) de 70 mg.L-1 para o Losartan e valores médios de CENO de 9,37 mg.L-1 e CEO de 18,75 mg.L-1 para o Valsartan, diferenças que poderiam ser justificadas pelos valores de coeficiente de partição Kow destas moléculas. Os valores médios estimados de CI50 para o Losartan e o Valsartan, no ensaio de toxicidade crônica, foram 98,94 mg.L-1 e 18,22 mg.L-1 podendo ser classificados como “Nocivos”, pela diretiva 93/67/CEE. É improvável a ocorrência de efeitos adversos agudos e crônicos destes fármacos no ambiente aquático marinho, pois as concentrações de efeitos são superiores às concentrações já relatadas em ambiente aquático. No entanto, novos estudos que visam à análise dos efeitos dos metabólitos e as concentrações ambientais de ambos os fármacos assim como a investigação dos mecanismos de toxicidade são necessários para um melhor entendimento da dinâmica destes compostos em ecossistemas aquáticos.
O sistema de drenagem continental do litoral paulista representa uma importante interface entre o continente e o oceano, onde interagem ambientes terrestres, atmosféricos e marinhos. Historicamente, ao longo de sua costa, se deu a formação do próprio território brasileiro, onde atualmente se localizam importantes cidades que, em sua trajetória de expansão, avançaram sobre o bioma da mata atlântica, convertendo áreas naturais em espaço urbano de forma sistemática. O tecido urbano resultante desse modelo de ocupação desconsidera a estrutura e o funcionamento da paisagem, em especial no que tange a bacia hidrográfica, que tem seus cursos d'água canalizados e retificados para a implantação do sistema viário urbano, alterando assim a dinâmica natural de fluxos de energia e matéria que abastecem diferentes ecossistemas associados à paisagem. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi o de quantificar a ocorrência de pontos de conflito entre os sistemas viário e hidrográfico em uma escala temporal de sessenta e sete anos (1947 a 2014), propor um modelo alternativo de expansão urbana e analisar sua eficácia na manutenção do funcionamento da paisagem de acordo com critérios da Ecologia da Paisagem e da literatura da conservação. Para isso, foi definida uma área de estudo no município de Itanhaém e através da sobreposição da malha urbana e da bacia hidrográfica foi possível identificar e quantificar pontos de conflito nos cruzamentos entre ruas e rios, que no período analisado apresentaram um aumento de ocorrência de 3 pontos em 1947 para 243 em 2014, sendo os períodos mais críticos de aumento identificados nos anos de 1956, 1968 e 1980. A partir deste resultado, foi proposto um modelo alternativo que considerou o funcionamento e a conectividade da paisagem, onde foram mapeadas faixas de proteção ao longo dos cursos d'águas, definindo corredores ecológicos conectados a uma Matriz de vegetação próxima a Serra do Mar. As áreas passíveis de ocupação antrópica e de preservação, foram posteriormente analisadas através de métricas da paisagem, revelando a eficácia do modelo proposto na manutenção do funcionamento da paisagem sem a ocorrência de novos pontos de conflito.
A ausência de estações de tratamento de esgotos em diversas regiões estuarinas brasileiras é um agravante à deterioração dessas águas. Despejos de esgotos brutos são lançados na região à montante do Rio Crumaú, onde também existe um aterro sanitário. Por outro lado, o mangue nas adjacências do Rio Maratuã encontra-se em um bom estado de preservação. O objetivo do presente estudo é analisar a qualidade da água superficial desses rios, através de parâmetros físicos, microbiológicos, químicos e físico-químicos. Foram definidas duas estações oceanográficas na porção terminal dos rios e outra à montante do Rio Crumaú, próxima às fontes poluidoras de esgotos. Oxigênio dissolvido, temperatura, salinidade, nível d’água e velocidade de corrente foram medidos em campo. Em laboratório foram determinados, pH, sólidos (totais, orgânicos e inorgânicos), coliformes (totais e Escherichia coli), amônia e nutrientes (silicato, ortofosfato, nitrato, nitrito e amônio). A dinâmica de nutrientes e matéria orgânica durante o período chuvoso foi caracterizada por processos fluviais, demonstrando acentuada exportação de suas águas para o Canal de Bertioga. No período seco a transformação da matéria orgânica ocorreu de forma mais intensa no interior dos rios devido ao maior tempo de residência da água. As áreas desmatadas nas adjacências do Rio Crumaú proporcionaram elevadas concentrações de silicato dissolvido no período chuvoso. O estado saudável de manguezais nas margens do Rio Maratuã proporcionou maior concentração de matéria orgânica particulada, sugerindo que manguezais preservados contribuem por maiores percentuais de carbono refratário no meio aquático. A baixa circulação do local, os baixos teores de oxigênio dissolvido e as elevadas concentrações de N-amoniacal nas águas superficiais à montante do Rio Crumaú demonstraram que o local atingiu um estágio avançado de deterioração pós eutrofização, indicando um ambiente com características redutoras que tende a levar o ambiente a condições anóxica de difícil recuperação.
O presente estudo é dirigido a uma visão voltada à necessidade de um jornalismo analítico do tema meio ambiente para alertar sobre o aquecimento global, e novos padrões de vida e consumo em função da preservação da natureza. A pesquisa foi realizada em emissoras de rádio de São Paulo como CBN, Eldorado, Estadão, Cultura Brasil, Cultura FM, Jovem Pan AM e Pan FM, e o noticiário A Voz do Brasil foi inserido nesta amostra por ocupar de segunda a sexta-feira, o dial das emissoras do país. Optou-se por pesquisar a programação de junho de 2009 até maio de 2014, com base na inserção de boletins, programas ou programetes de temática das questões ambientais em emissoras de jornalismo all news e em emissoras musicais com intervenções jornalísticas. Refletiu-se sobre o papel dos jornalistas neste contexto para conscientização dos ouvintes quanto à importância da preservação da natureza para uma vida mais equilibrada e saudável no presente e ainda para poupar a diversidade às futuras gerações. Uma das condições para que isso aconteça é que o assunto faça parte do cotidiano da mídia de maneira aprofundada. Foram entrevistados especialistas no assunto, gerentes de jornalismo, produtores de programas, além de diretores ou coordenadores de faculdades para compreensão da postura dos profissionais da mídia diante de fatos relacionados ao meio ambiente e que resultaram também em um exame da importância da educação neste contexto. Elaborou-se um histórico das emissoras selecionadas e dos programas ou boletins voltados à Ecologia e transmitidos nessas rádios com uma avaliação crítica das principais questões do assunto.
2012
Introdução: A visão atual para a sobrevivência na Terra indica a necessidade da racionalização no uso dos recursos naturais, a redução das contaminações por descartes de poluentes, a recuperação da atmosfera e das biotas. O consenso estabelecido é que esta missão só poderá ser cumprida através da utilização de processos mais limpos, de tecnologias mais desenvolvidas e do reaproveitamento dos resíduos eventualmente gerados. Este estudo visou à utilização do resíduo de bagaço de cana (RBC) para a redução da concentração de corantes em efluentes aquosos. Objetivos: a) Avaliar a capacidade de adsorção do RBC em relação aos corantes vermelho neutro, alaranjado crisoidina e azul de metileno; b) Estudar o efeito das variáveis velocidade de agitação, tempo de contato e concentração de material adsorvente na eficiência do processo; c) Calcular as isotermas e as constantes de adsorção, adotando a classe de melhor adequação para o estudo matemático do processo; d) Comparar o desempenho do RBC ao carvão ativado (adsorvente tradicional) utilizando os corantes já citados. Métodos: Para a realização dos objetivos descritos, foram desenvolvidos métodos para a homogeneização do RBC, eliminação deste adsorvente após a etapa de retirada dos corantes e quantificação da eficiência do processo através de espectroscopia visível, foram adotados os intervalos tempo de contato entre 5 e 60 minutos, quantidade de RBC entre 0,5 e 5,0 g/L e velocidade de agitação entre 40 e 160 rpm. Resultados: Após a otimização dos parâmetros experimentais (tempo de adsorção 20 minutos, concentração do adsorvente 2,0 g/L e velocidade de agitação 100 rpm), foram obtidas as eficiências de adsorção iguais a 75,49 % para o vermelho neutro, 75,24 % para o alaranjado crisoidina e 80,3 % para o azul de metileno. Conclusões: após os testes efetuados, foi possível concluir que o RBC apresentou resultados promissores para corantes catiônicos em meio aquoso, podendo ser uma alternativa viável sob os pontos de vista técnicos e econômicos para a redução destes poluentes.
A Agenda 21 é um documento que dentro de suas ações, prevê atividades educacionais ligadas ao ambiente para promover a sustentabilidade em diferentes aspectos da sociedade. Nesse pensamento, as atividades ligadas a áreas degradadas com comunidades que apresentam problemas que provocam essa degradação, ou que estão relacionados a ela, são as mais necessitadas de intervenção. Este trabalho realizou um estudo sobre o rio Lenheiros, um curso d’água fortemente antropizado localizado em Santos-SP, no período de julho de 2011 até fevereiro de 2012 visando caracterizar a situação ecológica do corpo d’ água e promover ações de educação ambiental com alunos da Escola Estadual Padre Bartolomeu de Gusmão que funciona nas proximidades do local. Um grupo de 45 alunos, participantes do programa “Escola da Família”, foi submetido à avaliação da percepção ambiental que os mesmos possuíam sobre a qualidade deste corpo d´água, a partir da análise de questionário sobre o ambiente de estudo antes da realização das coletas e após as análises de água. Dez alunos deram prosseguimento a atividades de educação ambiental e realizaram outras atividades práticas com novas análises da água do rio, além de uma caracterização da flora ficológica e de plantas aquáticas da borda do rio. Os resultados da qualidade da água, especificamente na região central do Rio Lenheiros, em cuja borda é encontrada sub-moradias de um abairramento não autorizado, apresentou alta concentração de amônia tóxica, baixa concentração de oxigênio e pH ácido, que mostra indícios de ambiente contaminado por esgoto doméstico. Verificou-se ao longo do estudo uma grande sensibilização dos alunos participantes, que acompanharam todas as etapas do processo de educação ambiental. Esta sensibilização esteve associada às atividades práticas de educação ambiental que mostraram a contaminação vinculada às atividades humanas, e a situação de favelização da comunidade que cerca o rio. Constatamos no estudo que a Educação Ambiental, apenas como transferência de informação para alunos que não participaram intensamente das atividades de campo, trouxe benefícios relativamente menos perceptíveis para a disseminação do conceito de preservação. Podemos concluir que o processo de educação ambiental na região feito de modo predominantemente prático, atinge os alunos de forma mais efetiva e com maiores possibilidades que eles se tornem protagonistas de ações viáveis às mudanças na condição ambiental do lugar.
Manguezais são ecossistemas costeiros que, embora protegidos por lei e considerados como áreas de preservação permanente (APP), sofrem efeitos degradantes causados por pressões antrópicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do processo de regeneração natural e do plantio direto da espécie Laguncularia racemosa como método de recomposição de um manguezal aterrado no Rio Boturoca, em São Vicente (SP), no período de maio/2011 a maio/2012, após a retirada de um aterro. Uma área de 144 m² foi dividida em parcelas, subdivididas em quadrados, os quais foram sorteados a fim de se monitorar o crescimento de indivíduos de L. racemosa em regeneração, bem como o de mudas juvenis transplantadas da área do entorno e de plântulas transplantadas da própria área de amostragem. Para tanto, foram medidos: altura, número de folhas e diâmetro à altura da base (DAB). Os indivíduos em regeneração natural apresentaram uma taxa de crescimento médio em altura de 5,9 cm.mês-1; o número de folhas aumentou 7,5 vezes; o crescimento médio do DAB foi 1,1 mm.mês-1; e a sobrevivência foi de 100%. Os juvenis transplantados apresentaram uma taxa de crescimento médio em altura de 5,4 cm.mês-1; o aumento em folhas foi de 8,5 vezes no período; e a taxa de sobrevivência foi de 67,5%. As plântulas transplantadas tiveram taxa aumento médio em altura de 4,8 cm.mês-1; o aumento em folhas foi de 12,5 vezes no período; e 1,2 mm.mês-1 em DAB; a taxa de sobrevivência foi de 100%. O plantio direto de indivíduos juvenis foi bem sucedido e as perdas ocorreram nas parcelas próximas à região sombreada do manguezal vizinho. Laguncularia racemosa parece ser a espécie melhor adaptada a iniciar uma sucessão secundária em manguezais impactados nas condições de regeneração após sofrer um aterro. A retirada do aterro contribuiu para a capacidade de regeneração do manguezal. A diferença de cotas no terreno foi um fator preponderante para o estabelecimento de propágulos. A presença de mecanismos naturais de recrutamento, tais como fontes de propágulos, possibilitaram o sucesso do processo regenerativo do manguezal do rio Boturoca.
O que nossos ex-alunos dizem sobre nós
“Sem sombra de dúvidas, a Unisanta é um ótimo local para desenvolver pesquisas e também para se conectar com a indústria. Afinal, eu trabalho em uma operadora de petróleo, e a junção das necessidades da indústria com o desenvolvimento acadêmico é uma força da Unisanta. ”

“Eu tive a Unisanta ao meu lado durante todo o percurso, sempre me ajudando, junto com os laboratórios, que têm diversos projetos e profissionais aptos que me auxiliaram em todo o processo. Recomendo a todos este programa da universidade. ”

“Minha pesquisa só foi possível graças ao apoio de todo o corpo docente da Universidade Santa Cecília, a quem rendo minhas homenagens. Foi uma honra ser aluno desta instituição e, sempre que possível, retornarei às cadeiras acadêmicas para continuar aprendendo com os professores e colegas de curso. ”

“A Unisanta me ajudou muito. Os professores foram fantásticos, e aprendi muitas coisas aqui. Só tenho a agradecer muito pelo conhecimento que eu pude adquirir. ”

“Sou realmente muito grato à Unisanta, à minha orientadora e a todos que contribuíram para a riqueza deste momento. Estou muito feliz. ”

Estágio de Docência
O estágio de docência no mestrado da Universidade Santa Cecilia permite aos alunos vivenciarem a prática docente no ensino superior, auxiliando em disciplinas da graduação sob supervisão. Essa experiência desenvolve habilidades pedagógicas e aprimora a comunicação, preparando-os para a carreira acadêmica.
Manual de Estágio Supervisionado de Docência dos Cursos de Pós-Graduação stricto sensu UNISANTA
Requerimento à Comissão de Estágio Supervisionado de Docência para Realização de Estágio Supervisionado de Docência do Curso de Pós-Graduação stricto sensu
Plano de Atividades do Estágio Supervisionado de Docência
Relatório de Estágio Supervisionado de Docência
Bolsas
O PROSUP é gerido pela Comissão de Bolsas, formada pelo coordenador do curso, um presidente, dois membros docentes e dois representantes discentes.
Cabe à Comissão de Bolsas a gestão das bolsas CAPES, o desenvolvimento de processos seletivos para a concessão das bolsas, bem como, o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos bolsistas durante o curso e vigência da bolsa.
CONTATO
Pós Graduação Stricto sensu UNISANTA
Cesário Mota, 08 – Bloco C, Sala C-28– 2º Andar
(13) 3202-7100 ramal 7259
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h
Email: comissaobolsasmestrado@unisanta.br
Retificação do edital 01/2025 Pós-doutorado; alteração do cronograma
Resultado edital 01/2025 Pós-doutorado
Inscrições prorrogadas até 03/08/25
Resultado edital 04/2024 pós-doutorado
Resultado edital 03/2024 pós-doutorado
Ficha de inscrição bolsa Capes
Instrução normativa PPG-EcoMar
Os auxílios para pagamentos das taxas escolares descritos no Ofício nº 276/2022-CPG/CGSI/DPB/CAPES e publicados no Art. 3º da Portaria nº 73, de 6 de abril de 2022, foram distribuídos igualitariamente entre os 3 (três) Programas de Pós-graduação acadêmicos da Universidade Santa Cecília – UNISANTA, sendo eles:
PPG em Sustentabilidade de Ecossistemas Costeiros e Marinhos;
PPG em Ciência e Tecnologia Ambiental;
PPG em Direito da Saúde: Dimensões Individuais e Coletivas.
Regimento
Área de Concentração:
Sustentabilidade de Ecossistemas Costeiros e Marinhos
Título Concedido:
Mestre em Ecologia
Doutor em Ecologia
O Regimento do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade de Ecossistemas Costeiros e Marinhos (PPG-ECOMAR) estabelece as regras básicas de operação dos possíveis cursos que podem ser oferecidos dentro do Programa, isto é: Mestrado e Doutorado em Ecologia. O curso de Mestrado deverá ser integralizado em, no mínimo, 12 meses e, no máximo, 24 meses. Para a obtenção do Título de Mestre, o aluno deverá perfazer um total de 50 créditos, sendo 35 créditos obtidos em disciplinas e publicações e 15 créditos relativos à aprovação da apresentação da dissertação de Mestrado. O curso de Doutorado do PPG-ECOMAR deverá ser integralizado em, no mínimo, 24 meses e, no máximo, em 48 meses.
Para a obtenção do Título de Doutor, o aluno deverá perfazer um total de 100 créditos, sendo 35 créditos obtidos em disciplinas e publicações, 15 créditos relativos à aprovação da Tese de Doutorado e 50 créditos relativos ao título de Mestre, obtidos em um Programa recomendado pela CAPES.
Além disso, o aluno necessita de aprovação no Exame de Qualificação, no Exame de Suficiência em Língua Estrangeira: um idioma estrangeiro no caso de Mestrado e dois idiomas no caso de Doutorado, e ter publicado artigo científico do tema de sua dissertação. Os Exames de Suficiência em Línguas deverão ser realizados no primeiro ano de curso. São obrigatórias as disciplinas de formação básica. A complementação dos créditos é realizada pelo aluno que deverá selecionar, entre as disciplinas eletivas oferecidas, aquelas que estejam diretamente relacionadas ao seu tema de dissertação ou tese. Em todos os níveis, Mestrado ou Doutorado, é admitida a obtenção de créditos por trabalhos científicos aceitos para publicação em revistas de importância na área de ecologia.
Links
PERIODICOS UNISANTA
EXTENSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA PÓS-GRADUAÇÃO (PROEXT-PG)
EVENTOS
BENEFÍCIOS
CERTIFICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS
As certificações intermediárias são oferecidas para todos os alunos dos últimos anos dos cursos de graduação e para profissionais já graduados que pretendam melhorar seus currículos. São disciplinas de conclusão rápida, em média com duração de 60 dias, presencial remoto e presencial. Temos disponíveis várias disciplinas distribuídas nas mais diversas áreas do conhecimento.
Cada disciplina fornecerá um Certificado de Conclusão com a carga horária e aproveitamento do aluno. As disciplinas de extensão universitária são oferecidas no início de cada trimestre do ano: fevereiro, maio, agosto e outubro e com carga horária de 15, 30 ou 45 horas/aula, correspondendo a 1, 2 ou 3 créditos. O valor de cada crédito é R$ 400,00.
Formato presencial/ híbrido – Todas as aulas e atividades são realizadas de forma presencial, mas podem ser assistidas on-line (ao vivo), o que proporciona aos estudantes flexibilidade e interatividade. Essa modalidade permite que os alunos acessem conteúdo de alta qualidade de qualquer lugar e participem de debates e troca de ideias em tempo real, com orientação e feedback imediatos dos professores.
Relação de Disciplinas (Hibridas/Presenciais) oferecidas – 2025
ANAIS DE ENPG
Anais do I Encontro Nacional de Pós-Graduação
Anais do II Encontro Nacional de Pós-Graduação
Anais do III Encontro Nacional de Pós-Graduação
Anais do IV Encontro Nacional de Pós-Graduação
Anais do VI Encontro Nacional de Pós-Graduação
Anais do VII Encontro Nacional de Pós-Graduação
Anais do VIII Encontro Nacional de Pós-Graduação
FORMULÁRIOS E MODELOS DE DISSERTAÇÃO
Defesa - Formulário para Solicitação de Agendamento de Defesa de Pós-Graduação stricto sensu
Defesa - Roteiro para agendamento da apresentação final de mestrado
Defesa - Termo de Homologação de Convidado Externo
Modelo Dissertação
Orientações para a solicitação da Ficha Catalográfica
Qualificação - Formulário para Solicitação de Agendamento de Exame de Qualificação de Pós-Graduação stricto sensu
Qualificação - Roteiro para agendamento de exame qualificação de mestrado
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Planejamento Estratégico (PE) do Programa de Pós-graduação em Sustentabilidade de Ecossistemas Costeiros e Marinhos – PPG-EcoMar, da Universidade Santa Cecilia (UNISANTA).
O PE resulta de análises e reflexões realizadas a partir da implementação do processo de autoavaliação do PPG, alinhadas às vocações da IES. O documento foi construído adotando-se as ações previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional/PDI (2019-2023), no Projeto Político-Pedagógico Institucional/PPPI e no Plano Nacional da Pós-Graduação/PNPG (2011-2020).
O PE objetiva superar as fragilidades apontadas nas avaliações Quadrienais 2017 e 2021, além de fortalecer os pontos positivos do PPG-EcoMar nas avaliações citadas. Neste documento foram destacados: i) os objetivos; ii) as metas; e iii) as ações, tendo como base as métricas ‘Programa’, ‘Formação’ e ‘Impacto na Sociedade’.
Planejamento Estratégico 2021 - 2024
Strategic Planning 2021 - 2024
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
FONTES DE CONSULTA PARA PESQUISA
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico)
FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo)
FIFO (Fisheries and Food Institute)
MACOMA. Erasmus Mundus Ph. D. in Marine and Coastal Management
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - Bolsa Mestrado
Unisanta BioScience
Unisanta BioScience - Volume 1 - nº. 1
Unisanta BioScience - Volume 1 - nº. 2
Unisanta Science and Technology
Unisanta Science and Technology - Volume 1 - nº. 1
Unisanta Science and Technology - Volume 1 - nº. 2
CONTATO
Universidade Santa Cecília – UNISANTA
Cesário Mota, 08 – Bloco F, Sala F-81– 8º Andar
CEP 11045-040
Tel: (13) 3202-7100 ramal 7259
E-mail: strictosensu@unisanta.br